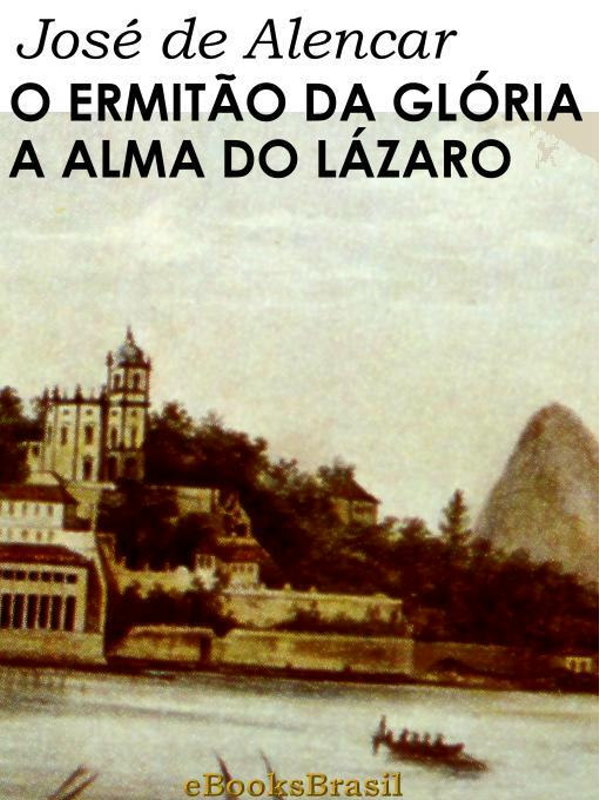O Ermitão da Glória * A Alma do Lázaro
José de Alencar
Versão para eBook
eBooksBrasil
Fonte Digital
Digitalização de edição em papel
Clube do Livro, 1953
© 2002 — José de Alencar
ÍNDICE
Ao Leitor
O ERMITÃO DA GLÓRIA
I. Ao Corso
II. Último Páreo
III. A Balandra
IV. A Canoa
V. O Combate
VI. A Órfã
VII. O Batismo
VIII. A Volta
IX. Pecado
X. O Voto
XI. Novena
XII. O Milagre
XIII. Ao Mar
XIV. A Volta
XV. O Noivo
XVI. A Boda
XVII. O Ermitão
XVIII. O Mendigo
XIX. A Penitência
Epílogo
Advertência
A ALMA DO LÁZARO
Primeira Parte
A Alma Penada
II
III
IV
Segunda Parte
O Diário - 1752
O Ermitão da Glória
*
A Alma do Lázaro
![[imagem]](imagens/ermitaob1.jpg)
José de Alencar
AO LEITOR
São de outro tom os singelos contos que formam este segundo volume dos Alfarrábios.
Não convidam ao riso, que tão excelente especiaria é para um livro de entreter. Bem longe disso, talvez que espremam dos corações mais ternos e sentimentais uns fios de lágrimas.
Caso assim aconteça, será com bem pesar meu, pois, sinceramente, acho de mau gosto lembrar-se alguém de produzir choros d’artifício, à guisa de fogos de vista, quando não faltam motivos reais de tristeza e aflição.
Prometo, porém, desde já em expiação deste pecado literário, que o terceiro volume dos Alfarrábios irá mais brincalhão do que o primeiro.
J. DE ALENCAR
O ERMITÃO
DA
GLÓRIA
*
L E N D A
I
AO CORSO
Caía a tarde.
A borrasca, tangida pelo nordeste, desdobrava sobre o oceano o manto bronzeado.
Com a sombra, que projetavam os negros castelos de nuvens, carregava-se o torvo aspecto da costa.
As ilhas que bordam esse vasto seio de mar, entre a Ponta dos Búzios e Cabo Frio, confundiam-se com a terra firme, e pareciam apenas saliências dos rochedos.
Nas águas da Ilha dos Papagaios, balouçava-se um barco de borda rasa e um só mastro, tão cosido à terra, que o olhar do mais prático marinheiro não o distinguiria a meia milha de distância entre as fraguras do penedo e o farelhão dos abrolhos.
Pelas amuradas e convés do barco, viam-se recostados ou estendidos de bruços, cerca de dez marujos, que passavam o tempo a galhofar, molhando a palavra em um garrafão de boa cachaça de São Gonçalo, cada um quando chegava a sua vez.
Na tilha, sobre alva esteira de coco, estava sentada uma linda morena, de olhos e cabelos negros, com uma boca cheia de sorrisos e feitiços.
Tinha ao colo a bela cabeça de um rapaz, deitado sobre a esteira, numa posição indolente, e com os olhos cerrados, como adormecido.
De momento a momento, a rapariga debruçava-se para pousar um beijo em cheio nos lábios da moço, que entreabria as pálpebras e recebia a carícia com um modo, que revelava quanto já se tinha saciado na ternura da meiga cachopa.
— Acorde, preguiçoso! dizia esta, galanteando.
— Teus beijos embriagam, amor! Não o sabias? respondeu o moço fechando os olhos.
Nesse instante, um homem, que descera a abrupta encosta do rochedo com extrema agilidade, tirou-se à ponta da verga, e travando de uma driça, deixou-se escorregar até o convés.
O desconhecido, que assim chegava de modo tão singular, era já bem entrado em anos, pois tinha a cabeça branca e o rosto cosido de rugas; mas conservara a elasticidade e nervos da idade viril.
Com a arfagem que o movimento do velho imprimiu ao navio, sobressaltou-se toda a maruja; e o moço, que estava deitado na esteira, ergueu-se de golpe, como se o tocara oculta mola.
Nesse mancebo resoluto, de nobre e altivo parecer, que volvia em torno um olhar sobranceiro, ninguém por certo reconheceria o indolente rapaz que dormitava pouco antes no colo de uma mulher.
Na postura do moço, não havia a menor sombra de temor nem de surpresa, mas somente a investigação rápida e o arrojo de uma natureza ardente, pronta a afrontar o perigo em toda ocasião.
Do primeiro lanço, viu o velho que para ele caminhava:
— Então, Bruno?
— Aí os temos, senhor Aires de Lucena; é só fisgar-lhe os arpéus. Uma escuna de truz!
— Uma escuna?... Bravo, homem! E dize-me cá, são flamengos ou ingleses?
— Pelo jeito, tenho que são os malditos franceses.
— Melhor; os franceses passam por bravos, entre os mais, e cavalheiros! A termos de acabar, mais vale que seja a mãos honradas, meu velho.
A esse tempo, já a maruja toda a postos esperava as ordens do capitão para manobrar. Aires voltou-se para a rapariga:
— Adeus, amor; talvez nunca mais nos avistemos neste mundo. Fica certa, porém, que levo comigo duas horas de felicidade bebidas em teus olhos.
Cingindo o talhe da rapariga debulhada em lágrimas, deu-lhe um beijo, e despediu-a, atando-lhe ao braço uma fina cadeia de ouro, sua derradeira jóia.
Instantes depois, uma canoinha de pescador afastava-se rapidamente em demanda da terra, impelida a remo pela rapariga.
De pé, no portaló, Aires de Lucena, fazendo à maruja um gesto imperioso, comandou a manobra.
Repetidas as vozes do comando pelo velho Bruno, colocado no castelo de proa, e executada a manobra, as velas desdobraram-se pelo mastro e vergas, e o barco singrou veloz por entre os parcéis.
II
ÚLTIMO PÁREO
— No ano de 1608, em que se passam estas cenas, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro tinha apenas trinta e três anos de existência.
Devia de ser pois uma pequena cidade, decorada com esse pomposo nome desde o primeiro dia de sua fundação por uma traça política de Estácio de Sá, neste ponto imitado pelos governadores do Estado do Brasil.
Aos sagazes políticos, pareceu da maior conveniência semear de cidades, e não de vilas, e menos de aldeias, o mapa de um vasto continente despovoado, que figurava como um dos três Estados da coroa de Sua Majestade Fidelíssima.
Com esse plano, não é de admirar que um renque de palhoças às faldas do Pão de Açúcar se chamasse desde logo cidade de São Sebastião, e fosse dotada com toda a governança devida a essa hierarquia.
Em 1608, ainda a cidade se encolhia na crista e abas do Castelo; mas quem avaliasse da sua importância pela estreiteza da área ocupada não andaria bem avisado.
Estas cidades coloniais, improvisadas em um momento, com uma população adventícia, e alimentadas pela metrópole no interesse da defesa das terras conquistadas, tinham uma vida toda artificial.
Assim, apesar de seus trinta e três anos, que são puerícia para uma vila, quanto mais para uma cidade, já ostentava o Rio de Janeiro o luxo e os vícios que somente se encontram nas velhas cidades, cortesãs eméritas.
Eram numerosas as casas de tavolagem; e nelas, como hoje em dia nos alcáçares, tripudiava a mocidade perdulária, que esbanjava o patrimônio da família ao correr dos dados, ou com festas e banquetes a que presidia a deusa de Cítera.
Entre essa mocidade estouvada, primava pelas extravagâncias, como pela galhardia de cavalheiro, um mancebo de dezoito anos, Aires de Lucena.
Filho de um sargento-mor de batalha, de quem herdara dois anos antes abastados haveres, se atirara à vida de dissipação, dando de mão à profissão de marítimo, a que o destinara o pai e o adestrara desde criança em sua fragata.
Nos dois anos decorridos, foi Aires o herói de todas as aventuras da cidade de São Sebastião.
Ao jogo, os maiores páreos eram sempre os seus; e ganhava-os ou perdia-os com igual serenidade, para não dizer indiferença.
Amores, ninguém os tinha mais arrojados, mais ardentes, e também mais volúveis e inconstantes; dizia-se dele que não amava a mesma mulher três dias seguidos, embora viesse no decurso de muito tempo a amá-la aquele número de vezes.
Ao cabo dos dois anos, achava-se o cavalheiro arruinado, na bolsa e na alma; tinha-as ambas vazias: estava pobre e gasto.
Uma noite, meteu na algibeira um punhado de jóias e pedrarias que lhe restavam de melhores tempos, e foi-se à casa de um usurário. Apenas escapou a cadeia de ouro, que tinha ao pescoço e de que não se apercebeu.
Com o dinheiro que obteve do judeu se dirigiu à tavolagem resolvido a decidir de seu destino. Ou ganharia para refazer a perdida abastança, ou empenharia na última cartada os destroços de um patrimônio e uma vida malbarateados.
Perdeu.
Toda a noite passara-a na febre do jogo; ao raiar da alvorada, saiu da espelunca e caminhando à-toa, foi ter à Ribeira do Carmo.
Levava-o ali o desejo de beber a fresca viração do mar, e também a vaga esperança de encontrar um meio de acabar com a existência.
Naquele tempo, não se usavam os estúpidos suicídios que estão hoje em voga: ninguém se matava com morfina ou massa de fósforo, nem descarregava em si um revólver.
Puxava-se um desafio ou entrava-se em alguma empresa arriscada, com o firme propósito de dar cabo de si; e morria-se combatendo, como era timbre de cavalheiro.
III
A BALANDRA
Embora expulsos das terras da Guanabara, e destruída a nascente colônia, não desistiram os franceses do intento de se assenhorearem de novo da magnífica baía, onde outrora campeara o forte Coligny.
Esperando azo de tentar a empresa, continuavam no tráfego do pau-brasil, que vinham carregar em Cabo Frio, onde o trocavam com os índios por avelórios, utênsis de ferro e mantas listradas.
Havia naquela paragem uma espécie de feitoria dos franceses, que facilitava esse contrabando e mantinha a antiga aliança dos tamoios com os guaraciabas, ou guerreiros de cabelos do sol.
A metrópole incomodava-se com a audácia desses corsários, que chegaram algumas vezes a penetrar pela baía a dentro e bombardear o coração da cidade.
Bem longe, porém, de prover de um modo eficaz à defensão de suas colônias, tinha por sistema deixar-lhes esse encargo, apesar de estar constantemente a sugar-lhes o melhor da seiva em subsídios e fintas de toda casta.
Baldos de meios para expurgarem a costa da cáfila de piratas, os governadores do Rio de Janeiro, de tempos em tempos, quando crescia a audácia dos pichelingues a ponto de ameaçarem os estabelecimentos portugueses, arranjavam com os minguados recursos da terra alguma expedição, que saía a desalojar os franceses.
Mas estes voltavam, trazidos pela cobiça, e após eles os flamengos e os ingleses, que também queriam seu quinhão e o tomavam sem a menor cerimônia, arrebatando a presa ao que não tinha forças para disputá-la.
Felizmente, a necessidade da defesa e o incentivo do ganho tinham despertado também o gênio aventureiro dos colonos. Muitos marítimos armaram-se para o corso e empregaram-se por conta própria no cruzeiro da costa.
Fazendo presa nos navios estrangeiros,sobretudo quando tornavam para Europa, os corsários portugueses lucravam não somente a carregação de pau-brasil, que vendiam no Rio de Janeiro ou Bahia, mas além disso vingavam os brios lusitanos, adquirindo renome pelas façanhas que obravam.
Precisamente ao tempo desta crônica, andavam os mares do Rio de Janeiro muito infestados pelos piratas; e havia na ribeira de São Sebastião a maior atividade em se armarem navios para o corso, e municiarem os que já estavam nesse mister.
Uma lembrança vaga desta circunstância flutuava no espírito de Aires, embotado pela noite de insônia.
Afagava-o a esperança de achar algum navio a sair mar em fora contra os piratas; e estava resolvido a embarcar-se nele para morrer dignamente, como filho que era de um sargento-mor de batalha.
Ao chegar à praia, avistou o cavalheiro um batel que ia atracar. Vinha dentro, além do marinheiro que remava, um mancebo derreado à popa, com a cabeça caída ao peito em uma postura que revelava desânimo. Teria ele vinte e dois anos, e era de nobre parecer.
Logo que abordou em terra o batel, ergueu-se rijo o mancebo e saltou na praia, afastando-se rápido e tão abstrato que abalroaria com Aires, se este não se desviasse pronto.
Vendo que o outro passava sem aperceber-se dele, Aires bateu-lhe no ombro:
— Donde vindes a esta hora, tão pesaroso, Duarte de Morais?
— Aires!... disse o outro reconhecendo o amigo.
— Eu vos contava entre os felizes; mas vejo que também a aventura tem suas névoas.
— E suas noites. A minha creio que de todo escureceu.
— Que falas são estas, homem, que vos desconheço.
Travou Duarte do braço de Aires, e voltando-se para a praia mostrou-lhe um barco fundeado perto da ilha das Cobras.
— Vedes aquele barco? Há três dias que ainda era uma formosa balandra. Nela empreguei todo meu haver para tentar a fortuna do mar. Eis o estado a que a reduziram os temporais e os piratas: é uma carcaça, nada mais.
Aires examinava com atenção a balandra, que estava em grande deterioração. Faltava-lhe o pavês de ré e ao longo dos bordos apareciam largos rombos.
— Esmoreceis com o primeiro revés!
— Que posso eu? Donde tirar o cabedal para os reparos? E devia eu tentar nova empresa, quando a primeira tão mal surtiu-me?
— Que contais então fazer do barco? Vendê-lo, sem dúvida?
— Só para lenha o comprariam no estado em que ficou. Nem vale a pena de pensar nisso; deixá-lo apodrecer aí, que não tardará muito.
— Neste caso, tomo emprestada a balandra, e vou eu à aventura.
— Naquele casco aberto? Mas é uma temeridade, Aires!
— Ide-vos à casa sossegar vossa mulher que deve estar aflita; o resto me pertence. Levai este abraço; talvez não tenha tempo de dar-vos outro cá neste mundo.
Antes que Duarte o pudesse reter, saltou Aires no batel, que singrou para a balandra.
IV
A CANOA
Saltando a bordo, foi Aires recebido ao portaló pela maruja um tanto surpresa da visita.
— Doravante quem manda aqui sou eu, rapazes; e desde já os aviso, que esta mesma tarde, em soprando a viração, fazemo-nos ao largo.
— Com o barco da maneira que está? observou o gajeiro.
Os outros resmungaram aprovando.
— Esperem lá, que ainda não acabei. Esta tarde pois, como dizia, conto ir mar em fora ao encontro do primeiro pichelingue que passar-me por davante. O negócio há de estar quente, prometo-lhes.
— Isso era muito bom, se tivesse a gente navio; mas numa capoeira de galinhas como esta?...
— Ah! não temos navio?... Com a breca! Pois vamos procurá-lo onde se eles tomam!
Entreolhou-se a maruja, um tanto embasbacada daquele desplante.
— Ora bem! continuou Aires. Agora que já sabem o que têm de fazer, cada um que tome o partido que mais lhe aprouver. Se lhe não toa a dança, pode-se ir a terra e deixar o posto a outro mais decidido. Eia, rapazes, avante os que me seguem; o resto toca a safar e sem mais detença, se não mando carga ao mar.
Sem a mais leve sombra de hesitação, dum só e mesmo impulso magnânimo, os rudes marujos deram um passo à frente, com o ar destemido e marcial com que marchariam à abordagem.
— Bravo, rapazes! Podeis contar que os pichelingues levarão desta feita uma famosa lição. Convido-vos a todos para bebermos à nossa vitória, antes da terceira noite, na taberna do Simão Chanfana.
— Viva o capitão!...
— Se lá não nos acharmos nessa noite, é que então estamos livres de uma vez desta praga de viver!...
—É mesmo! É uma canseira! acrescentou um marujo filósofo.
Passou Aires a examinar as avarias da balandra, e embora a achasse bastante deteriorada, contudo não se demoveu por isso de seu propósito. Tratou logo dos reparos, distribuindo a maruja pelas diversos misteres, e tão prontas e acertadas foram suas providências, que poucas horas depois os rombos estavam tapados, o aparelho consertado, os outros estragos atamancados, e o navio em estado de navegar por alguns dias.
Era quanto dele exigia Aires, que o resto confiava à sorte.
Quando levantou-se a viração da tarde, a balandra cobriu-se com todo o pano e singrou barra fora.
Era meio-dia, e os sinos das torres repicavam alegremente. Lembrou-se Aires que estava a 14 de Agosto, véspera da Assunção de Nossa Senhora, e encomendou-se à Virgem Santíssima.
Deste mundo não esperava ele mais coisa alguma para si, além de uma morte gloriosa, que legasse um triunfo à sua pátria. Mas o amigo de infância, Duarte de Morais, estava arruinado, e ele queria restituir-lhe o patrimônio, deixando-lhe em troca do chaveco desmantelado um bom navio.
Há momentos em que o espírito mais indiferente é repassado pela gravidade das circunstâncias. Colocado já no limiar da eternidade, olhando o mundo como uma terra a submergir-se no oceano pela popa de seu navio, Aires absorveu-se naquela cisma religiosa, que balbuciava uma prece, no meio da contrição da alma, crivada pelo pecado.
Uma vez, chegou o mancebo a enclavinhar as mãos, e as ia erguendo no fervor de uma súplica; mas deu cobro de si, e disfarçou com enleio, receoso de que o tivesse percebido a maruja naquela atitude.
Dobrando o Pão de Açúcar, com a proa para o norte, e o vento à bolina, sulcou a balandra ao longo da praia de Copacabana e Gávea. Conhecia Aires perfeitamente toda aquela costa com seus recantos, por tê-la freqüentemente percorrido no navio de seu pai, durante o cruzeiro que este fazia aos pichelingues.
Escolheu posição estratégica em uma aba da Ilha dos Papagaios, onde o encontramos, e colocou o velho gajeiro Bruno de atalaia no píncaro de um rochedo, para lhe dar aviso do primeiro navio que aparecesse.
Se o arrojado mancebo tinha desde o primeiro instante arrebatado a maruja pela sua intrepidez, a presteza e tino com que provera aos reparos da balandra, a segurança de sua manobra por entre os parcéis, e a sagacidade da posição que tomara, haviam inspirado a confiança absoluta, que torna a tripulação um instrumento cego e quase mecânico na mão do comandante.
Enquanto esperava, Aires vira do tombadilho passar uma canoinha de pescador, dirigida por uma formosa rapariga.
— Para aprender o meu novo ofício de corsário vou dar a caça à canoa! exclamou o mancebo a rir. Olá, rapazes!
E saltou no batel, acompanhado por quatro marujos que a um aceno esticaram os remos.
— Com certeza, é espia dos calvinistas! Força, rapazes; carecemos de agarrá-la a todo transe.
Facilmente, foi a canoa alcançada, e trazida a bordo a rapariga, que ainda trêmula de medo, todavia já despregava dos lábios no meio dos requebros vergonhosos um sorriso brejeiro.
Vira ela e ouvira os chupões que lhe atirava à sorrelfa a boca de Aires apinhada à feição de beijo.
— Tocam a descansar, rapazes, e a refrescar. Eu cá vou tripular esta presa, enquanto não capturamos a outra.
Isto disse-o Aires a rir; e os marujos lhe responderam no mesmo tom.
V
O COMBATE
Desabava a tempestade, que desde o transmontar do sol estava iminente sobre a costa.
Passaram algumas lufadas rijas e ardentes: eram as primeiras baforadas da procela. Pouco depois, caiu a refega impetuosa e cavou o mar, levantando enormes vagalhões.
Aires até ali bordejava com os estais e a bujarrona, entre as Ilhas dos Papagaios e a do Breu, mascarando a balandra de modo a não ser vista da escuna, que passava ao largo com as gáveas nos rizes.
Ao cair da refega, porém, mandou Aires soltar todo o pano e meter a proa direita sobre o corsário.
— Cheguem à fala, rapazes, gritou o comandante.
Cercaram-no sem demora os marujos.
— Vamos sobre a escuna com a borrasca, desarvorados por ela, traquete roto e o mais pano a açoitar o mastro. Percebeis?
— Se está claro como o sol!
— Olhai os arpéus, que não nos escape das garras o inimigo. Quanto às armas, aproveitai este aviso de um homem que ele só a dormir entendia mais do ofício, que todos os marítimos do mundo e bem acordados. Para a abordagem, não há como a machadinha; apunhada por um homem destemido, não é arma, senão braço e mão de ferro, que decepa quanto se lhe opõe. Não se carece de mais; um cabide d’armas servirá para a defesa, mas para o ataque, não.
Proferidas estas palavras, tomou Aires a machadinha que lhe fora buscar um grumete e passou-a na cinta sobre a ilharga.
— Alerta, rapazes, que estamos com eles.
Nesse momento, com efeito, a balandra acabando de dobrar a ponta da ilha estava no horizonte da escuna e podia ser avistada a cada instante. À advertência do comandante, os marujos dispersaram-se pelo navio, correndo uns às vergas, outros às enxárcias e escotas de mezena e traquete.
No portaló, Aires comandava uma manobra, que os marinheiros de sobreaviso executavam às avessas; de modo que em poucos momentos farrapos de vela estortegavam como serpentes em fúria, enroscando-se ao mastro; levantava-se de bordo medonha celeuma; e a balandra corria em árvore seca arrebatada pela tempestade.
Da escuna, que singrava airosamente, capeando à refega, viram os franceses de repente cair-lhes sobre como um turbilhão, o barco desarvorado, e orçaram para evitar o abalroamento. Mas de seu lado a balandra carregara, de modo que foi inevitável o choque.
Antes que os franceses se recobrassem do abalo produzido pelo embate, arremessavam-se no tombadilho da escuna doze demônios que abateram quanto se interpunha à sua passagem. Assim varreram o convés de proa a popa.
Só aí encontraram séria resistência. Um mancebo, que pelo traje e aspecto nobre, inculcava ser o comandante da escuna, acabava de subir ao convés e precipitava-se contra os assaltantes, seguido por alguns marinheiros que se haviam refugiado naquele ponto.
Mal avistou o reforço, Aires que debalde buscara com os olhos o comandante francês, pressentiu-o na figura do mancebo, e arrojou-se avante, abrindo caminho com a machadinha.
Foi terrível e encarniçada a luta. Eram para se medirem os dois adversários, na coragem como na destreza. Mas Aires tinha por si a embriaguez do triunfo que obra prodígios, enquanto o francês sentia apagar-se a estrela de sua ventura, e já não combatia senão pela honra e pela vingança.
Recuando ante os golpes da machadinha de Aires, que relampeava como uma chuva de raios, o comandante da escuna, acossado na borda, atirou-se da popa abaixo, mas ainda no ar o alcançara o golpe que lhe decepou o braço direito.
Um grito de desespero estrugiu pelos ares. Soltara-o aquela mulher que lá se arroja para a popa do navio, com os cabelos desgrenhados, e uma linda criança constrangida ao seio num ímpeto de aflição.
Aires recuou tocado de compaixão e respeito.
Ela, que chegara à borda do pavês de ré precisamente quando o mar rasgava os abismos para submergir o esposo, tomou um impulso para arrojar-se após. Mas o pranto da filha a retraiu desse primeiro assomo.
Voltou-se para o navio, e viu Aires a contemplá-la mudo e sombrio; estendeu para ele a criança, e depondo-lha nos braços, desapareceu, tragada pelas ondas.
Os destroços da tripulação da escuna aproveitavam-se da ocasião para atacar à traição Aires, que eles supunham desprecatado; porém, o mancebo, apesar de comovido, percebeu-lhes o intento, e cingindo a criança ao peito com o braço esquerdo, marchou contra os corsários, que buscaram nas vagas, como seu comandante, a última e falaz esperança de salvação.
VI
A ÓRFÃ
No dia seguinte, com a viração da manhã, entrava galhardamente a barra do Rio de Janeiro uma linda escuna, que rasava as ondas como uma gaivota.
Não fora sem razão que o armador francês ao lançar do estaleiro aquele casco bem talhado com o nome de Mouette, lhe pusera na popa a figura do alcíon dos mares, desfraldando as asas.
À popa, na driça da mezena, tremulavam as quinas portuguesas sobre a bandeira francesa arreada a meio e colhida como um troféu.
No seu posto de comando, Aires, embora atento à manobra, não podia de todo arrancar-se aos pensamentos que de tropel lhe invadiam o espírito e o disputavam com irresistível tirania.
Fizera o mancebo uma presa soberba. Além do carregamento de pau-brasil com que sempre contara, e de um excelente navio mui veleiro e de sólida construção, achara a bordo da escuna avultado cabedal em ouro, quinhão que ao capitão francês coubera na presa de um galeão espanhol procedente do México, e tomado em caminho por três corsários.
Achava-se pois Aires de Lucena outra vez rico, e porventura mais do que o fora; deduzida a parte de cada marujo e o preço da balandra, ainda lhe ficavam uns cinqüenta mil cruzados, com os quais podia continuar por muito tempo a existência dissipada que levara até então.
Com a riqueza, voltara-lhe o prazer de viver. Naquele momento, respirava com delícia a frescura da manhã, e seu olhar afagava amorosamente a pequena cidade, derramada pelas encostas e faldas do Castelo.
Apenas fundeou a escuna, largou Aires de bordo, e ganhando a ribeira, dirigiu-se à casa de Duarte de Morais.
Encontrou-o a ele e a mulher à mesa do almoço; alguma tristeza que havia nessa refeição de família, a chegada de Aires a dissipou como por encanto. Era tal a efusão de seu nobre semblante, que do primeiro olhar derramou um doce contentamento nas duas almas desconsoladas.
— Boas-novas, Duarte!
— Não carecia que falásseis, Aires, pois já no-lo tinha dito vosso rosto prazenteiro. Não é, Úrsula?
— Pois não fora?... O senhor Aires vem que é uma páscoa florida.
— E não lhe pareça, que foram páscoas para todos nós.
Referiu o mancebo em termos rápidos e sucintos o que havia feito nos dois últimos dias.
— Aqui está o preço da balandra e vosso quinhão da presa como dono, concluiu Aires deitando sobre a mesa duas bolsas cheias de ouro.
— Mas isto vos pertence, pois é o prêmio de vosso denodo. Eu nada arrisquei senão algumas tábuas velhas, que não valiam uma onça.
— Valiam mil, e a prova é que sem as tábuas velhas, continuaríeis a ser um pobretão, e eu teria a esta hora acabado com o meu fadário, pois já vos disse uma vez: a ampulheta de minha vida é uma bolsa; com a derradeira moeda cairá o último grão de areia.
— Porque vos habituastes à riqueza; mas a mim a pobreza, apesar de sua feia catadura, não me assusta.
— Assusta-me a mim, Duarte de Morais, que não sei que há de ser de nós quando se acabar o resto das economias! acudiu Úrsula.
— Bem vedes, amigo, que não deveis sujeitar a privações a companheira de vossa vida, por um escrúpulo que me ofende. Não quereis reconhecer que esta soma vos é devida, nem me concedeis o direito de obsequiar-vos com ela; pois sou eu que vos quero dever.
— A mim, Aires?
— Faltou-me referir uma circunstância do combate. A mulher do corsário francês arrojou-se ao mar, após o marido, deixando-me nos braços sua filhinha de colo. Roubei a essa inocente criança pai e mãe; quero reparar a orfandade a que voluntariamente a condenei. Se eu não fosse o estragado e perdido que sou, lhe daria meu nome e a minha ternura!... Mas para um dia corar da vergonha de semelhante pai!... Não! Não pode ser!...
— Não exagereis vossos pecados, Aires; foram os ardores da juventude. Aposto eu que já vão arrefecendo, e quando essa criança tornar-se moça, também estareis de todo emendado! Não pensas como eu, Úrsula?
— Eu sei!... Na dúvida não me fiava, acudiu a linda carioca.
— O pai que eu destino a essa criança sois vós, Duarte de Morais, e vossa mulher lhe servirá de mãe. Ela deve ignorar sempre que teve outros, e que fui eu quem lhos roubei. Aceitai, pois, esta menina, e com a fortuna que lhe pertencia. Tereis ânimo de recusar-me este serviço, de que preciso para repouso de minha vida?
— Disponde de nós, Aires, e desta casa.
A um apito de Aires, apareceu o velho Bruno, carregando nos braços como ama seca, a filha do corsário. Era um lindo anjinho louro, de cabelos anelados como os velos do cordeiro, com os olhos azuis e tão grandes, que lhe enchiam o rosto mimoso.
— Oh! que serafim! exclamou Úrsula tomando a criança das mãos rudes e calosas do gajeiro, e cobrindo-a de carícias.
Nessa mesma noite, o velho Bruno por ordem do capitão regalava a marujada na taberna do Simão Chanfana, ao beco da Fidalga.
Aires aí apareceu um momento para trincar uma saúde com os rapazes.
VII
O BATISMO
Domingo seguinte, a bordo da escuna, tudo era festa.
No rico altar, armado à popa com os mais custosos brocados, via-se a figura de Nossa Senhora da Glória, obra de um entalhador de São Sebastião que a esculpira em madeira.
Embora fosse tosco o trabalho, saíra o vulto da Virgem com um aspecto nobre, sobretudo depois que o artífice tinha feito a encarnação e pintura da imagem.
Em frente ao altar, achavam-se Aires de Lucena, Duarte de Morais e a mulher, além dos convidados da função. Úrsula tinha nos braços, envolta em alva toalha de crivo, a linda criancinha loura, que adotara por filha.
Mais longe, a maruja comovida com a cerimônia, fazia alas, esperando que o padre se paramentasse. Este não se demorou, com pouco apareceu no convés e subiu ao altar.
Começou, então, a cerimônia do benzimento da Virgem, que prolongou-se conforme o cerimonial da igreja. Terminado o ato, todos, até o último dos grumetes, foram por sua vez beijar os pés da Virgem.
Em seguida se passou ao batismo da filha adotiva de Duarte de Morais. Foi madrinha Nossa Senhora da Glória, de quem recebeu a menina o nome que trouxe, pela razão de a ter Aires salvado no dia daquela invocação.
Esta razão, porém, calou-se; pois a criança foi batizada como filha de Duarte de Morais e Úrsula; e a explicação do nome deu-se com ter ela escapado de grave doença no dia 15 de agosto. Por igual devoção, tomou-se a mesma Virgem Santíssima para padroeira da escuna, pois à sua divina e milagrosa intercessão se devia a vitória sobre os hereges e a captura do navio.
Depois da bênção e batismo da escuna, acompanharam todos em procissão o sacerdote que de imagem alçada dirigiu-se à proa, onde tinham de antemão preparado um nicho.
Por volta do meio-dia, terminou a cerimônia, e a linda escuna, desfraldando as velas, bordejou pela baía em sinal de regozijo pelo seu batismo, e veio a deitar ferro em uma sóbria e formosa enseada que havia na praia do Catete, ainda naquele tempo coberta da floresta que deu nome ao lugar.
Essa praia tinha dois outeiros que lhe serviam como de atalaias, um olhando para a barra, o outro para a cidade. Era ao sopé deste último que ficava a abra, onde fundeou a escuna Maria da Glória, à sombra das grandes árvores e do outeiro, que mais tarde devia tomar-lhe o nome.
Aí serviu-se lauto banquete aos convivas, e levantaram-se muitos brindes ao herói da festa. Aires de Lucena, o intrépido corsário, cujos rasgos de valor eram celebrados com um entusiasmo sincero, mas decerto afervorado pelas iguarias que trescalavam.
É sempre assim; a gula foi e há de ser para certos homens a mais fecunda e inspirada de todas as musas conhecidas.
Ao toque de trindades, cuidou Aires de voltar a cidade, para desembarcar os convidados; mas, com pasmo do comandante e de toda a maruja, não houve meio de safar a âncora do fundo.
Certos sujeitos mais desabusados asseguravam que sendo a praia coberta de árvores, na raiz de alguma fisgara a âncora, e assim explicavam o acidente. O geral, porém, vendo nisso um milagre, o referia mais ou menos por este teor.
Segundo a tradição, Nossa Senhora da Glória agastada por terem-na escolhido para padroeira de um navio corsário, tomado aos hereges, durante o banquete abandonara o seu nicho da proa e se refugiara no cimo do outeiro, onde à noite se via brilhar o seu resplendor por entre as árvores.
Sabendo o que, Aires de Lucena botou-se para a praia e foi subindo a encosta do morro em demanda da luz, que lhe parecia uma estrela. Chegado ao tope, avistou a imagem da Senhora da Glória em cima de um grande seixo, e ajoelhado defronte um ermitão a rezar.
— Quem te deu, barbudo, o atrevimento de roubares a padroeira de meu navio, gritou Aires irado.
Ergueu-se o ermitão com brandura e placidez.
— Foi a Senhora da Glória quem mandou-me que a livrasse da fábrica dos hereges e a trouxesse aqui onde quer ter sua ermida.
— Há de tê-la e bem rica, mas depois de servir de padroeira à minha escuna.
Palavras não eram ditas, que a imagem abalou do seixo onde estava e foi, sem tocar o chão, descendo pela encosta da montanha. De bordo, viram o resplendor brilhante por entre o arvoredo, até que chegado à praia deslizou rapidamente pela flor das ondas em demanda da proa do navio.
Eis o que ainda no século passado, quando se edificou a atual ermida de Nossa Senhora da Glória, contavam os velhos devotos, coevos de Aires de Lucena. Todavia, não faltavam incrédulos que metessem o caso à bulha.
A crê-los, o ermitão não passava de um mateiro beato, que se aproveitara da confusão do banquete para furtar a imagem do nicho, e levá-la ao cimo do outeiro, onde não tardaria a inventar uma romagem, para especular com a devoção da Virgem.
Quanto ao resplendor, era em linguagem vulgar um archote que o espertalhão levara de bordo, e que servira a Aires de Lucena para voltar ao navio conduzindo a imagem.
VIII
A VOLTA
Dezesseis anos tinham decorrido.
Era sobre tarde.
Grande ajuntamento havia na esplanada do largo de São Sebastião, ao alto do Castelo, para ver entrar a escuna Maria da Glória.
Os pescadores tinham anunciado a próxima chegada do navio, que bordejava fora da barra à espera de vento, e o povo concorria para saudar o valente corsário, cujas sortidas ao mar eram sempre assinaladas por façanhas admiráveis.
Nunca ele tornava do cruzeiro sem trazer uma presa, quando não eram três, como nessa tarde em que estamos.
Tornara-se Aires com a experiência um consumado navegante e o mais bravo e temível capitão de mar entre quantos sulcavam os dois oceanos. Era de recursos inesgotáveis; tinha ardis para lograr o mais esperto marítimo; e com o engenho e intrepidez multiplicava as forças de seu navio a ponto de animar-se a combater naus ou fragatas, e de resistir às esquadras de pichelingues que se juntavam para dar cabo dele.
Todas estas gentilezas, a maruja bem como a gente do povo as lançava à conta da proteção da Virgem Santíssima, acreditando que a escuna era invencível, enquanto sua divina padroeira não a desamparasse.
Aires tinha continuado na mesma vida dissipada, com a diferença que a sua façanha da tomada da escuna lhe incutira o gosto pelas empresas arriscadas, que vinham assim distraí-lo da monotonia da cidade, além de lhe fornecer o ouro que ele semeava a mãos cheias por seu caminho.
Em sentindo-se aborrido dos prazeres tão gozados, ou escasseando-lhe a moeda na bolsa, fazia-se ao mar em busca dos pichelingues que já o conheciam às léguas e fugiam dele como o diabo da cruz. Mas, dava-lhes caça o valente corsário, e perseguia-os dias sobre dias até fisgar-lhes os arpéus.
Como o povo, também ele acreditava que à intercessão de Nossa Senhora da Glória devia a constante fortuna que uma só vez não o desajudara; e por isso tinha uma devoção fervorosa pela divina padroeira de seu navio, a quem não esquecia de encomendar-se nos transes mais arriscados.
Tornando de suas correrias marítimas, Aires, da parte que lhe ficava líquida depois de repartir a cada marujo o seu quinhão, separava metade para o dote de Maria da Glória e a entregava a Duarte de Morais.
A menina crescera, estava moça, e a mais prendada em formosura e virtude que havia então neste Rio de Janeiro. Queria-lhe Aires tanto bem como à sua irmã, se a tivesse; e ela pagava com usura esse afeto daquele que desde criança aprendera a estimar como o melhor amigo de seu pai.
O segredo do nascimento de Maria da Glória fora respeitado, conforme o desejo de Aires. Além do corsário e dos dois esposos, só o gajeiro Bruno, agora piloto da escuna, sabia quem realmente era a gentil menina; para ela como para os mais, seus verdadeiros pais foram Duarte de Morais e Úrsula.
Nas torres, os sinos a repicarem trindades, e da escuna um batel a largar enquanto roda o cabrestante ao peso da âncora. Vinha no batel um cavalheiro de aspecto senhoril, cujas feições tostadas ao sol ou crestadas pela salsugem do mar respiravam a energia e a confiança. Se, nos combates, o nobre parecer, assombrando-se com a sanha guerreira, infundia terror no inimigo, fora, e ainda mais neste momento, a expansão jovial banhava-lhe o semblante de afável sorriso.
Era Aires de Lucena esse cavalheiro; não mais o gentil e petulante mancebo; porém, o homem tal como o tinham feito as pelejas e trabalhos do mar.
Na ponta da ribeira, que atualmente ocupa o arsenal de guerra, Duarte de Morais com os seus, ansioso esperava o momento de abraçar o amigo, e seguia com a vista o batel.
De seu lado, Aires também já os avistara do mar, e não tirava deles os olhos.
Úrsula estava à direita do marido, e à esquerda Maria da Glória. Esta falava a um mancebo que tinha junto de si, e com a mão lhe apontava o batel já próximo a abicar.
Apagou-se o sorriso nos lábios de Aires, sem que ele soubesse explicar o motivo. Sentira um aperto no coração, que se dilatava naquela abençoada hora da chegada com o prazer de volver à terra, e sobretudo à terra da pátria, que é sempre para o homem o grêmio materno.
Foi pois já sem efusão e com o passo moroso que saltou na praia, onde Duarte de Morais abria-lhe os braços. Depois de receber as boas-vindas de Úrsula, voltou-se Aires para Maria da Glória que desviou os olhos, retraindo o talhe talvez na intenção de esquivar-se às carícias que sempre lhe fazia o corsário à chegada.
— Não me abraça, Maria da Glória? perguntou o comandante com um tom de mágoa.
Corou a menina, e correu a esconder o rosto no seio de Úrsula.
— Olhem só! Que vergonhas!... disse a dona a rir.
No entanto, Duarte de Morais, pondo a mão na espádua do mancebo, dizia a Aires:
— Este é Antônio de Caminha, filho da mana Engrácia, o qual vai agora para três semanas nos chegou do reino, onde muito se fala de vossas proezas; nem são elas para menos.
Dito o que, voltou-se para o mancebo:
— Aqui tens tu, sobrinho, o nosso homem; e bem o vês que foi talhado para as grandes coisas que tem obrado.
Saudou Aires cortesmente ao mancebo, mas sem aquela afabilidade que a todos dispensava. Esse casquilho de Lisboa, que de improviso e a título de primo se introduzira na intimidade de Maria da Glória, o corsário não o via de boa sombra.
Quando à noite se recolheu a casa, levou Aires a alma cheia da imagem da moça. Até aquele dia não vira nela mais do que a menina graciosa e gentil, com quem se habituara a folgar. Naquela tarde, em vez da menina, achou uma donzela de peregrina formosura, que ele contemplara enlevado nas breves horas passadas a seu lado.
IX
PECADO
Ia agora Aires de Lucena todos os dias à casa de Duarte de Morais, quando de outras vezes apenas lá aparecia de longe em longe.
Havia aí um encanto que o atraía, e este, pensava o corsário não ser outro senão o afeto de irmão que votava a Maria da Glória, e crescera agora com as graças e prendas da formosa menina.
Mui freqüente era encontrá-la Aires a folgar em companhia do primo Caminha, mas à sua chegada ficava ela toda confusa e atada, sem ânimo de erguer os olhos do chão ou proferir palavra.
Uma vez, em que mais notou essa mudança, não se pôde conter Aires que não observasse:
— Estou vendo, Maria da Glória, que lhe meto medo?
— A mim, senhor Aires? balbuciou a menina.
— A quem mais?
— Não me dirá porque?
— Está sempre alegre, mas é ver-me e fechar-se como agora nesse modo triste e...
— Eu sou sempre assim.
— Não; com os outros não é, tornou Aires fitando os olhos em Caminha.
Mas logo tomando um tom galhofeiro continuou:
— Sem dúvida lhe disseram que os corsários são uns demônios!
— O que eles são, não sei, acudiu Antônio de Caminha; mas aqui estou eu, que no mar não lhes quero ver nem a sombra.
— No mar, tem seu risco; mas, em seco, não fazem mal; são como os tubarões, replicou Aires.
Nesse dia, deixando a casa de Duarte de Morais, conheceu Aires de Lucena que amava a Maria da Glória e com amor que não era de irmão.
A dor que sentira pensando que ela pudesse querer a outrem, que não ele e ele somente, lhe revelou a veemência dessa paixão que se tinha embuído em seu coração e aí crescera até que de todo o absorveu.
Um mês não era passado, que apareceram franceses na costa e com tamanha audácia, que por vezes investiram a barra, chegando até à ilhota da Laje, apesar do forte de São João na Praia Vermelha.
Aires de Lucena, que em outra ocasião fora dos primeiros a sair contra o inimigo, desta vez mostrou-se tíbio e indiferente.
Enquanto outros navios se aprestavam para o combate, a escuna Maria da Glória se embalava tranqüilamente nas águas da baía, desamparada pelo comandante, que a maruja inquieta esperava debalde, desde o primeiro rebate.
Uma cadeia oculta prendia Aires à terra, mas, sobretudo, à casa, onde morava Maria da Glória, a quem ele ia ver todos os dias, pesando-lhe que o não pudesse à cada instante.
Para calar a voz da pátria, que, às vezes, bradava-lhe na consciência, consigo encarecia a necessidade de ficar para a defensão da cidade, no caso de algum assalto, sobretudo quando saía a perseguir os corsários o melhor de sua gente de armas.
Sucedeu, porém, que Antônio de Caminha, mancebo de muitos brios, teve o comando de um navio de corso, armado por alguns mercadores de São Sebastião; mal que o soube, Aires, sem mais detença, foi-se a bordo da escuna, que desfraldou as velas, fazendo-se ao mar.
Não tardou que se não avistassem os três navios franceses, pairando ao largo. Galharda e ligeira, com as velas apojadas pela brisa e sua bateria pronta, correu a Maria da Glória o bordo sobre o inimigo.
Desde que fora batizado o navio, nenhuma empresa arriscada se tentava, nenhum lance de perigo se afrontava, sem que a maruja com o comandante à frente, invocasse a proteção de Nossa Senhora da Glória.
Para isso, desciam todos à câmara da proa, já preparada como uma capela. A imagem que olhava o horizonte como a rainha dos mares, girando na peanha, voltava-se para dentro, a fim de receber a oração.
Naquele dia, foi Aires presa de estranha alucinação, quando rezava de joelhos, ante o nicho da Senhora. Na sagrada imagem da Virgem Santíssima, não via ele senão o formoso vulto de Maria da Glória, em cuja contemplação se enlevava sua alma.
Por vezes, tentou recobrar-se dessa alheação dos sentidos e não conseguiu. Foi-lhe impossível arrancar d’alma a doce visão que a cingia como um regaço de amor. Não era a Mãe de Deus, a Rainha Celestial que ele adorava nesse momento, mas a loura virgem que tinha um altar em seu coração.
Achava-se ímpio nessa idolatria, e abrigava-se em sua devoção por Nossa Senhora da Glória; mas aí estava seu maior pecado, que era nessa mesma fé tão pura, que seu espírito se desvairava, transformando em amor terrestre o culto divino.
Cerca de um mês, Aires de Lucena esteve no mar, já combatendo os corsários e levando-os sempre de vencida, já dando caça aos que tinham escapado e castigando o atrevimento de ameaçarem a colônia portuguesa.
Durante esse tempo, sempre que ao entrar em combate, a equipagem da escuna invocava o patrocínio de sua madrinha, Nossa Senhora da Glória, era o comandante presa da mesma alucinaçâo que já sentira, e erguia-se da oração com um remorso, que lhe pungia o coração pressago de algum infortúnio.
Pressentia o castigo de sua impiedade, e se arrojava na peleja receoso de que o desamparasse enfim a proteção da Senhora agravada; mas porisso não lhe minguava a bravura, senão que o desespero lhe ministrava maior furor e novas forças.
X
O VOTO
Ao cabo do seu cruzeiro, tornara Aires ao Rio de Janeiro, onde entrou à noite calada, quando já toda a cidade dormia.
Havia tempos que soara no mosteiro o toque de completas; já todos os fogos estavam apagados, e não se ouvia outro rumor a não ser o ruído das ondas na praia, ou o canto dos galos, despertados pela claridade da lua ao nascer.
Cortando a flor das ondas alisadas, que se aljofravam como os brilhantes ressumos da espuma irisada pelos raios da lua, veio a escuna dar fundo em frente ao largo da Polé.
No momento em que ao fisgar da âncora arfava o lindo navio, como um corcel brioso sofreado pela mão do ginete, quebrou o silêncio da noite um dobre fúnebre.
Era o sino da igreja de Nossa Senhora do Ó que tangia o toque da agonia. Teve Aires, como toda a equipagem, um aperto de coração ao ouvir o lúgubre anúncio. Não faltou entre os marujos quem tomasse por mau agouro a circunstância de ter a escuna fundeado no momento em que começara o dobre.
Logo após abicava à ribeira o batel conduzindo Aires de Lucena, que saltou em terra ainda com o mesmo soçobro e a alma cheia de inquietação.
Era tarde da noite para ver Duarte de Morais; mas não quis Aires recolher sem passar-lhe pela porta, e avistar-se com a casa onde habitava a dama de seus pensamentos.
Alvoroçaram-se os sustos de sua alma já aflita, encontrando aberta àquela hora adiantada a porta da casa, e as frestas das janelas esclarecidas pelas réstias de luz interior.
De dentro, saía um rumor soturno como de lamentos, entremeados com reza.
Quando deu por si, achava-se Aires, conduzido pelo som do pranto, em uma câmara iluminada por quatro círios colocados nos cantos de um leito mortuário. Sobre os lençóis e mais lívida que eles, via-se a estátua inanimada, mas sempre formosa, de Maria da Glória.
A nívea cambraia, que lhe cobria o seio mimoso, aflava com um movimento quase imperceptível, mostrando que ainda não se extinguira de todo nesse corpo gentil o hálito vital.
Ao ver Aires, Úrsula, o marido e as mulheres que rodeavam o leito, ergueram para ele as mãos com um gesto de desespero e redobraram o pranto.
Não os percebia, porém, o corsário; seu olhar baço e morno se fitara no vulto da moça e parecia entornar sobre ela toda sua alma, como uma luz que bruxuleia.
Um momento, as pálpebras da menina se ergueram a custo, e os olhos azuis, coalhados em um pasmo glacial, volvendo para o nicho de jacarandá suspenso na parede, cravaram-se na imagem de Nossa Senhora da Glória, mas cerraram-se logo.
Estremeceu Aires, e ficou um instante como alheio a si, e ao que se passava em torno.
Lembrava-se do pecado de render ímpia adoração a Maria na imagem de Nossa Senhora da Glória, e via, na enfermidade que lhe arrebatava a menina, um castigo de sua culpa.
Pendeu-lhe a cabeça acabrunhada, como se vergasse ao peso da cólera celeste; mas, de chofre, a ergueu com a resolução de ânimo que o arrojava ao combate, e por sua vez pondo os olhos na imagem de Nossa Senhora da Glória, caiu de joelhos com as mãos erguidas.
— Pequei, Mãe Santíssima, murmurou do fundo d’alma; mas vossa misericórdia é infinita. Salvai-a; por penitência de meu pecado andarei um ano inteiro no mar para não a ver; e quanto trouxer há de ser para as alfaias de vossa capela.
Não eram proferidas estas palavras, quando estremeceu com um sobressalto nervoso o corpo de Maria da Glória. Entreabriu ela as pálpebras e exalou dos lábios fundo e longo suspiro.
Todos os olhos se fitaram ansiosos no formoso semblante, que ia se corando com uma tênue aura de vida.
— Torna a si! exclamaram as vozes a um tempo.
Ergueu Aires a fronte, duvidando do que ouvia. Os meigos olhos da menina, ainda embotados pelas sombras da morte que os tinham roçado, fitaram-se nele; e um sorriso angélico enflorou a rosa desses lábios que pareciam selados para sempre.
— Maria da Glória! bradou o corsário, arrastando-se de joelhos para a cabeceira do leito.
Demorou a menina um instante nele o olhar e o sorriso, depois, volvendo-os ao nicho cruzou as mãos ao peito e balbucíou flebilmente algumas palavras de que apenas se ouviram estas:
— Eu vos rendo graças, minha celeste Madrinha, minha Mãe Santíssima, por me haverdes ouvido...
Expirou-lhe a voz nos lábios; outra vez cerraram-se as pálpebras, e descaiu-lhe a cabeça nas almofadas. A donzela dormia um sono plácido e sereno.
Passara a crise da enfermidade. Estava salva a menina.
XI
NOVENA
A primeira vez que Maria da Glória saiu da câmara para a varanda, foi uma festa em casa de Duarte de Morais.
Ninguém se cabia de contente com o regozijo de ver a menina outra vez restituída às alegrias da família.
De todos o que mostrava menos era Aires de Lucena, pois, por instantes, sua feição velava-se com uma nuvem melancólica; mas sabiam os outros que dentro d’alma ninguém maior, nem tamanho júbilo sentira, como ele; e sua tristeza naquele momento era a lembrança do que sofrera vendo a moça a expirar.
Aí estava, entre outras pessoas da privança da casa, Antônio de Caminha, que se houvera galhardamente na perseguição dos franceses, embora não lograsse capturar a presa a que dera caça.
Não escondia o moço o regozijo que sentia com o restabelecimento daquela a quem já tinha chorado, como perdida para sempre.
Nesse dia, revelou Maria da Glória aos pais um segredo que escondia.
— É tempo de saberem o pai e a mãe que fiz um voto a Nossa Senhora da Glória, e peço sua licença para o cumprir.
— Tu a tens! disse Úrsula.
— Fala; dize o que prometeste! acrescentou Duarte de Morais.
— Uma novena.
— O voto foi para te pôr boa? perguntou a mãe.
Corou a moça e confusa esquivou-se à resposta. Acudiu então Aires que até ali ouvira calado:
— Não se precisa saber o motivo; basta que o voto se fez, para se dever cumprir. Tomo sobre mim o que for preciso para a novena, e não consinto que ninguém mais se encarregue disso; estais ouvindo, Duarte de Morais?
Cuidou Aires desde logo nos aprestos da devoção, e para que se fizesse com o maior aparato, resolveu que a novena seria em uma capela do mosteiro, para a qual se transportaria de seu nicho da escuna a imagem de Nossa Senhora da Glória.
Diversas vezes, foi ele com Maria da Glória e Úrsula a uma loja de capelista para se proverem de alfaias com que adornassem a sagrada imagem. O melhor ourives de São Sebastião incumbiu-se de fazer um novo resplendor cravejado de brilhantes, enquanto a menina com suas amigas recamava de alcachofras de ouro um rico manto de brocado verde.
Nestes preparativos, consumiam-se os dias, e tão ocupado andava Aires com eles, que não pensava em outra coisa, nem já se lembrava do voto que fizera; passava as horas junto de Maria da Glória, entretendo-se com ela dos adereços da festa, satisfazendo-lhe as mínimas fantasias; essa doce tarefa o absorvia por modo que não lhe sobravam nem pensamentos para mais.
Afinal, chegou o dia da novena, que celebrou-se com uma pompa ainda não vista na cidade de São Sebastião. Foi grande a concorrência de devotos que vieram de São Vicente e Itanhaém para assistir à festa.
A todos encantou a formosura de Maria da Glória, que tinha um vestido de riço azul com recamos de prata, e um colar de turquesas com arrecadas de safiras.
Mas suas jóias, de maior preço, as que mais a adornavam, eram as graças de seu meigo semblante que resplandecia com uma auréola celeste.
— Jesus!... exclamou uma velha beata. Podia-se tirar dali e pô-la no altar que a gente havia de adorá-la como a própria imagem da Senhora da Glória.
Razão, pois, tinha Aires de Lucena, que toda a festa a esteve adorando, sem carecer de altar, e tão absorto, que de todo esqueceu o lugar onde se achava, e o fim que ali o trouxera.
Só quando, terminada a festa, ele saía com a família de Duarte de Morais, acudiu-lhe que não rezara na igreja, nem rendera graças à Senhora da Glória por cuja milagrosa intercessão escapara a menina da cruel enfermidade.
Era tarde, porém; e se passou-lhe pela mente a idéia de tornar à igreja para reparar seu esquecimento, o sorriso de Maria da Glória arrebatou-lhe de novo o espírito naquele enlevo, em que o tivera preso.
Depois da doença da menina, dissipara-se o enleio que ela sentia na presença de Aires de Lucena. Agora com a chegada do corsário, em vez de acanhar-se, ao contrário, expandia-se a flor de sua graça, e desabrochava em risos, embora roseados pelo pudor.
Uma tarde que passeavam os dois pela ribeira, em companhia de Duarte de Morais e Úrsula, Maria da Glória, vendo embalar-se airosamente sobre as ondas a escuna, soltou um suspiro e voltando-se para Lucena, disse-lhe:
— Agora tão cedo não vai ao mar!
— Por que?
— Deve descansar.
— Somente por isso? perguntou Aires desconsolado.
— E também pelas saudades que deixa aos que lhe querem, e pelos cuidados que nos leva. O pai que diz? Não é assim?
— Certo, filha, que o nosso Aires de Lucena já tem feito muito pela pátria e pela religião, para dar-nos também aos amigos alguma parte da sua existência.
— Toda vô-la darei, doravante; ainda que tenha eu também saudades do mar, das noitadas de bordo, e daquele voar nas asas da borrasca, em que o homem se acha face a face com a cólera do céu. Mas, pois, assim o quereis, seja feita a vossa vontade.
Estas últimas palavras proferiu-as Aires olhando para a menina.
— Não se pese disso, tornou-lhe ela; que em lhe apertando as saudades, embarcaremos todos na escuna, e iremos correr terras, onde nos levar a graça de Deus e de minha Madrinha.
XII
O MILAGRE
Correram meses, que Aires passou na doce intimidade da família de Duarte de Morais e no enlevo de sua admiração por Maria da Glória.
Já não era o homem que fora; os prazeres em que outrora se engolfava, de presente os aborrecia, e tinha vergonha da vida dissipada que levara até ali.
Ninguém mais o via por tavolagens e folias, como nos tempos em que parecia sôfrego de consumir a existência.
Agora, se não estava em casa de Duarte de Morais, perto de Maria da Glória, andava pelas ruas a cismar.
Ardia o cavalheiro por abrir seu coração àquela que já era dele senhora, e muitas vezes fora com o propósito de falar-lhe do seu afeto.
Mas, na presença da menina, o desamparava a resolução que trazia; e sua voz, afeita ao comando e habituada a dominar o rumor da procela e o estrondo dos combates, balbuciava tímida e submissa uma breve saudação.
Era o receio de que a menina voltasse à esquivança de antes, e viesse a tratá-lo com a mesma reserva e acanhamento que tanto o magoava então.
Não se apagara de todo n’alma do corsário a suspeita de ser o afeto de Antônio Caminha bem acolhido, senão já retribuído, por Maria da Glória.
É certo que a menina tratava agora o primo com afastamento e enleio, que mais se manifestava, quando este a enchia de atenções e finezas.
Ora, Aires, que se julgava aborrecido por merecer um tratamento semelhante, agora que todas as efusÕes da gentil menina eram para ele, desconfiava desse acanhamento, que podia encobrir um tímido afeto.
Assim é sempre o coração do homem, a revolver-se no constante ser e não ser em que se escoa a vida humana.
De sair ao mar, era coisa em que Aires já não tocava aos marujos da escuna, que mais ou menos andavam ao corrente do que havia. Se alguém lhes falava de fazerem-se ao largo, respondiam, a rir, que o comandante encalhara n’água doce.
Muito tempo já era passado depois de sua última viagem, quando Aires de Lucena, querendo acabar com a incerteza em que vivia, animou-se a dizer à filha adotiva de Duarte de Morais, uma noite ao despedir-se dela:
— Maria da Glória, tenho um segredo para contar-lhe.
O lábio que proferiu estas palavras era trêmulo, e o olhar do cavalheiro retirou-se confuso do semblante da menina.
— Que segredo é, senhor Aires? respondeu Maria da Glória também perturbada.
— Amanhã lho direi.
— Olhe lá!
— Prometo.
No dia seguinte, por tarde, encaminhou-se o corsário para a casa de Duarte de Morais; ia resolvido a declarar-se com Maria da Glória e confessar-lhe o muito que a queria para sua esposa e companheira.
Levava o pensamento agitado e o coração inquieto como quem vai decidir de sua sorte. Às vezes, apressava o passo, na sofreguidão de chegar; outras, retardava-o com receio do momento.
À rua da Misericórdia encontrou-se com um ajuntamento, que o fez parar. No meio da gente, via-se um homem idoso, com os cabelos já grisalhos da cabeça e da barba tão longos, que lhe desciam aos peitos e caíam sobre as espáduas.
Caminhava ele, ou antes se arrastava de joelhos, e levava em bandeja de metal um objeto, que tinha figura de mão cortada acima do punho.
Pensou Aires que era esta a cena, muito comum naqueles tempos, do cumprimento solene de uma promessa; e seguiu a procissão com olhar indiferente.
Ao aproximar-se, porém, o penitente, conheceu com horror que não era um ex-voto de cera, ou milagre, como o chamava o vulgo, o objeto posto em cima da salva; mas, a própria mão cortada do braço direito do devoto, que, às vezes, levantava para o céu o coto mal cicatrizado ainda.
Inquiriu dos que o cercavam a explicação do estranho caso; e não faltou quem lha desse com particularidades que hoje fariam rir.
Tivera o penitente, que era mercador, um panarício na mão direita; e sobreveio-lhe grande inflamação de que resultou a gangrena. No risco de perder a mão, e talvez a vida, valeu-se o homem de São Miguel dos Santos, advogado contra os cancros e tumores, e prometeu-lhe dar para sua festa o peso em prata do membro enfermo.
Exalçou o Santo a promessa, pois sem mais auxílio de mezinhas, veio o homem a ficar inteiramente são, e no perfeito uso da mão, quando no juízo do físico pelo menos devia ficar aleijado.
Restituído à saúde, o mercador que era muito agarrado ao dinheiro, espantou-se com o peso que lhe haviam tomado do braço enfermo; e achando salgada a quantia, resolveu de esperar pela decisão de certo negócio, de cujos lucros tencionava tirar o preciso para cumprir a promessa.
Um ano decorreu, porém, sem que o tal negócio se concluísse, e ao cabo desse tempo começou a mão do homem a mirrar, a mirrar, até que ficou de todo seca e rija, como se fora de pedra.
Conhecendo, então, o mercador que estava sendo castigado por não haver cumprido a promessa, levou sem mais detença a prata que devia ao Santo; mas este já não a quis receber, pois ao amanhecer do outro dia achou atirada à porta da igreja a oferenda que ficara sobre o altar.
O mesmo foi da segunda e terceira vez, até que o mercador vendo que era sem remissão a sua culpa e devia expiá-la, decepou a mão já seca e vinha trazê-la, não só como símbolo do milagre, mas como lembrança do castigo.
Eis o que referiram a Aires de Lucena.
XIII
AO MAR
Já tinha desfilado a procissão e ficara a rua deserta, que ainda lá estava no mesmo lugar Aires de Lucena, quedo como uma estátua.
Seus espíritos se tinham afundado em um pensamento que os submergia como em um abismo. Lembrara-se de que também fizera um voto e ainda não o havia cumprido, dentro do ano que estava quase devolvido.
Horrorizava-o a idéia do castigo, que talvez já estava iminente. Tremia não por sua pessoa, mas por Maria da Glória, que a Virgem Santíssima ia levar, como São Miguel secara a mão que antes havia sarado.
Quando o corsário deu acordo de si e viu onde se achava, correu à praia, saltou na primeira canoa de pescador e remou direito para a escuna, cujo garboso perfil se desenhava no horizonte iluminado pelos arrebóis da tarde.
— Prepara para largar! Leva âncora!... gritou ele apenas pisou no tombadilho.
Acudiu a maruja à manobra com a presteza do costume e aquele fervor que sentia sempre que o comandante a conduzia ao combate.
No dia seguinte, ao amanhecer, tinha a escuna desaparecido do porto, sem que houvesse notícia dela, ou do destino que levara.
Quando em casa de Duarte de Morais soube-se da nova, perderam-se todos em conjeturas acerca dessa partida súbita, que nada explicava; pois não havia indícios de andarem pichelingues na costa, e nem se falava de qualquer expedição contra aventureiros que porventura se tivessem estabelecido em terras da colônia.
Maria da Glória não quis acreditar na partida de Aires, e tomou por gracejo a notícia.
Afinal, rendeu-se à evidência, mas convencida de que ausentara-se o corsário por alguns dias, senão horas, no ímpeto de combater algum pirata, e não tardaria voltar.
Sucederam-se, porém, os dias, sem que houvesse novas da escuna e de seu comandante. A esperança foi murchando no coração da menina, como a flor crestada pelo frio, e afinal desfolhou-se.
Apagara-se-lhe o sorriso dos lábios, e o brilho dos lindos olhos empanou-se com o soro das lágrimas choradas em segredo.
Assim foi se finando de saudades pelo ingrato que a tinha desamparado, levando-lhe o coração.
Desde muito que à gentil menina estremecia o cavalheiro; e daí nascera o soçobro que sentia em sua presença. Quando a cruel enfermidade assaltou-a, e que ela, prostrada no leito, teve consciência de seu estado, o primeiro pensamento foi pedir a Nossa Senhora da Glória que não a deixasse morrer, sem dizer adeus àquele por quem somente quisera viver.
Não só ouvira seu rogo a Virgem Santíssima, como a restituíra à vida e ternura do querido de sua alma. Este era o segredo da novena que se tinha feito logo depois do seu restabelecimento.
A aflição de Aires durante a moléstia da menina, os desveles que mostrava por ela, ajudando Úrsula na administração dos remédios e nos incessantes cuidados que exigia a convalescença, mas principalmente a ingênua expansão d’alma, que em crises como aquela, se desprende das misérias da terra e paira em uma esfera entre os dois corações, estabelecera uma doce correspondência e intimidade entre eles.
Nesse enlevo de querer e ser querida, vivera Maria da Glória todo o tempo depois da moléstia. Qual não foi pois o seu desencanto, quando Aires se partiu sem ao menos dizer-lhe adeus, e quem sabe se para não mais voltar.
Cada dia que volveu foi para ela o suplício de uma esperança a renascer a cada instante para morrer logo após no cruel desengano.
Cerca de um ano era passado, e em São Sebastião não havia novas da escuna Maria da Glória.
Para muita gente passava como certa a perda do navio com toda a tripulação; e em casa de Duarte de Morais já se trazia luto pelo amigo e protetor da família.
Maria da Glória, porém, tinha no coração um pressentimento de que Aires ainda vivia, embora longe dela, e tão longe que nunca mais o pudesse ver neste mundo.
Na crença do povo miúdo, o navio do corsário andava no oceano, encantado por algum gênio do mar; mas havia de aparecer quando quebrasse o encanto, o que tinha de suceder pela intrepidez e arrojo do destemido Lucena.
Essa versão popular ganhou mais força com os contos da maruja de um navio da carreira das Índias, que fazia escala em São Sebastião, vindo de Goa.
Referiam-se os marinheiros que um dia, sol claro, passara perto deles um navio aparelhado em escuna, cuja tripulação compunha-se toda de homens vestidos de compridas esclavinas brancas e marcados com uma cruz negra no peito.
Como lhes observassem que talvez seriam penitentes, que iam de passagem, afirmavam seu dito, assegurando que os viram executar a manobra mandada pelo comandante, também vestido da mesma maneira.
Acrescentavam os marinheiros que muitos dias depois, em uma noite escura e de calmaria, tinham avistado ao largo o mesmo navio a boiar sem governo; mas todo resplandecente das luminárias dos círios acesos em capelas, e à volta de uma imagem.
A tripulação, vestida de esclavina, rezava o terço; e as ondas banzeiras gemendo na proa, acompanhavam o canto religioso, que se derramava pela imensidade dos mares.
Para o povo, eram estas as provas evidentes de estar o navio encantado; e se misturava assim o paganismo com a devoção cristã, tinha aprendido este disparate com bom mestre, o grande Camões.
XIV
A VOLTA
Um ano, de dia a dia, andou Aires no mar.
Desde que se partira do Rio de Janeiro, não pusera o pé em terra, nem a avistara senão o tempo necessário para enviar um batel em busca das provisões necessárias.
Na tarde da saída, deixara-se Aires ficar na popa do navio até que de todo sumiu-se a costa; e então derrubara a cabeça aos peitos e quedara-se até que a lua assomou no horizonte.
Era meia-noite.
Ergueu-se e vestindo uma esclavina, chamou a maruja, a quem dirigiu estas palavras:
— Amigos, vosso capitão tem de cumprir um voto e fazer uma penitência. O voto é não tornar a São Sebastião antes de um ano. A penitência é passar esse ano todo no mar sem pisar em terra, assim vestido, e em jejum rigoroso, mas combatendo sempre os inimigos da fé. Vós não tendes voto a cumprir, nem pecado a remir, sois livres, tomai o batel, recebei o abraço do vosso capitão, e deixai que se cumpra a sua sina.
A maruja abaixou a cabeça e ouviu-se um som rouco; era o pranto a romper dos peitos duros e calosos da gente do mar:
— Não há de ser assim! clamaram todos. — jurámos acompanhar o nosso capitão na vida e na morte; não o podemos desamparar, nem ele despedir-nos para negar à gente a sua parte nos trabalhos e perigos. Sua sina é a de todos nós, e a deste navio onde havemos de acabar, quando o Senhor for servido.
Abraçou-os o corsário; e ficou decidido que toda a tripulação acompanharia seu comandante no voto e na penitência.
No dia seguinte, cortaram os marujos o pano de umas velas rotas que tiraram do porão e arranjaram esclavinas para vestirem, fazendo as cruzes com dois pedaços de corda atravessadas.
Ao pôr do sol, cantavam o terço ajoelhados à imagem de Nossa Senhora da Glória, ao qual levantaram um nicho com altar, junto do mastro grande, a fim de acudirem mais prontos à manobra do navio.
Ao entrar de cada quarto, também rezavam a ladainha, à imitação das horas canônicas dos conventos.
Se, porém, sucedia aparecer alguma vela no horizonte e o vigia da gávea assinalava um pichelingue, de momento despiam as esclavinas, empunhavam as machadinhas e saltavam à abordagem.
Destroçado o inimigo, tornavam à penitência e prosseguiam tranqüilamente na reza começada.
Quando completou um ano, que tinha a escuna deixado o porto de São Sebastião, à meia-noite, Aires de Lucena aproou para terra, e soprando fresca a brisa de leste, ao romper d’alva começou a desenhar-se no horizonte a costa do Rio de Janeiro.
Por tarde, a escuna corria ao longo da praia de Copacabana, e com as primeiras sombras da noite largava o ferro em uma abra deserta que ficava próximo da Praia Vermelha.
Saltou Aires em terra, deixando o comando a Bruno, com recomendação de entrar barra dentro ao romper do dia; e a pé seguiu para a cidade pelo caminho da praia, pois ainda se não tinha aberto na mata virgem da Carioca a picada que mais tarde devia ser a rua aristocrática do Catete.
Ia sobressaltado o corsário com o que podia ter acontecido durante o ano de sua ausência.
Sabia ele o que o esperava ao chegar? Tornaria a ver Maria da Glória, ou lhe teria sido arrebatada, apesar da penitência que fizera?
Às vezes, parecia-lhe que ia encontrar a mesma cena da vez passada, e achar a moça de novo prostrada no leito da dor, mas desta para não mais erguer-se; porque a Senhora da Glória para o punir não ouviria mais a sua prece.
Eram oito horas quando Aires de Lucena chegou à casa de Duarte de Morais.
A luz interior filtrava pelas frestas das rótulas; e ouvia-se rumor de vozes, que falavam dentro. Era ali a casa de jantar, e Aires espiando viu à mesa toda a família reunida, Duarte de Morais, Úrsula e Maria da Glória, os quais estavam no fim da ceia.
Passado o soçobro de rever a menina, Aires foi à porta e bateu.
Duarte e a mulher se entreolharam surpresos daquele bater fora de horas; Maria da Glória porém levou a mão ao seio, e disse com um modo brando e sereno:
— É ele, o senhor Aires, que está de volta!
— Que lembrança de menina! exclamou Úrsula.
— Não queres acabar de crer, filha, que meu pobre Aires, há muito que está com Deus! observou Duarte melancólico.
— Abra o pai! respondeu a Maria da Glória, mansamente.
Deu ele volta à chave, e Aires de Lucena apertou nos braços ao amigo atônito de o ver depois de por tanto tempo o haver por morto.
Grande foi a alegria de Duarte de Morais e a festa de Úrsula com a volta de Aires.
Maria da Glória, porém, se alguma coisa sentiu, não deu a perceber; falou com o cavalheiro sem mostra de surpresa, nem de contentamento, como se ele a tivesse deixado na véspera.
Este acolhimento indiferente confrangeu o coração de Aires, que ainda mais se afligia notando a palidez da moça, a qual parecia estar-se definhando como a rosa, a quem a larva devora o seio.
XV
O NOIVO
Em um mês, que tanto fazia desde a volta de Aires, não lhe dissera Maria da Glória uma palavra sequer acerca da longa ausência.
— Tão alheio lhe sou, que nem se apercebeu do ano que passei longe dela.
De seu lado, também, não tocava o cavalheiro nesse incidente de sua vida, que desejava esquecer.
Quando Duarte de Morais insistia com ele para saber a razão por que se partira tão inesperadamente, e por tanto tempo sem dar aviso aos amigos, o corsário esquivava-se à explicação e apenas respondia:
— Tive notícia do inimigo e fui-me sem detença. Deus Nosso Senhor ainda permitiu que tornasse ao cabo de um ano, e eu lhe rendo graças.
Convenceram-se quantos o ouviam falar assim, que havia um mistério na ausência do cavalheiro; e o povo miúdo cada vez mais persistia na crença de que a escuna estivera encantada todo aquele tempo.
O primeiro cuidado de Aires, logo depois de sua chegada, foi ir com toda a sua maruja levar ao mosteiro de São Bento o preço de tudo quanto haviam capturado, para ser aplicado à festa e ornato da capela de Nossa Senhora da Glória.
Acabado assim de cumprir o seu voto e a penitência a que se tinha sujeitado, não pensou Aires senão em viver como dantes para Maria da Glória, bebendo a graça de seu formoso semblante.
Mas, não tornaram nunca mais os dias abençoados do íntimo contentamento em que tinham vivido outrora. Maria da Glória mostrava a mesma indiferença pelo que passava em torno dela; parecia uma criatura já despedida deste vale de lágrimas e absorta na visão do outro mundo.
Dizia Úrsula que essa abstração de Maria da Glória lhe ficara da doença, e só havia de passar em casando; pois não há para curar as meninas solteiras como os banhos da igreja.
Notara, porém, Aires que especialmente com ele tornava-se a menina mais arredia e concentrada; e vendo a diferença de seu modo para com Antônio de Caminha, de todo convenceu-se que a menina gostava do primo e estava-se finando pelo receio de que ele, Aires, pusesse obstáculo a seu mútuo afeto.
Dias depois que essa idéia lhe entrou no espírito, achando-se em casa de Duarte de Morais, sucedeu que Maria da Glória de repente debulhou-se em pranto, e eram tantas as lágrimas que lhe corriam pelas faces como fios de aljôfares.
Úrsula que a viu nesse estado, exclamou:
— Que tens tu, menina, para chorar assim?
— Um peso do coração!... Chorando, passa.
E a menina saiu a soluçar.
— Tudo isso é espasmo! observou Úrsula. Se não a casarem quanto antes, vai a mais, a mais, e talvez quando lhe quiserem acudir, não tenha cura.
— Já que se oferece a ocasião, carecemos tratar deste particular, Aires, em que desde muitos dias atrás ando para tocar-vos.
Perturbou-se Aires a ponto que faltou-lhe a voz para retorquir; foi a custo e com esforço que, vencida a primeira comoção, pôde responder.
— Estou ao vosso dispor, Duarte.
— É tempo de saberdes que Antônio de Caminha quer bem a Maria da Glória e já nos confessou o desejo que tem de a receber por esposa. Também a pediu o Fajardo, sabeis, aquele vosso camarada; mas esse é muito velho para ela; podia ser seu pai.
— Tem a minha idade, com diferença de meses, observou Aires com uma expressão resignada.
— Assentei não decidir sobre isso em vossa ausência, pois embora vos considerássemos perdido, não tínhamos essa certeza; e agora que nos fostes felizmente restituído, a vós compete decidir da sorte daquela que tudo vos deve.
— E Maria da Glória?... perguntou Aires já senhor de si. Retribui ela o afeto de Antônio de Caminha, e o quer por marido?
— Sou capaz de jurar, acudiu Úrsula.
— Não consenti que se lhe falasse nisto, sem primeiro sabermos se era de vosso agrado essa união. Mas ela aí está; podemos interrogá-la se o quereis, e será o melhor.
— Avisais bem, Duarte.
— Ide, Úrsula, e trazei-me Maria da Glória; mas não careceis de preveni-la.
Com pouco, voltou a mulher de Duarte acompanhada pela menina.
— Maria da Glória, disse Duarte, vosso primo Antônio de Caminha pediu vossa mão, e nós desejamos saber se é de vosso agrado casar-vos com ele.
— Já não sou deste mundo, para casar-me nele, repondeu a menina.
— Deixai-vos de idéias tristes. Haveis de recobrar a saúde; e com o casamento voltará a alegria que perdestes!
— Essa mais nunca!
— Enfim decidi de uma vez se quereis Antônio de Caminha por marido, pois melhor não creio que possais achar.
— É do agrado de todos, este casamento? perguntou Maria da Glória fitando os olhos em Aires de Lucena.
— De todos, começando por aquele que tem sido vosso protetor, e que tanto, se não mais do que vossos pais, tinha o direito de escolher-vos um esposo.
— Pois que foi escolhido por vós, senhor Aires, aceito.
— O que eu ardentemente desejo, Maria da Glória, é que ele vos faça feliz.
Um triste sorriso desfolhou-se pelos lábios da menina.
Aires retirou-se arrebatado, porque sentiu romper-lhe do seio o soluço, por tanto tempo recalcado.
XVI
A BODA
Eram cerca de 4 horas de uma formosa tarde de Maio.
Abriam-se de par em par as portas da matriz, no alto do Castelo, o que anunciava a celebração de um ato religioso.
Já havia no adro de São Sebastião numeroso concurso de povo, que ali viera trazido pela curiosidade de asistir à cerimônia.
À parte, em um dos cantos da igreja, recostado ao ângulo, via-se um velho marujo que não era outro senão o Bruno.
O contra-mestre não estava nesse dia de boa sombra; tinha um semblante carrancudo, e, às vezes, fechando a mão calejada, ferrava um murro em cheio na carapuça.
Quando seus olhos, espraiando-se pelo mar, encontravam a escuna, que de âncora a pique balouçava-se sobre as ondas, prestes a fazer-se de vela, o velho marujo soltava um suspiro ruidoso.
Depois, voltava-se para a ladeira da Misericórdia, como se contasse ver chegar desse lado alguma pessoa, por quem estivesse esperando.
Não se passou muito, que não apontasse no alto da subida, um préstito numeroso, o qual seguiu direito à portaria da matriz.
Vinha no centro Maria da Glória, vestida de noiva, e cercada por um bando de virgens, todas de palma e capela, que iam levar ao altar a sua companheira.
Seguiam-se Úrsula, as madrinhas e outras damas convidadas para a boda, a qual era sem dúvida das de maior estrondo que se tinham celebrado até então na cidade de São Sebastião.
Aires de Lucena assim o determinara, e de seu bolso concorreu com o cabedal necessário para a maior pompa da cerimônia.
Logo após as damas, caminhava o noivo, Antônio de Caminha, entre os dois padrinhos e no meio de grande cortejo de convidados, dirigido por Duarte de Morais e Aires de Lucena.
Ao entrar a portada da igreja, Aires destacou-se um momento para falar a Bruno, que avistando-o, viera a ele:
— Aprestou-se tudo?
— Tudo, meu capitão.
— Ainda bem; daqui a uma hora partiremos, e para não mais voltar, Bruno.
Ditas estas palavras, Aires entrou na igreja. O velho marujo que adivinhara quanto sofria naquele momento o seu capitão, ferrou outro murro na carapuça, e travou o soluço que lhe estava estortegando na garganta.
Dentro da matriz, já os noivos tinham sido conduzidos ao altar, onde os esperava o vigário paramentado para celebrar o casamento, cuja cerimônia logo começou.
O corsário, de joelhos em um dos ângulos mais obscuros do corpo da igreja, assistia de longe ao ato; mas, de momento a momento, acurvava a fronte sobre as mãos enclavinhadas, como absorvido em fervente oração.
Não rezava, não; bem o quisera; mas um tropel de pensamentos se agitava em seu espírito abatido, que o arrastava ao passado e o fazia reviver os anos devolvidos.
Repassava na mente seu viver de outrora, e acreditava que Deus lhe enviara do céu um anjo da guarda para o salvar. No caminho da perdição, ele o encontrara sob a forma de uma gentil criança; e desde esse dia sentira despertarem em sua alma os estímulos generosos, que o vício nela havia sopitado.
Mas, por que, tendo-lhe enviado essa celeste mensageira, lha negara Deus, quando a quis fazer a companheira de sua vida, e unir ao dela o seu destino?
Aí lembrou-se de que já uma vez Deus a quisera chamar ao céu, e só pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Glória a deixara viver, mas para outro.
— Antes não houvésseis atendido ao meu rogo, Virgem Santíssima! balbuciou Aires.
Nesse instante, Maria da Glória, de joelhos aos pés do sacerdote, voltou o rosto com súbito movimento e fitou no cavalheiro estranho olhar, que a todos surpreendeu.
Era o momento em que o padre dirigia a interrogação do ritual; e Aires, prestes a ouvir o sim fatal, balbuciava ainda:
— Morta, ao menos ela não pertenceria a outro.
Um grito repercutiu pelo âmbito da igreja. A noiva caíra desmaiada aos pés do altar, e parecia adormecida.
Prestaram-lhe todos os socorros; mas embalde. Maria da Glória rendera ao Criador sua alma pura, e subira ao céu sem trocar a sua palma de virgem pela grinalda de noiva.
O que tinha cortado o estame da suave bonina? Fora o amor infeliz que ela ocultava no seio, ou a Virgem Santíssima a rogo de Aires?
São impenetráveis os divinos mistérios, mas podia nunca a filha ser a esposa feliz daquele que lhe roubara o pai, embora tudo fizesse justo, depois, para substituí-lo?
As galas da boda se trocaram pela pompa fúnebre; e à noite, no corpo da igreja, ao lado da essa dourada via-se ajoelhado e imóvel um homem que ali velou naquela posição, até ao outro dia.
Era Aires de Lucena.
XVII
O ERMITÃO
Dias depois do funesto acontecimento, a escuna Maria da Glória estava fundeada no seio que forma junto às abas do morro do Catete.
Era o mesmo lugar, onde vinte anos antes se fazia a festa do batismo, no dia em que se dera o estranho desaparecimento da imagem da Senhora da Glória, padroeira da escuna.
Na praia, estava um ermitão vestido de esclavina, seguindo com o olhar o batel que largara do navio e singrava para terra.
Abicando à praia, saltou dele Antônio de Caminha, e foi direito ao ermitão a quem entregou a imagem de Nossa Senhora da Glória.
Recebeu-a o ermitão de joelhos e erguendo-se disse para o mancebo:
— Ide com Deus, Antônio de Caminha, e perdoai-me todo o mal que vos fiz. A escuna e quanto foi meu vos pertence: sede feliz.
— E vós, senhor Aires de Lucena?
— Esse acabou; o que vedes não é mais que um ermitão, e não carece de nome, pois nada mais quer e nem espera dos homens.
Abraçou Aires ao mancebo, e afastou-se galgando a íngreme encosta do outeiro, com a imagem de Nossa Senhora da Glória cingida ao seio.
Na tarde daquele dia, a escuna desfraldou as velas e deixou o porto do Rio de Janeiro, onde nunca mais se ouviu falar dela, sendo crença geral que andava outra vez encantada pelo mar oceano, com seu capitão Aires de Lucena e toda a maruja.
Poucos anos depois dos sucessos que aí ficam relatados, começou a correr pela cidade a nova de um ermitão que aparecera no outeiro do Catete, e fazia ali vida de solitário, habitando uma gruta no meio das brenhas, e fugindo por todos os modos à comunicação com o mundo.
Contava-se que, alta noite, rompia do seio da mata um murmúrio soturno, como o do vento nos palmares; mas, que, aplicando-se bem o ouvido, se conhecia ser o canto do terço ou da ladainha. Esse fato, referiam-no sobretudo os pescadores, que ao saírem ao mar, tinham muitas vezes, quando a brisa estava serena e de feição, ouvido aquela reza misteriosa.
Um dia, dois moços caçadores galgando a íngreme encosta do outeiro, a custo chegaram ao cimo, onde descobriram a gruta, que servia de refúgio ao ermitão. Este desaparecera, mal os pressentiu; todavia, puderam eles notar-lhe a nobre figura e aspecto venerável.
Trajava uma esclavina de burel pardo que lhe deixava ver os braços e artelhos. A longa barba grisalha lhe descia até ao peito, misturada aos cabelos caídos sobre as espáduas e como ela hirtos, assanhados e cheios de maravalhas.
No momento em que o surpreenderam os dois caçadores, estava o ermitão de joelhos diante de um nicho, que ele próprio cavara na rocha viva, e no qual via-se a imagem de Nossa Senhora da Glória, alumiada por uma candeia de barro vermelho, grosseiramente fabricada.
Na gruta, havia apenas uma bilha do mesmo barro e uma panela, na qual extraía o ermitão o azeite da mamona, que macerava entre dois seixos.
A cama era o chão duro, e servia-lhe de travesseiro um toro de pau.
Estes contos feitos pelos dois moços caçadores excitaram ao último ponto a curiosidade de toda a gente de São Sebastião, e desde o dia seguinte muitos se botaram para o outeiro, movidos pelo desejo de verificarem por si mesmo, com os próprios olhos, a verdade do que se dizia.
Frustrou-se-lhes, porém, o intento. Não lhes foi possível atinar com o caminho da gruta; e o que mais admirava, até os dois caçadores que o tinham achado na véspera, estavam de todo o ponto desnorteados.
Ao cabo de grande porfia, descobriram que havia o caminho desaparecido pelo desmoronamento de uma grande rocha, a qual formava uma como ponte suspensa sobre o despenhadeiro da íngreme escarpa.
Acreditou o povo que só Nossa Senhora da Glória podia ter operado aquele milagre, pois não havia homem capaz de tamanho esforço, no pequeno espaço de horas que decorrera depois da primeira entrada dos caçadores.
Na opinião dos mestres beatos, a Virgem Santíssima queria significar por aquele modo sua vontade de ser adorada em segredo e longe das vistas pelo ermitão; o que era, acrescentavam, um sinal de graça mui particular, que só obtinham raros e afortunados devotos.
Desde então, ninguém mais se animou a subir ao píncaro do outeiro, onde estava o nicho de Nossa Senhora da Glória; porém, vinham muitos fiéis até ao lugar onde se fendera a rocha, para verem os sinais vivos do milagre.
Foi por esse tempo também que o povo começou a designar o outeiro do Catete, pela invocação de Nossa Senhora da Glória; donde veio o nome que tem hoje esse bairro da cidade.
XVIII
O MENDIGO
Estava a findar o ano de 1659.
Ainda vivia Duarte de Morais, então com sessenta e cinco anos, mas viúvo da boa Úrsula, que o deixara havia dez para ir esperá-lo no céu.
Era por tarde, tarde cálida, mas formosa, como são as do Rio de Janeiro durante o verão.
O velho estava sentado em um banco à porta de casa, tomando o fresco e cismando nos tempos idos, quando se não distraía em ver os meninos que folgavam pela rua.
Um mendigo, coberto de andrajos e arrimado a uma muleta, aproximou-se e parando em frente ao velho esteve por muito tempo a olhá-lo, e à casa, que aliás não merecia tamanha atenção.
Notou, afinal, o velho Duarte aquela insistência, e remexendo no largo bolso da véstia, lá sacou um real, com que acenou ao mendigo.
Este com um riso pungente, que lhe contraiu as feições já decompostas, achegou-se para receber a esmola. Apertando convulso a mão do velho, beijou-a com expressão de humildade e respeito.
Não se demorou, porém, arrancando-se à comoção e afastou-se rápido. Sentiu o velho Duarte ao recolher a mão que ela ficara úmida do pranto do mendigo. Seus olhos cansados da velhice acompanharam o vulto coberto de andrajos; e já este havia desaparecido, que ainda eles estendiam pelo espaço a sua muda interrogação.
Quem havia no mundo ainda para derramar aquele pranto de ternura ao encontrá-lo a ele, pobre peregrino da vida que chegava só ao termo da romagem?
— Antônio de Caminha! murmuraram os frouxos lábios do velho.
Não se enganara Duarte de Morais. Era de feito Antônio de Caminha, quem ele entrevira mais com o coração do que com a vista já turva, entre a barba esquálida e as rugas precoces do rosto macilento do mendigo.
Que desgraças tinham abatido o gentil cavalheiro nos anos decorridos?
Partido do porto do Rio de Janeiro, Antônio de Caminha aproou para Lisboa, onde contava gozar das riquezas, que lhe havia legado Aires de Lucena, quando morrera para o mundo.
Caminha era dessa têmpera de homens, que não possuindo em si bastante fortaleza de ânimo para resistir ao infortúnio, buscam atordoar-se.
O golpe que sofrera com a perda de Maria da Glória o lançou na vida de prazeres e dissipações, qual outrora a vivera Aires de Lucena, se não era ainda mais desregrada.
Chegado à Bahia, por onde fez escala, foi Antônio de Caminha arrastado pelo fausto que havia na então capital do Estado do Brasil, e de que nos deixou notícia o cronista Gabriel Soares.
A escuna, outrora consagrada à Virgem Puríssima, transformou-se em uma taverna de bródios e convívios. No tombadilho, onde os rudes marinheiros ajoelhavam para invocar a proteção da sua gloriosa padroeira, não se via agora senão a mesa dos banquetes, nem se escutavam mais que falas de amor e bocejos de ébrios.
A dama, em tenção de quem se davam esses festins, era uma cortesã da cidade do Salvador, tão notável pela formosura, como pelos escândalos com que afrontava a moral e a igreja.
Um dia, teve a pecadora a fantasia de trocar o nome de Maria da Glória que tinha a escuna, pelo de Maria dos Prazeres que ela trouxera da pia, e tão próprio lhe saíra.
Com o espírito anuviado pelos vapores do vinho, não teve Antônio de Caminha força, nem vontade de resistir ao requebro d’olhos que lançou-lhe a dama.
Bruno, o velho Bruno, indignou-se quando soube disso, que para ele era uma profanação. À sua voz severa, os marujos sentiram-se abalados; mas, o capitão afogou-lhes os escrúpulos em novas libações. Essas almas rudes e viris, já o vício as tinha enervado.
Naquela mesma tarde, consumou-se a profanação. A escuna recebeu o nome da cortesã; e o velho, da amurada onde assistira à cerimônia, arrojou-se ao mar, lançando ao navio esta praga:
— A Senhora da Glória te castigue, e àqueles que te fizeram alcouce de barregãs.
XIX
A PENITÊNCIA
Antes de findar a semana largou a escuna Maria dos Prazeres do porto do Salvador, com o dia sereno e mar de bonança, por uma formosa manhã de Abril.
Tempo mais de feição para a partida não o podiam desejar os marujos; e todavia despediam-se eles tristes e soturnos da linda cidade do Salvador e de suas formosas colinas.
Ao suspender do ferro, partira-se a amarra, deixando a âncora no fundo, o que era mau agouro para a viagem. Mas, Antônio de Caminha riu-se do terror de sua gente, e meteu o caso à bulha.
— Isto quer dizer que havemos de tornar breve a esta boa terra, pois cá nos fica a âncora do navio, e a de nós outros.
Singrava a escuna dias depois com todo o pano, cutelos e varredouras. Estava o sol a pino; os marujos dormitavam abrigados pela sombra das velas.
À proa assomava dentre as ondas um rochedo que servia de pouso a grande quantidade de alcatrazes ou corvos do mar, cujos pios lúgubres ululavam pelas solidões do oceano.
Era a ilha de Fernando de Noronha.
Ao passar fronteira a escuna, caiu um pegão de vento, que arrebatou o navio e o despedaçou contra os rochedos, como se fora uma concha da praia.
Antônio de Caminha, que sesteava em seu camarim, depois de muitas horas, ao dar acordo de si, achou-se estendido no meio de uma restinga sem atinar em como fora para ali transportado, e o que era feito de seu navio.
Só ao alvorecer, quando o mar rejeitou os destroços da escuna e os corpos de seus companheiros, compreendeu ele o que era passado.
Muitos anos viveu o mancebo ali, naquele rochedo deserto, nutrindo-se de mariscos e ovos de alcatrazes, e habitando uma gruta, que usurpara a esses companheiros de seu exílio.
Às vezes, branquejava uma vela no horizonte; mas, debalde fazia ele sinais e lançava não gritos já, mas rugidos de desespero. O navio singrava além e perdia-se na imensidade dos mares.
Afinal, recolheu-o um bergantim que tornava ao reino. Eram passados anos, dos quais perdera a conta. Ninguém já se lembrava dele.
Várias vezes, tentou Caminha a fortuna, que se de todas lhe sorriu, foi só para mais cruel tornar-lhe o malogro das esperanças. Quando ia medrando, e a vida se embelecia aos raios da felicidade, vinha o sopro da fatalidade que de novo o abatia.
Mudava de profissão, mas não mudava de sorte. Afinal, cansou na luta, resignando-se a viver da caridade pública, e a morrer quando esta o desamparasse.
Um pensamento, porém, o dominava, que o trazia constantemente à ribeira, onde suplicava a todos os marítimos que passavam, a esmola de levá-lo ao Rio de Janeiro.
Achou, enfim, quem dele se comiserasse; e ao cabo de bem anos aportara a São Sebastião. Chegara naquela hora e atravessava a cidade, quando viu o tio à porta da casa.
Deixando o velho Duarte, seguiu além pelo Boqueirão da Carioca, e foi até à abra que ficava nas faldas do outeiro do Catete, no mesmo ponto em que trinta anos antes se despedira de Aires de Lucena.
Galgou a encosta pelo trilho que então vira tomar o corsário, e achou-se no tope do outeiro. Aí o surpreendeu um gemido que saía da próxima gruta.
Penetrou o mendigo na caverna, e viu prostrado por terra o corpo imóvel de um ermitão. Ao ruído de seus passos, soergueu este as pálpebras, e seus olhos baços se iluminaram.
A custo, levantou a mão apontando para a imagem de Nossa Senhora da Glória, posta em seu nicho à entrada da gruta; e cerrou de novo os olhos.
Já não era deste mundo.
EPÍLOGO
Antônio de Caminha aceitou o legado de Aires de Lucena.
Vestiu a esclavina do finado ermitão, e tomou conta da gruta onde aquele vivera tantos anos.
Viera àquele sítio como em santa romaria para obter perdão do agravo que fizera à imagem de Nossa Senhora da Glória, e chegara justamente quando expirava o ermitão que a servia.
Resolveu, pois, consagrar o resto de sua vida a expiar nessa devoção a sua culpa; e todos os anos no dia da Assunção, levantava uma capela volante, onde celebrava-se a glória da Virgem Puríssima.
Toda a gente de São Sebastião e muita de fora ia em romagem ao outeiro levar as suas promessas e esmolas, com as quais pôde Antônio de Caminha construir em 1671 uma tosca ermida de taipa, no mesmo sítio onde está a igreja.
Com o andar dos tempos, arruinou-se a ermida, sobretudo depois que, entrado pelos anos, rendeu alma ao Criador o ermitão que a tinha edificado.
Antônio de Caminha finou-se em cheiro de santidade, e foi a seu rogo sepultado junto do primeiro ermitão do outeiro, cujo segredo morreu com ele.
Mais tarde, já no século passado, quando a grande mata do Catete foi roteada e o povoado estendeu-se pelas aprazíveis encostas, houve ali uma chácara, cujo terreno abrangia o outeiro e suas cercanias.
Tendo-se formado uma irmandade para a veneração de Nossa Senhora da Glória, que tantos milagres fazia, os donos da chácara do Catete cederam o outeiro para a edificação de uma igreja decente e seu patrimônio.
Foi, então, que se tratou de construir o templo, que atualmente existe, ao qual se deu começo em 1714.
FIM
ADVERTÊNCIA
Este alfarrábio, não o devo ao meu velho cronista do Passeio Público. É, como se disse no prólogo, uma escavação dos tempos escolásticos.
Tem ele, porém, se me não engano, o mesmo sabor de antigüidade que os outros, e ao folheá-lo estou que o leitor há de sentir o bafio de velhice, que respira das coisas por muito tempo guardadas.
Para alguns, esse mofo literário é desagradável. Há, porém, antiquários que acham particular encanto nestas exsudações do passado, que ressumam dos velhos monumentos e dos velhos livros.
A ALMA
DO
LÁZARO
PRIMEIRA PARTE
A ALMA PENADA
I
Triste irrisão é a glória.
Quantos engenhos sublimes, criados para as arrojadas concepções, que ficam aí tolhidos pelo estalão do viver banal, senão sepultos em vida na indiferença, quando não é no desprezo das turbas?
Também, quanta ralé, feita para patinhar no pó, que se ala às eminências, insuflada pelos parvos, e se apavona com as galas da celebridade?
E dizer que homens de são juízo labutam ou porfiam após esse fogo-fátuo, e deslumbram-se a ponto de esquecerem afetos e bens, sacrificados em má hora à ilusão falaz!
Lá volvem os anos; e um dia vem à flor da terra o crânio que foi um poeta, ou um herói. Quem se importa com o sobejo dos vermes? É um pouco de cal e nada mais. Não tarda que a pata do homem ou do bruto, passando por aí, triture esse pó, a que animou outrora o sopro de Deus, mens divinior.
O autor do Diário do Lázaro foi um de tantos engenhos, atados à grilheta da miséria. Poeta desconhecido, enquanto a sua alma inspirada se derramava em ânsias e prantos, o bestunto de muito zote agaloado lá se estava enfunando com os aplausos, furtados à virtude e saber.
Foi há muito tempo.
Era eu estudante na academia de Olinda. Tinha, então, dezenove anos, e sentia minhas quedas para a poesia, mas pela poesia plebéia, em prosa estirada, que isso de verso é coisa com que não se conformava o meu espírito. Vão lá medir o pensamento, rimar as paixões?
Muitas vezes, sucedia-me nas vigílias do estudo apanhar o eu em flagrante delito de literatura, a idear romances e fantasiar dramas, enquanto lá o outro, o estudante de carne e osso, tressuava às voltas com o Corpus Juris Civilis.
Qual é a alma que nas primeiras expansões da vida, a dilatar-se pelos largos horizontes desta terra do Brasil; a embeber-se nas ondas de luz, que imergem dessa porção mimosa da criação; a coar-se nas harmonias das brisas que passam pelas florestas, não solta o vôo e se arroja ao céu, embora o calor do sol lhe requeime as asas, precipitando-a num oceano, que é a dúvida!
Era poeta; posso confessá-lo, agora, que essa veleidade passou de uma feita e já não voltará mais.
Tinha a febre da imaginação que delira, envolvendo-se como em uma crisálida, no prisma de suas ilusões.
Olinda, a velha cidade em ruínas, abrigando no seio a mocidade rica de seiva e de vida, o passado com todas as suas gloriosas recordações, e o futuro com as suas brilhantes esperanças; essa aliança misteriosa de dois mundos, de duas gerações, uma apenas em flor, a outra já cinzas, separadas pelo tempo, e reunidas pelas vicissitudes da existência humana, me impressionava profundamente.
A descuidosa jovialidade da vida do estudante, o riso franco, o dito chistoso, a magra ceia que o prazer fazia lauta, o descante livre, tudo isto que em outra cena seria tão natural, me parecia uma profanação no meio desses muros aluídos, desses claustros ermos, sobre esse túmulo de uma população extinta, à face dessa cidade múmia.
Meu gosto era vagar à calada da noite por aquelas ruas solitárias, quando cessava o arruído, quando a palpitação e o resfolgar de emprestada existência já não galvanizava o cadáver da nobre e florescente vila de Duarte Coelho.
De ordinário, ia sentar-me no adro desse convento do Carmo, esqueleto de pedra, cuja ossada gigante o tempo ainda não tinha de todo arruinado. De um lado, sobre a quebrada que faz a montanha, descortinava-se o mar límpido e calmo; de outro, erguia-se a massa informe da cidade, recortando o seu perfil no azul do céu.
O silêncio que pesava sobre aquela solidão era, apenas, interrompido pelo esvoaçar dalguma ave noturna no âmbito do claustro, pelo estalido das fendas que se abriam nos muros, e pelo atrito das escoras soltas das velhas paredes.
Às vezes, a lua vinha dar a esta cena triste e grave traços fantásticos, e um toque de sua doce e suave melancolia. Os raios da luz pálida e alvacenta, esbatendo-se nas pedras do átrio, enfiando pelas largas frestas, e debuxando nos claros sombras esguias, criavam mil formas incertas e vacilantes.
Era por momentos como um vasto lençol que amortalhava as ruínas do antigo edifício; logo depois, afiguravam-se vultos de carmelitas cobertos da alva estamenha, a percorrer o claustro solitário, e a murmurar as sagradas litanias; alguma vez, parecia-me ver passar diante de meus olhos uma dessas lâminas, de que a imaginação popular em outras eras povoou os templos abandonados.
Aí as recordações históricas, dormidas sobre este solo, em cada pedra que tombara das antigas construções, acordavam umas após outras no meu espírito, e me faziam reviver na memória os dois séculos que tinham volvido sobre as diversas gerações de homens e de casas, de que apenas restavam alguns nomes e alguns muros.
O mar a perder-se no horizonte lembrava-me a flotilha de Duarte Coelho, o donatário de Pernambuco, aportando àquela costa em 1535, e trazendo a seu bordo a colônia que nesse mesmo ano fundou a vila de Olinda, com o auxílio dos chefes índios, Miraubí, Itagipe e Itabira, e das suas tribos selvagens.
Lembrava-me a grande armada holandesa comandada por Lecoq, que surgiu a 14 de Fevereiro de 1631 diante da cidade, e em alguns dias assenhoreou-se dela com fácil vitória, pelo terror que se apoderou dos habitantes, apesar dos esforços de Matias de Albuquerque.
Lembrava-me os combates navais das forças espanholas e portuguesas contra os holandeses, especialmente o de 12 de Setembro de 1631, em que Pater, depois de sete horas de peleja, batido por Oquendo, abandonado da tripulação em sua nau presa das chamas, preferiu à salvação, que tinha por desonra, uma morte gloriosa, e, envolvendo-se na bandeira nacional, sepultou-se no oceano, único túmulo digno de um almirante batavo.
O istmo, os fortes do Mar e de São Jorge, o antigo colégio dos Jesuítas e o convento de São Francisco, recordavam a resistência heróica dos poucos que não abandonaram o seu general na defesa da colônia, mas que, afinal, foram obrigados a ceder ao número.
Os edifícios em ruína ainda tinham gravados nos seus muros os vestígios do incêndio que em 1631 os holandeses lançaram à cidade, quando reconheceram a impossibilidade de conservá-la e a necessidade de concentrar-se no povoado do Recife. Além, a várzea que se estendia pela margem direita do Beberibe, semeada de quintas e de jardins, apresentava ainda o sítio desse Arraial do Bom Jesus, centro da resistência heróica, com que durante o espaço de cinco anos os pernambucanos fizeram esquecer por feitos e ações gloriosas, dignas da idade homérica, um momento de fraqueza e temor na rendição da colônia.
Enfim, aquela solidão e silêncio testemunhavam a decadência de Olinda, que a fundação da cidade Maurícia, mais do que o incêndio, apressara, sobretudo depois que a guerra civil dos Mascates lhe roubou, para dar à sua rival, a primazia como capital de Pernambuco.
E quando todas essas recordações tinham voado e revoado por meu espírito, interrogava os muros do convento e os cômoros de pedras, como para arrancar-lhes o segredo de algum fato interessante de que se perdera a tradição, ou a palavra de algum drama desconhecido, que o coração naturalmente representara a par com acontecimentos políticos.
A guerra, o incêndio, a luta das raças, as revoluções não passaram por aí sem o cortejo infalível das paixões humanas. Os feitos de armas, as ações de heroísmo, o morticínio, o crime e a virtude em suas enérgicas manifestações, deviam prender-se necessariamente por um fio misterioso a alguma história de amor, ou a algum episódio de vingança.
Era justamente essa crônica do coração, esquecida pelos analistas do tempo, que eu pedia àquelas ruínas.
Quantas vezes, não sondei esses destroços de alvenaria, essas paredes nuas, procurando, nem sei o que, uma memória, um nome, uma inscrição, uma frase que me revelasse algum mistério, que me dissesse o epílogo de alguma lenda que a imaginação completaria!
Mas, o velho convento ficava mudo e impassível: os muros, lavados pela chuva e pelo vento, estavam descarnados; as pedras já não conservavam os vestígios da mão do homem; e a eloqüência do silêncio, que plainava sobre o templo, dizia apenas a ruína.
Cansado, extenuado de corpo e espírito, partia-me depois de duas ou três horas de meditação e de investigações inúteis, trazendo ainda para a insônia as impressões várias, as reflexões profundas que despertara essa evocação do passado.
No dia seguinte, voltava; não me podia resignar à idéia de que esse claustro não guardasse para mim alguma revelação poética; tinha um pressentimento, que mais tarde devia realizar-se, de um modo inesperado.
Eis como.
II
Uma noite, seriam onze horas passadas, estava eu sentado no adro do convento. Fazia luar; porém, o céu nublava-se; o ar era pesado, o mar sem ondulações arquejava como opresso; a chama fosforescente do relâmpago iluminava a fímbria das nuvens escuras. Uma grande tempestade estava iminente.
Enquanto a natureza preparava e dispunha a cena em que os elementos iam representar, estive embebido a contemplar os progressos da borrasca; mas, quando a primeira gota, umedecendo as lajes, anunciou-me a chuva, imediatamente e como por encanto acalmou-se a sede ardente de poesia e mistério que me devorava.
Ergui-me, com ânimo de ganhar a casa sem demora.
Mas, os joelhos dobraram-se, e um frio de gelo correu-me pelo corpo, arrufando a pele e erriçando-me os cabelos; foi-me preciso grande esforço para dominar-me, e vencer o susto pueril que me tomara de surpresa.
Tinha ouvido uma voz trêmula que rezava cantando à surdina uma ladainha de igreja; e pareceu-me que, afinal, chegara a ocasião de ver surgir diante de mim um desses fantasmas que nas minhas extravagantes elucubrações, eu tantas vezes evocara.
Revesti-me de coragem; voltei-me para o interior do convento, e adiantei-me alguns passos na direção da voz, que murmurava sempre as suas rezas de cantochão.
De repente, numa paveia de luz que enfiava por larga brecha do teto prestes a desmoronar-se, destacou-se um vulto de alta estatura, envolto numa túnica preta e roçagante, sobre a qual a longa barba branca brilhava com os reflexos da lua. Avançava lentamente, apoiando-se sobre um báculo que trazia na mão esquerda.
Julguei... Nem sei o que julguei, de tantas e tão encontradas que foram as idéias que me assaltaram, então. Entre outras, pareceu-me ver o fantasma de um dos antigos priores do Carmo, acabando de oficiar em pontifical e tornando à sua cela.
Recuei instintivamente; e com esse movimento, projetando-me no claro de uma janela, fui percebido do vulto, que por sua vez também estacou, soltando uma exclamação de espanto ou de surpresa.
Decorreu um instante em que ambos, com os olhos fitos, nos examinamos reciprocamente; o que se passava no seu espírito não o podia adivinhar; o que se passou no meu, qualquer, ainda o mais destemido, pode bem supor. Afinal, o vulto endireitou para mim, e veio se aproximando; cosi-me com a parede, e esperei-o.
Quando ele chegou a dois passos, conheci o meu engano, e estive para soltar uma gargalhada, escarnecendo de mim mesmo. O meu fantasma era apenas um velho pescador; a túnica preta e roçagante uma rede de malhas; e o báculo de prior não passava de um remo de canoa.
— Bendito e louvado seja o Senhor! foi a saudação que me dirigiu.
— Deus lhe dê boa-noite, respondi eu já de ânimo sereno.
— Para o servir, e a vossa senhoria no que mandar deste seu servo.
— Obrigado, meu velho.
Essa cortesia antiga, inspirada na religião, e a voz grave e arrastada do velho, junto à expressão doce de seu rosto, me excitaram viva simpatia.
— Vai hoje muito tarde para a pesca? disse-lhe eu reatando o fio do diálogo.
— Quem sabe quando irei? A tempestade não tarda conosco. Cuidei que adiantava saindo mais cedo, e afinal de contas atrasei.
— Mora longe daqui?
— Lá embaixo! respondeu, apontando para a praia que se prolonga ao norte.
Os relâmpagos fuzilavam amiúde; e a chuva começava a bater no telhado.
— Então, tenha vossa senhoria boa-noite; vou ver se me arranjo para passar o aguaceiro, que promete durar.
— Ah! veio abrigar-se aqui? E não tem medo deste teto esburacado e destas paredes rachadas?
— Será o que Deus for servido. Não é a primeira vez que me tem sucedido ficar aqui boa parte da noite, e até hoje nenhum mal disto me veio.
— Ora, diga-me uma coisa?...
— O que é, meu senhor?
— Por que cantava baixinho uma... ladainha, se não me engano?
O velho sorriu com brandura.
— Era o terço. Minha mãe me recomendou que cantasse sempre que houvesse tempestade; e isto me ficou desde menino.
Estava tudo explicado. A minha visão fantástica tinha-se desvanecido, deixando a realidade do encontro simples e natural com um pescador que fora ao convento abrigar-se da chuva.
Pensei em recolher-me.
— Sabe por que lhe fiz esta pergunta?
— Vossa senhoria me dirá, respondeu o velho.
— Pois confesso-lhe que me causou um grande susto. Quando ouvi a sua cantiga, e o vi de longe no meio destas ruínas, tão fora de horas, cuidei que era... Acredite! Uma alma do outro mundo.
— Ainda sou deste, graças a Deus, disse o pescador sorrindo: bem que por pouco tempo.
— Há de sê-lo por muitos anos.
O velho abanou a cabeça.
— Os oitenta já lá vão. Mas deixe dizer-lhe... Também a mim, quando o enxerguei, no que a vista me ajuda, sucedeu-me quase a mesma coisa.
— Também causei-lhe susto?
— Susto, não; nesta idade a gente já não se teme, senão daquele que está no céu para nos julgar a todos: porém, assim um espanto, como se visse uma pessoa que não se espera mais ver, aqui embaixo.
— Já falecida?
— Senhor, sim.
— Quem?
— Oh! o senhor ainda não era nascido, quando isto foi.
— Há muitos anos então?
— Se eu já lhes perdi a conta!
— Conte-me isso.
— São coisas velhas que já não lembram a ninguém. Levariam muito tempo.
— Não faz mal.
— Melhor é que vossa senhoria se guarde da chuva que aí está de pancada; eu vou fazer outro tanto.
Se eu mesmo perdia uma história do século passado, uma anedota de cabelos brancos, uma antigualha qualquer, depois de tê-la procurado inutilmente durante mais de cinco meses!
— Por mim, não tenha cuidado, respondi: trate de acomodar-se, e se não tiver sono, conversaremos.
— Sono de velho é o descanso do corpo. Venha vossa senhoria já que assim o quer.
Chegamo-nos a um dos ângulos do velho convento, onde algumas paredes interiores formavam outrora uma sacristia: o pavimento do primeiro andar não tinha ainda desabado nesse lugar.
O velho enrolou a rede de que fez uma espécie de almofada; tirou fogo do fuzil e acendeu o cachimbo, enquanto eu, sentado sobre um troço de parede, e devorado pela curiosidade, preparava o meu cigarro.
III
Começou o velho:
— Fazem, se quer que lhe diga, não sei quantos anos. Era eu tamanino como esta minha pá de remo.
“O pai vivia da pesca, como o avô; porque isto de pescador parece que é ofício de família, que vai passando de filho a neto. Quase todas as noites ele me levava consigo quando ia ao mar; e pequeno como era sabia arrumar a canoa e botá-la ao largo.
“Já então costumava o pai na volta da pescaria descansar aqui. Punha a canoa em seco; deixava passar o resto da noite, e lá pela madrugada íamos vender o peixe ao Recife, porque em Olinda, afora a clerezia, tudo o mais era miuçalha.
“Havia ali assim no fundo do convento, bem na praia, uma casa velha, tão velha que estava cai, não cai. Também os donos, ninguém mais sabia deles. Nem viva alma ali morava.
“Uma noite, lá do largo, a gente viu uma luz acesa na janela da banda do mar. Eram que horas! Não tardava um instantinho que amanhecesse.
“— Estás vendo, Tonico?”
A voz do pescador tornou-se trêmula; e à tênue claridade da lua encoberta vi-o que enxugava com a mão rude e calosa uma lágrima de saudade.
— Meu nome de batismo é Antônio. Porém o pai e a mãe chamavam a gente de Tonico.
Essa emoção de um velho de oitenta anos, recordando-se do apelido familiar da meninice, essa memória poderosa do coração que através de uma longa existência cheia de vicissitudes e trabalhos refletia com todo o colorido os quadros singelos da infância, tocou-me.
Achei sublime isto, que outros acharão ridículo talvez.
O velho continuou, passada aquela primeira emoção:
“Eu nem respondi ao pai. Estava tremendo.
“— Quem andará ali?... A que tempos a casa velha está abandonada!... Não seja...
“O pai fez o pelo-sinal. Eu rezava baixinho uma Ave-Maria.
“— Nossa Senhora de Nazaré nos defenda. Rema, rapaz, que o vento escasseou, e a vela está bamba!
“A luz de vez em quando apagava-se como farol que naquele tempo inda nem sonhava...
“Quando a gente chegou em terra, conheceu que a luz saía mesmo da janela da casa, e que o motivo de sumir-se e aparecer era uma figura preta que passava e tornava a passar por diante, como um homem que ia e vinha.
“Mas, havia um poder de anos, a casa não tinha morador, nem criatura de Deus ali entrava.
“Na outra noite, na outra e na outra, sempre a mesma coisa, tanto que o pai não se pôde mais ter, e foi ao sr. Bispo e lhe contou tudo. O santo homem sossegou a gente: disse que era um pobre moço doente que veio morar na casa velha, porque todos fugiam dele, com medo da doença.
“— Que doença? perguntei eu.
“— O moço era como o que foi ressuscitado pelo Cristo!
“— Lázaro?...
“— Senhor, sim. Agora, quantos andam por aí como ele? Mas, naquele tempo não era assim: a gente pensava que aquilo era uma praga.
“Meu pai também cuidava, mas tinha bom coração; e ficou mais descansado, sabendo quem era o morador da casa velha, do que antes quando pensava que ali andava coisa de bruxa.
“Uma vez... já se tinham passado quantos dias depois da luz aparecida! Era pela madrugada; nós estávamos a tirar a canoa para terra. Eis senão quando vimos o moço em pé no adro do convento, como inda agora vi o senhor. E isto me fez alembrar!...
“Esteve um pedaço bom; depois veio caminhando mansinho para cá.
“O pai quis fugir. Ele que deu pela coisa parou, mais que depressa, e foi dizendo:
“— Não tenha medo... Não fuja que eu volto.
“Disse estas falas, assim com uma voz tão doce e tão penada que o pai teve dó dele e ficou com vergonha:
“— Não fujo, não. Precisa de alguma coisa? Diga!...
“— Não preciso de nada!... Saí porque este vento me faz bem!... Estou queimando! Não o tinha visto, senão... Sei que não devo chegar-me para os outros.
“— A moléstia é para a gente ter medo; mas, também falar só de longe não faz mal, disse o pai.
“— Oh! Há quanto tempo que não troco uma palavra com um ser humano!
“— E está-lhe doendo muito?
“— Horrivelmente!... Porém, o que dói no corpo é o menos!
“Ele se assentou e nós continuamos a enxugar a canoa, sempre de olho nele.
“— É para vender o seu peixe?...
“— É, senhor, sim.
“Foi ele, e disse então como um pobre que pede esmola:
“— Se eu quisesse comprar um?...
“O pai ficou arrepiado.
“— Não sei!... dizem que a gente não deve tocar.
“— Escute!... Deite o peixe aí, na pedra, e fuja com o pequeno. Eu vou buscá-lo e deixo o dinheiro. Deste modo...
“— Não precisa! Aí tem o peixe. Quanto ao dinheiro há de carecer.
“Meu dito, meu feito. O moço foi, e deixou na pedra uma moeda de tostão. O pai, quem viu! Nem lhe quis tocar. Mas o menino nem se importa com doença! Tirante das almas do outro mundo, não tinha medo de nada.
“Alembrou-me que a mãe precisava de uma vela de cera benta. A dela, de tanto acender quando nós andávamos no mar e ventava rijo, já estava num toco. Mal que o pai começou de passar pelo sono, fui eu devagarinho, e zás! apanhei o dinheiro; lavei bem lavado, e escondi no seio para que ninguém visse.
“No outro dia, comprei a vela para a mãe. Foi preciso pregar uma mentira. Primeira e derradeira. Era para não assustar a gente em casa. Deus me deve ter perdoado pelo motivo que foi.”
O velho fez uma pausa.
— Chove a valer!... Mau tempo de garoupas!...
— Talvez estie ao amanhecer.
— Se o vento rondar... Mas, naquela noite, que eu dizia, quando o moço saiu, já o pai estava dormindo. Vou eu, dou-lhe o peixe como da véspera, e ele deixou o dinheiro na pedra. A gente naquela idade gosta de saber tudo. Eu quis ver o que ele estava fazendo acordado até tão tarde, e pus-me a espiar pela fresta da porta. Jesus! o corpo me tremia que nem linha de anzol quando o peixe fisga!
“Ele... o moço, estava assando o peixe. Depois comeu sem farinha, sem nada. Bebeu água, só. Vai por fim, lava as mãos e começa de escrever num livro que estava na caixinha...”
— Que caixinha?... perguntei, interrompendo o velho.
— A caixinha de folha! retrucou, surpreso da pergunta.
— Já sei...
— Ora! onde estava eu com a cabeça. Cuidava que já tinha dito... Mas não! Era uma caixa, assim por este tamanho. Também ele não tinha mais trastes senão aquele.
“Tive tanto dó... Apanhei o dinheiro, lavei como na outra noite, mas foi para comprar farinha. Trouxe às escondidas do pai, que ralhava-me se soubesse.
“Não sei como foi; mas no cabo duma semana eu estava tão amigo dele, que levávamos a conversar toda a noite de enfiada, e assim, perto um do outro. Tudo que precisava, era eu que comprava. A ele não vendiam: tinham medo do dinheiro. E o coitado, antes queria vela para estar escrevendo, que o bocado para comer.
“Como são as coisas... Já entrava pela casa dentro, sem pinga de medo. Queria-lhe bem a ele; também ele me queria. Um dia perguntei como se chamava.
“Sabe que respondeu?
“— Não tenho nome!... Todos me chamam leproso.
“— Mas seu nome de batismo?
“— Era Francisco.
“Outra vez, por meus pecados, disse:
“— Por que passa todo o santo dia e mais a noite a escrever? Isto faz mal.
“Que olhos que me deitou! Ainda me alembro.
“— Estes livros são a minh’alma. O que tu vês em mim, Tonico, são os ossos que a lepra vai roendo.
“Cruzes! Tive um medo... das falas e dos olhos com que me olhou.
“E foi guardando os livros e desatou num pranto, num pranto... que parecia um menino a chorar.
“Por esse tempo, a gente de Olinda já andava alvoroçada com a estada do moço na casa velha. Diziam, que falso testemunho! que ele andava empestando a cidade. O rebuliço foi crescendo e um bando saiu a gritar pelas ruas, e foi e requereu ao juiz do povo que pusesse o leproso para fora, senão haviam de mandar procurador a El-Rei.
“Dois dias, com tanto mar e vento que fez, o pai não saiu.
“Fiquei banzando com a idéia que o pobre moço não tinha quem lhe comprasse a comida. De noite me veio um sonho, e acordei soluçando.
“— Que tens, Tonico?... De que choras?... perguntou minha mãe.
“— Ele não tem o que comer!...
“Isto me saiu sem querer, quando ainda estava tonto do sono.
“— Ele quem?...
“Vi que era sonho e calei a boca; porém, não preguei mais olho.
“Logo na outra noite, enquanto o pai descansava, corri ao quarto do moço; a porta estava cerrada; mas havia luz dentro.
“Ele estava sentado junto da mesa com a testa encostada na caixa onde guardava os livros. A vela ia-se acabando. Pensei que estava chorando como às vezes costumava, e levantei a cabeça dele com pena.
“Santo nome de Jesus! Soltei um grito! Estava morto! E tinha morrido de fome.
“Quando foram à casa velha para deitá-lo fora, só acharam o corpo que enterraram na praia. A gente da cidade ficou descansada.
“Mas eu, quem via que podia dormir! Era um sonho atrás do outro. Aqui então! mesmo acordado, estava vendo a cada passo aquele vulto de preto com seu rosto triste. Ele que me aparecia tão amiúde, tinha coisa que me pedir.
“O que era?... Pus-me a parafusar!... Vai senão quando me alembrou aquele dito dos livros:
“São a minh’alma.”
“E não era outra coisa! O corpo que saía da terra, é que a alma andava penando por este mundo! Queria que enterrasse a caixa para seu repouso e descanso dele.
“Porém, eu entrar mais na casa? Quem viu!
“Só de me alembrar, os cabelos espetavam, e corria-me pelas costas um suor tão frio.
“Foi Deus, que as paredes de fora caíram; e então um domingo, depois da missa, com os outros rapazes que andavam brincando na praia, fomos e puxámos a caixa; com uma vara, cavou-se um buraco e enterrou-se.”
— Onde? perguntei eu com ansiedade.
— Por fora dessa parede em que o senhor está encostado. Meu pai tinha-se deitado mais longe: e eu depois daquela noite não me animava a sair de perto dele.
“Quando acabei de enterrar a caixa, pareceu que me tiravam um peso do coração. Ele ainda me apareceu uma vez. Foi para agradecer... Depois não voltou.
“Deus tenha sua alma.”
IV
O velho tinha acabado a sua história, que eu ouvia com uma atenção religiosa:
— Por isso, é que tanto me alembrei dele!... Foi ali mesmo, assim todo vestido de preto, que me apareceu pela primeira vez.
Não escutava mais o pescador; estava cheio da idéia de possuir os manuscritos que me faziam palpitar, como se fossem um tesouro. E eram realmente um tesouro para mim.
— Diga-me!... É capaz de acertar com o lugar em que enterrou a caixa?
— Com os olhos fechados!... Os anos que foram já apagaram muita coisa, mas aqueles tempos de menino, parece que estão voltando!
— Pois venha mostrar-me.
O velho ergueu-se. Saímos do convento e beiramos a parede que olha o mar. Depois de alguns passos, ele parou.
— Porque é que o senhor quer saber?
Hesitei; adivinhava o escrúpulo do velho.
— Por simples curiosidade.
— É aqui! disse ele abaixando a mão.
— Está certo?...
— Estou vendo!
E o pescador ajoelhou-se e fez uma oração. Compreendi que ele respeitava aquela cova como se fosse realmente uma sepultura.
Não perturbei o seu recolhimento, e esperei que terminasse.
— Empresta-me o seu remo?
— Para quê? perguntou-me estremecendo.
— Para desenterrar a caixa.
— Isso nunca!
— Por quê?... Pensa que esses livros são realmente a sua alma?
— Ele disse.
— Mas Deus não quer que a alma fique na terra como o corpo; ela deve voltar ao céu. É o que desejo fazer.
O velho abanou a cabeça.
— Ouça!..... Se a alma desse moço está nos livros, para que ela volte ao céu é preciso que entre em outras almas vivas. Aquilo que ele escreveu deve ser lido...
Foi-me preciso aceitar a crença do velho que era muito profunda, para ser abalada.
Procurei tirar dela argumentos que o convencessem de que não entrava nas minhas intenções cometer um sacrilégio.
O pescador refletiu.
— Mas, se isto é verdade, por que razão ele me pediu que enterrasse a caixa?...
Tive uma inspiração.
— Quando ele morreu — respondi — ninguém se animaria a tocar no que lhe pertencia, com receio da moléstia. Os livros ficariam perdidos... Por isso, pediu-lhe que os enterrasse. Mais tarde devia alguém achar...
— Há de ser isto!
Cavamos três palmos; creio que se abrisse o túmulo de um ente que me fosse caro, não sentiria as emoções por que passei naquele momento. O pescador, na ingenuidade de sua crença, tinha razão: era alma de um homem, talvez de um poeta, que estava ali sepultada.
A chuva, que caíra a cântaros, amolecera o terreno, e facilitara o trabalho; depois de um quarto de hora de escavação, o pescador tirou do chão uma caixa de folha, que teria dois palmos de comprimento sobre um e meio de largo, e já inteiramente oxidada.
Despedi-me do velho, a quem fiz aceitar a muito custo a pequena espórtula que comportavam as magras economias do estudante, e carregando com o meu tesouro, recolhi-me.
Ao despedir-me, o meu companheiro pediu-me um favor.
— Quando o senhor abrir a caixa, se pudesse ser....
— Fale! Não tenha receio.
— Eu queria saber o que ele escreveu... Talvez não entenda!
— Fique descansado.
Ensinei-lhe a minha casa, onde ele foi muitas vezes, e onde passou horas e horas, a escutar a leitura que eu lhe fazia de alguns trechos dos livros.
Chegando à casa, não dormi; eram quatro horas da madrugada, e não tinha sono. Abri, ou antes arrombei a caixa, e achei dentro três volumes in-fólio, cobertos de pergaminho, uma pequena mecha de cabelos grisalhos, uma flor seca que se desfez em pó quando a toquei, e uma bolsa com algumas moedas de cobre.
Dos volumes in-fólio, dois escritos de principio a fim com uma letra grossa e trêmula, continham alguns episódios da guerra holandesa e da crônica dos tempos coloniais; o seu autor lhes dera o título singelo de — Histórias que me contou minha mãe.
O terceiro volume era um diário, escrito com pequenas interrupções; não tinha título, nem fora concluído.
Estavam todos em tal estado que me foi preciso copiá-los à pressa; e assim mesmo em muitos lugares as letras com a umidade tinham-se apagado de modo que só pelo sentido pude adivinhar as palavras.
São estes livros que hoje começo a dar à estampa.
Talvez a alguém cause reparo porque vinte e tantos anos decorreram e só agora me resolvi a publicá-los?
A razão é simples.
Quando, pela primeira vez, li o diário do lázaro, convenci-me que o estilo, embora simples e terso, carecia de ser retocado ao gosto da época; e dei-me a esse trabalho. Apenas, vesti de novo a primeira parte, me arrependi; quis-me parecer que era uma profanação tirar ao pensamento do escritor a sua frase rude às vezes, mas sempre expressiva: rasguei o que tinha escrito para escrever de novo.
Demais, achava a primeira parte do livro tão triste a cortar-me o coração, que receava publicá-la. Ao mesmo tempo que não me sofria a consciência deixar ignorada a memória do escritor, cujas obras queria dar à estampa: pois essa parte de que falo é o diário.
Foi então que a ambição me veio tomar no melhor dos sonhos da mocidade e conduziu-me ao través de uma vida sempre agitada à quadra dos desenganos, na qual me deixou isolado, mas tranqüilo.
Voltei, então, para os meus estudos literários, reli com imenso prazer os meus esboços de obras mal alinhavadas, os meus versos truncados, e revi a minha juventude naquelas relíquias das primeiras inspirações.
Entre esses papéis velhos deparei com a cópia ou versão do antigo manuscrito. Lembrei-me do que prometera ao velho, e senti como um remorso de haver por tanto tempo conservado no esquecimento a alma desse ignoto poeta do século passado.
Este livro é pois um voto.
SEGUNDA PARTE
O DIÁRIO
1752
7 de março
Estou só no mundo.
Minha mãe morreu... Pobre mãe... Antes assim! Devias sofrer muito a ver teu filho asco e horror da gente... Mas, por que me deixaste neste vale de lágrimas?
Minha alma morreu contigo. Vivem as úlceras que devoram estes restos de corpo, sobejo da enfermidade terrível! Sem ti, que me consolavas, que sofrias comigo da minha angústia, que vai ser de mim neste exílio?...
Resta-me uma irmã.
Foi... Agora, tem outra família. Ela me quer, bem sei, e com amor. Mas, sou um estranho para os seus. Meto-lhe medo. Não por ela... Por seus filhos. E tem razão.
Tu só, mãe, não tinhas nojo de meu hálito de peste! Tu só não te arreceavas do fogo que me abrasa o sangue! Tu só não me abandonaste, enquanto o Senhor não te chamou!
Devia chamar-nos a ambos.
A quem direi agora a minha dor, se tu não estás aqui para ouvi-la? Ao vento, para levá-la à gente que me escarnece?... Sim, ao vento! Fossem peçonha minhas palavras, que eu as cuspiria sobre eles sem dó, como dó não tiveram do mísero, de mim.
Perdoai-me, Senhor!... Menti! Eles não me fizeram nenhum mal. Que culpa têm do castigo que pesa sobre o infeliz?...
Quando estavas ao meu lado, mãe, eras alívio ao meu padecimento. Meu gemido ia ao teu coração; e por não te ver sofrer, eu sofria menos.
8 de março
Vi-te pela última vez.
A terra abriu-se para roubar-te aos meus braços. Se não me tivessem arrancado!... Eu dormiria em teu seio o último sono, como dormi o primeiro, feliz e tranqüilo.
Este anel de cabelos é tudo que me resta de ti. Mas tu vives em minha alma.
Eu te sinto em mim. Falo-te; me respondes.
9 de março
Que profunda é a solidão desta casa, depois que tu não a habitas comigo!
Parece-me um túmulo.
Na sepultura em que descansas na igreja de São Pedro Gonçalves, não sentes nem o peso da terra, nem o prurido dos vermes. Tua alma, branca e pura, goza no seio do Criador.
Na minha sepultura, eu me sinto asfixiar pelo silêncio, que me é mortalha. Quando alguma vez o burburinho do mundo penetra aqui, é para despertar a modorra da agonia.
A noite desce, como a lousa fria e negra. Ah! se ela me trouxesse o repouso!... Mas, é só morte ao coração, à fé, à crença. A dor vive em meu cadáver.
Quando tu aqui estavas, vinham ainda ver-te algumas velhas amigas de infância. Tão santa coisa é a afeição!... Vencia o receio e a repugnância que eu lhes inspirava.
Agora, ninguém virá. Luísa não pode, nem deve. É minha irmã; mas é mãe. Não o fora, que eu lhe pediria para não vir. Sofreria mais da compaixão dela, que não sofro do meu suplício.
Amigos, nunca os tive. Parentes já não os tenho. Depois que morri, não me conhecem... Sim! conhecem-me, quando me fogem.
Maria, a nossa escrava, é o único ser humano, com quem falo. Ao menos, tem a forma... Deve existir uma alma ali dentro.
10 de março
Depois que me deixaste, mãe, sinto um consolo imenso em escrever. É como se te falasse.
Comecei hoje a tirar sobre o papel, do coração onde as tenho intactas, aquelas bonitas histórias, que aprendestes de meu avô. Foram-me bálsamo, ouvidas de teus lábios nas horas da vigília; porque o espírito ia-se nelas, e o fogo queimava só uma carne insensível. São-me conforto agora contra o desânimo que me invade. Escrevendo-as estou contigo. A ternura que derramaste nela é um santo óleo. Vaza-me do seio, onde o verteste, e unge-me. Tuas palavras, escuto-as ainda. Deu-lhes tua alma uma voz, para que murmurem assim ao meu ouvido?
A recordar o que me contaste, vivo nesse tempo bom de fé e heroísmo. Não me admiram feitos grandes que houve então. O espírito respirava na estima do povo, como se respira o ar na atmosfera, um ressaibo de nobreza. Era mãe a pátria, que defendiam filhos dedicados. Foi depois que a fizeram senhora, mal servida por fâmulos interesseiros.
Mal de mim que não nasci naquele tempo!... Não me negariam o direito de morrer, combatendo pela independência da minha terra. O soldado, que a todo instante via a morte, não se temeria do contacto de um pobre enfermo... A bala do arcabuz, ou o golpe da lança, é mais terrível do que a lepra.
Nesta era, o soldado fez-se aventureiro. Joga a vida pelo lucro. Se me oferecesse por companheiro seu, me haviam de repelir. O mais bravo fugiria de mim! Que horrível anátema trago impresso na fronte!...
11 de março
Luísa veio ver-me. Tarde, bem tarde da noite, para evitar suspeitas.
Parece que o mundo reputa crime consolar uma irmã a seu irmão aflito! Mas o irmão é um leproso!... Seu marido lhe perdoaria talvez se ela voltasse com o lábio manchado pelo beijo adúltero. Nunca, se esse lábio tivesse bafejado a face ardente do mísero enfermo.
Deliro!...
Esta visita fez-me mal. Sou injusto. Luísa me ama; não teme o contágio, ou se o teme, seu amor por mim é mais forte. Quis abraçar-me!... Fui eu que a repeli!... a ela, o único ente que não me foge!
Amo-a eu mais do que a ti, mãe, para ter essa coragem?...
Não! É que tu me pertencias, como eu a ti. É que nos tínhamos dado um ao outro, naturalmente, sem esforço, sem sacrifício. É que eu vivia nos teus braços, como tinha vivido nas tuas entranhas, ligado pelo mesmo elo, o teu amor.
Luísa veio para comunicar-me a sua resolução, dela e de seu marido. Não quer a parte que lhe cabe da nossa pequena herança; deixa-me tudo, porque necessito mais, e não posso trabalhar.
Recusei e não lhe agradeci.
Como rala essa compaixão! Tem-me por um homem inútil, incapaz de ganhar o sustento para o corpo. Por fim, ela pensa bem. Quem aceitará a obra tocada por minhas mãos, e impregnada do meu suor?
12 de março
Passei toda a manhã a ensinar a Maria as orações que aprendi em teu colo.
Não as compreende, nem sabe repeti-las comigo! Que sono profundo dorme essa alma! Nada a perturba. O corpo ali move-se pelo instinto, ou talvez pelo hábito...
Contudo, é uma criatura humana. Ouve... E eu sinto um prazer inconcebível em falar a alguém!..
16 de março
Esses dias tenho levado a escrever o meu livro.
Dei-lhe um título bem mesquinho para os outros, que não lhe sabem a significação; mas bem gentil e, sobretudo, bem verdadeiro para mim.
Chamei-o: Livro das histórias que me contou minha mãe.
Tenho delas acabado a primeira. É a história de D. Maria de Sousa. Também ela foi mãe e sofreu por seus filhos; também ela foi grande pelo heroísmo, e forte pela constância.
Mas, como tu, que vinte anos acompanhaste a tortura incessante daquele que geraste para tua pena, sem nunca soltar uma queixa; como tu, não quero que tenha existido ou possa existir outra mãe.
Pesa-me que não estejas aqui, ouvindo-me para ler-te o meu livro! Acho-o melhor do que nunca esperei de mim. Acho-o bonito. Tem alguma coisa daquela singeleza dos teus contos.
Mas, que estou eu dizendo?... Tu me ouves! Tu leste no meu espírito, muito antes que as palavras se formassem, e que a pena as lançasse no papel!
17 de março
Estive a refletir num projeto. É talvez uma loucura. E o que são todos os projetos do homem, miserável criatura, de quem zomba o tempo e a fortuna?
Lembrei-me de dar à estampa o meu livro.
Talvez, naqueles que o lessem, excitasse eu alguma simpatia. Não me conhecendo, nem sabendo o meu nome, a repugnância que inspiro não mataria o interesse pelo autor obscuro e ignorado.
Tenho tanta sede de afeição, depois que a tua me deixou vazio o coração!... Sentir-me querido, ainda, mesmo de longe, e envolto no mistério, seria uma suprema ventura!
Demais, quem sabe?... Salvaria deste martírio estéril e desta vida inútil alguma coisa.
Um nome, que fosse!
O nome é segunda vida. É a vida do futuro.
Não lhe chamam glória?...
18 de março
Maria voltou da feira sem as compras do dia.
Perguntei-lhe a causa.
Achou palavras para me dizer. Os regatÕes recusam receber o dinheiro que passou por minhas mãos!
Meu Deus!... Dai-me força para sofrer com resignação! Preciso dela! Sinto a razão vacilar. Por vezes, já mordi nos lábios a blasfêmia que ia escapar-me.
Têm nojo do meu dinheiro! Se o tivesse roubado, o aceitariam: mas toquei-o, e o rei, que o manda correr, não protege um lázaro.
Felizmente, Maria teve fome.
O instinto serviu-lhe de inteligência. Engenhou meio de comprar o necessário. Deu ao andador da irmandade do Sacramento uma moeda de esmola.
O troco, os regatões não duvidaram recebê-lo.
19 de março
Saí hoje pela primeira vez.
A notícia de minha enfermidade divulgou-se de um modo espantoso. Quando passava, apontavam-me de longe. Murmuravam meu nome. Paravam para olhar-me. Admiravam-se talvez de ver-me ainda feições humanas.
Realmente, um lázaro não é mais um homem. Foi concebido pela mulher, mas a praga o abortou. No terror que infunde é fera; no asco que excita é verme.
Oh! não... Há um fio que ainda me prende à humanidade. É a compaixão brutal e escarninha do mundo. Mata-se a fera; esmaga-se o verme. Mas não me tiram a mim esse tênue sopro que anima um resquício de vida.
Seria um assassínio! Seria um crime! E há nada mais infame do que um crime inútil?...
Quando me lembro que tantos homens gastam sua existência numa luta incessante para haver uma sombra, que chamam fama, rio-me deles e de mim.
Os feitos do guerreiro, os livros do sábio, serviços à república e linhagens de fidalgos, andam ignorados ou esquecidos pela turba, vária nas suas paixões. Ninguém sabe, ninguém lembra porque aquela cabeça encaneceu, porque aquela face rugou.
E eu tenho, sem buscar, o que tanto eles buscam sem achar! Toda a cidade repete meu nome. Que importa que esse nome seja o de lázaro? Toda gente me conhece. Que importa que me evite?
Viver na voz dos povos, não é isso que tantos ambicionam?...
20 de março
Era noite; sentia-me abrasar no leito.
Precisava de ar, de espaço, de movimento. Ergui-me, e vaguei durante uma hora pelas rua já desertas. A noite, ao menos, traz o mistério. Perco a minha triste celebridade. Passo como uma sombra entre as outras sombras que dormem na terra.
A sede que tinha de ar, no sangue e na cabeça, levou-me à borda do mar. Fui sentar-me perto das Cinco Pontas, sobre algumas pedras que a maré deixara em seco.
A brisa fresca e cortante que vinha do largo impregnada das úmidas exalações das ondas batia-me em cheio no rosto. Banhava-me, como a veia de um rio. Aspirei as emanações salitrosas do oceano. A volúpia que eu sentia nesse respirar do ar livre, não sei se a gozarão outros colhendo beijos na boca virgem de sua noiva.
O vento!... Oh! ninguém sabe que delícias me trazem os seus acres perfumes! Que sedas e cambraias são as refegas dele para o corpo devorado da febre, quando o sangue escalda nas veias!
O vento!... É o túmulo que eu terei um dia. Quando morrer, ninguém se animará a tocar no meu corpo para dá-lo à terra. Hão de queimá-lo, por que não infeccione o ar. E as minhas cinzas, então, soltas ao vento, voarão com ele sobre esse vasto e imenso oceano.
A maré começava a encher. As ondinhas, debruçando-se umas pelas outras, todas frocadas de espumas, brincavam como um bando de cordeirinhos que retouça sobre a relva ao pôr do sol. Algumas espreguiçando-se pelas areias vinham lamber-me os pés e quase os tocavam.
Não sei que ilusão me alheara o espírito. De as contemplar, de as admirar, a essas ondinhas travessas, foi-me parecendo que tinham alma, para sentir. E, de repente, ao ver que se chegavam para mim e me festejavam, enterneci-me e chorei.
Chorei, sim!... Tão órfão estou eu de afeições, que as procuro até na matéria inerte!... Tão acostumado ando a me fugirem, que já me surpreende ver um objeto ainda inanimado aproximar-se de mim, obedecendo à sua lei física.
Rompeu-me esse enleio d’alma uma voz doce e melodiosa. Soltava ela aos sopros da viração as frases singelas de uma canção.
Ergui a cabeça. A alguns passos se elevava uma pequena casa. Dela entrava pelo mar um terrado coberto de arvoredo. O vulto de uma menina, vestida de branco, se destacava na borda do jardim, onde quebravam as ondas.
Era dela a voz.
Pude distinguir ao luzir das estrelas os seus movimentos. Tinha as duas mãozinhas cruzadas sobre o peito; os olhos no céu. Rezava: eram cantos as suas rezas.
Não retive da letra mais do que esta invocação — Ave-Maria! Mas achei o verso tão simples e o ritmo tão suave, que me parece o tenho ainda no coração. Foram-se as palavras e os tons, só ficou o sentimento.
Assim, de uma flor que se desfolha, ficam no espaço ondas de perfume.
Mal que terminou a sua melodiosa oração a menina voltou à casa, correndo e saltando por entre as moitas do jardim.
Também eu voltei. As ondas me expulsaram de seu leito.
22 de março
Decorei finalmente as endeixas que tamanha impressão me fizeram, da primeira vez que as ouvi, pela sua singeleza.
A menina canta-as todas as noites, ao nascer da estrela d’alva. É uma Ave-Maria graciosa e pura; inspirou-a o amor filial santificado pela religião.
Tornei a ouvi-la ontem, e hoje ainda ouço o eco a murmurejar-me dentro d’alma.
Quero escrevê-la.
Os homens ricos de prazeres e afeições desfloram apenas as suas alegrias; quando o quisessem, não teriam tempo de estancar-lhes a última gota de essência.
Fazem como as crianças que babujam e provam de todos os frutos, e de nenhum se fartam.
Esses pródigos de sua alma não compreendem decerto a usura dos pobres e deserdados, como eu, qunndo Deus lhes depara no deserto da vida com um óbolo de prazer.
Avaro de sua migalha, que lhe é tesouro, não se cansa de a gozar; vive nela, sonha dela. Quer senti-la por todos os modos e a todos os instantes.
Assim fui eu com aqueles versos, que muitos acharão mesquinhos; mas, ou fosse pela voz harmoniosa que os dissera, ou pelo desvelo e saudade que respiravam, ou pela cadência suave do ritmo, me infundiram não sei que doce melancolia.
É outra coisa que os felizes não compreendem. Como a melancolia, é supremo júbilo para as almas imersas num continuado descrer e numa acerba tristeza.
Mas a canção... Não me saciei de a escutar, de a recordar, de a repetir às vagas que rumorejavam na praia. Quero senti-la pelos olhos. Já a ouvi tantas vezes, ainda não a vi.
Esquecer-me-ia?...
Não! — Lembro-me...
Ave, Maria! Ave, estrela,
Formosa estrela do mar!
Dá-me novas de meu pai,
Que se foi a navegar.
Por esses mares dalém
Vai seu brigue a bolinar.
— Leme à orça! Molha a vela!
E deixa o vento soprar.
A borrasca o não assusta:
Não se teme de afrontar;
Mas eu, que temo por ela,
Vivo somente a rezar.
Fio de ti, minha estrela,
Que o protejas sem cessar,
Faz que bem cedo ele possa
À minha mãe abraçar.
Dá-lhe tempo de bonança,
Mares de leite a sulcar;
Vento à feição, quanto baste
Para depressa chegar.
Ave, Maria! Ave, estrela,
Formosa estrela do mar!
Cheia de graça tu brilhas
A quem te sabe adorar.
Onde aprendeu aquela menina esta oração?... Quem lha ensinou? Porque a diz ela todas as noites?
23 de março
Cuidava que não podia haver maior isolamento do que o meu. Iludi-me. Agora é que o isolamento começa.
Luísa parte; seu marido deixa Pernambuco: vai-se a Lisboa.
E a causa sou dessa mudança. O que ainda me restava de família abandona a pátria, para quebrar os laços de sangue que nos prendem. É justo; é generoso também. Deixem-me, a mim só, o desprezo que inspiro. Não o quero partilhar. Basto eu para sofrê-lo.
Oh! Ainda me resta o orgulho da miséria. É uma dignidade como tantas outras, e um egoísmo; como os há poucos.
Minha irmã negou tudo. Deu-se a tratos para convencer-me que os interesses de seu marido eram a causa única dessa partida.
Pobre Luísa! Mentia.
Que desgraçado ente que sou eu!... Não faço sofrer só aos que me amam; obrigo-os ainda a se rebaixarem.
26 de março
Voltava de ver sumir-se no horizonte o navio que levou Luísa.
Cheguei à casa. Pela janela aberta, olhei o vulto da cidade a colear pela margem do rio, e disse de mim para mim pensando na gente que a habita:
— Estou só!
E me enganava ainda. Mal tinha murmurado aquelas palavras, veio Maria. Falou, o que raro sucedia. Pela primeira vez, cuido eu, disse uma coisa que se entendesse. A repulsão, que eu inspiro, foi-lhe raio de luz, na treva espessa de sua alma.
Pediu-me que a vendesse. Não mais quer servir-me... Tem medo do contágio...
Senhor!... Senhor!... A vossa misericórdia é infinita, como a vossa bondade inexaurível! E não chega para o aflito de mim, nem um óbolo sequer! Vergai-me sob o peso da vossa cólera, mas dai-me fé e resignação: e eu vos louvarei, meu Deus, na plenitude da minha dor.
Tenho eu culpa, se me criaste ente de razão? Por que me destes a inteligência? Não a tivera, que esta carne se iria consumindo no roer das úlceras, sem que soltasse uma queixa! Amparai-me, Senhor, amparai-me contra mim mesmo! Tenho medo de descrer!
29 de março
Do profundo da minha angústia, clamei ao Senhor, ele me ouviu, e enviou à terra um anjo para ungir-me da sua fé.
Santa coisa é a inocência!... Será que a alma pura e ignorante deste mundo está mais impressa do seio do criador, e mais próxima de seu berço? Quem pode saber, e quem dizer, se o que chamam razão, não é enfermidade do espírito preso à terra?
Naquela tarde aziaga, que me separou de Luísa, tomou-me o desespero e levou-me sem tino por essas ruas além. Vaguei, como animal, perdido do dono, e que todos enxotam. A mim, enxotavam-me de mim mesmo ânsias de acabar com tanto penar. Tinha horror à vida.
Ouço alarido: e logo vejo, a correr espavorida pelo caminho, a gente que passava. Ser de mim que fugiam, foi o que primeiro cuidei; mas vinham de meu lado, e nem me viam. Voltando-me conheci qual a causa do alvoroço. Um cão espritado que ia duma para outra banda, mordendo quem encontrava.
Bem claro percebi, quanto já não era deste mundo, pois daquilo fugia ele, que eu andava a procurar. Fui-me direito ao animal. Mas até o sabujo me tem asco. Parou bem junto de mim; roçou por mim e foi perto morder um pobre velho, a quem tardo levavam as pernas trôpegas dos anos.
Cheguei-me a ele, de quem já todos com medo se arredavam; e carregando-o nos braços, levei-o para a tenda do ferreiro mais próximo, onde lhe queimei a ferida com ferro em brasa. Mal se aplacou a dor, e soube o velho quem eu era, repeliu-me de si como uma coisa vil, e foi-se, sem voltar o rosto.
Quanto horror lhe causei!
1 de abril
Tornei às Cinco Pontas para ver a casa da menina da Ave-Maria, e ouvi-la cantar a sua oração de todas as noites.
Era lusco-fusco; e não me animei a aproximar da praia com receio de que, vendo-me, reconhecesse o miserável que sou e de quem todos fogem.
Os outros, já não estranho. Tão habituado estou à crueldade do mundo; mas ela?... não quero ser-lhe um objeto de repulsão. Ignore para sempre que existo, e possa eu de longe, em silêncio, contemplá-la, como a estrela do céu a que dirige sua prece.
Quando ela acabou de cantar, sentou-se no terrado, junto de uma roseira de Alexandria que estava coberta de flores, e ficou olhando o mar, onde com a ardentia se esfacelevam as vagas em chuva de pedrarias cintilantes.
Tinha de todo caído a noite; e já fazia bastante escuro, para que me pudesse aproximar sem receio. Avistou ela meu vulto, pois senti que seus olhos se fitavam nele; e não sei o que foi de mim, que não me lembrei mais onde estava, nem se vivia ainda neste vale de lágrimas.
Do que só me recordo é de encontrar-me, em tornando a mim, posto de joelhos, a soluçar um pranto em que parecia ir-se toda a minha alma. Quanto tempo estive assim, não o poderia dizer, nem o como isso sucedeu, tão alheio fiquei deste mundo e de suas misérias.
Deitei a medo os olhos para o terrado. Uma sombra alva perpassava entre as moitas do terrado. Era ela que recolhia vagarosamente.
Será possível, mãe, que eu ame neste mundo outra criatura com as abundâncias do coração e a santidade com que sempre te estremeci?...
2 de abril
Meu Deus!... Meu Deus! calcastes sobre mim, pobre verme da terra, a vossa mão onipotente, e eu não murmurei.
A peste soprou em minhas veias seu hálito de chamas, que me requeima o sangue e devora as carnes. Meu corpo, o que é senão um crivo de dores, e um inferno onde me abraso em vida?
Tudo sofrerei, resignado. Mas, Senhor, poupai-me a esse cruel martírio! Sentir-se a gente vil para aquela a quem vota seu amor!... Parece-me que ainda não tinha sofrido toda a degradação de minha pessoa. Contra a repulsão do mundo, revoltava-se minha alma que o despreza como a um ventre de misérias. Contra o nojo que, às vezes, tenho de mim mesmo, consola-me o pensamento de que meu ser purifica-se nessa chama em que me abraso.
Mas, contra ela, que posso eu senão abater-me no pó, e sumir-me como uma coisa hedionda em que não devem pousar jamais os seus meigos olhos?
Que tremendo suplício, mãe! Ter n’alma um afeto grande e imenso; porém, nesse afeto, uma abjeção maior que ele, uma vergonha que o remorde e o acabrunha!
Para que enviou-me o céu este afeto? Pensava eu, mãe, depois que te partiste, que de mim, deste ente votado ao sofrimento e à desgraça, já não podia sair uma doce efusão, mas somente a paixão cruel e implacável como a lepra que me corrói.
6 de abril
Sei-lhe o nome!
Foi esta noite. Lá estava ela, no terrado, olhando o mar, onde se escondera a vela branca do navio de seu pai.
Uma voz, era a de sua mãe, soltou o nome de Úrsula. Ergueu-se ela, e caminhou para a casa, dizendo com um modo brando e sossegado:
— Aí vou, mãe.
Úrsula!... Que suave encanto acho eu neste nome, que dantes nunca em mim despertou a menor atenção. Ouvia-o como um som qualquer; não passava de uma palavra indiferente. Agora, canta em minha alma como celeste harmonia, que me inunda todo o ser de júbilo.
Os sussurros da brisa, os murmúrios das ondas, as vozes do céu e da terra repetem para mim o mavioso nome, que me envolve em uma bem-aventurança.
Nos momentos em que a alma exubera e subleva-se com o esto do contentamento ou da mágoa, manam as abundâncias da paixão, em poemas e hinos.
Não careço eu de poesias, nem descantes, para transbordar as santas alegrias que me enchem o coração. Basta dizer baixinho, entre Deus e mim, o nome dela.
10 de abril
Ainda não tornei do abalo!
Não quisestes ouvir a minha prece! Como a vossa cólera é implacável, Senhor, que um só instante não se retira deste punhado de limo!
Era-me consolo, em meio das tribulaçÕes, aquela inocente devoção de adorar de longe entre as sombras da noite, o formoso vulto de Úrsula; e tanto vos supliquei arredásseis de mim os olhos dela, para não perceber-me no suave enlevo de a contemplar.
E esse consolo me negastes!
Ela reparou na minha insistência, e desde aí não voltou ao terrado, nem lhe vi mais que a sombra, quando canta da janela a sua Ave-Maria.
12 de abril
Apareceu esta noite.
Como costumava, rezou a sua oração da tarde, e ficou no terrado com os olhos engolfados no horizonte.
Eu que me havia escondido atrás de um coqueiro, para não assustá-la outra vez, como a visse distraída, criei ânimo para chegar-me e vê-la de mais perto.
De repente, voltou-se ela e pondo em mim seus olhos, que me deixaram transido e quedo, sem acordo para fugir, quando tudo eu dera para sepultar-me ali na terra, e subtrair-me à sua vista.
Ela, em vez de esquivar-se, como antes fizera, reclinou-se ao balaústre e começou a desfolhar os botões da roseira, soltando à fresca brisa do mar as pétalas que vinham farfalhar-me no rosto.
Por instantes, fiquei sem outro sentido, que não fosse uma delícia como nunca tive, nem cuidei que se pudesse gozar na terra, pois me parecia estar no céu, afagado pelas asas dos serafins do Senhor, a brincarem-me entre os cabelos e a borrifarem-me as faces de angélicos sorrisos.
Eis que no meio desse êxtase de ventura, caí em mim, arrojado ao abismo da minha miséria, como Satanás submergido nas trevas pela mão do Sempiterno!
Lembrou-me quem eu era, e o horror de mim mesmo espancou-me daqueles lugares.
Ainda o trago comigo! Ah mãe, por que não estás aqui a meu lado para reerguer-me desta abjeção em que me sinto! Tua palavra me daria força para exaltar esta alma abatida. Ao calor de teu seio, creio que se havia de regenerar esta natureza pusilânime.
15 de abril
Vejo-a todas as noites.
Sempre recostada ao balaústre, esfolhando ao vento as rosas fragrantes, entretém-se nesse brinco inocente até a hora de recolher.
Sabe ela que eu a devoro com os olhos, cá do meu refúgio?
Às vezes, receio que se tenha apercebido da minha presença constante naquele sítio; e é quando reclina-se mais no balaústre, e estende o colo, como se procurasse afirmar-se do que entrevira.
Nessas ocasiões, coso-me ao tronco do coqueiro, e deixo-me ficar sem movimento pelo resto da noite, até que recolhida ela, me posso esgueirar para casa.
16 de abril
Meu Deus! Meu Deus! Dai-me força para resistir-me, pois ma deste para sofrer este suplício atroz.
Ela, Úrsula, me conhece!
Esta noite, quando me esquecia a contemplá-la, seguro de mim, vi-a acenar com a mão, como se me chamasse! Duvidei que me pudesse ter descoberto ou sequer pressentido. Mas ela insistiu, e como não lhe obedecesse, enfadou-se.
O que se passou em mim, e qual poder oculto dominou meu ser, que sem vontade nem consciência, atirou-me de joelhos em face do terrado, com as mãos súplices e a fonte abatida, implorando compaixão para a minha infinda angústia?
Esteve Úrsula algum tempo a olhar-me, entre surpresa e aflita. Mas, por fim, ajoelhou também, erguendo as mãos ao céu, e eu ouvi o sussurro da sua prece.
Era por mim que rezava?
Não ouso crer. Depois que te partiste, mãe, lá na mansão em que habitas, acaso viste subir a Deus uma súplica, uma só, por este desgraçado?...
20 de abril
Infame sou eu, que de minha hediondez ousei erguer os olhos à mais bela das criaturas de Deus.
Como foi isto?... Como foi que me não aconteceu o horror que ainda me transe neste momento? Por que me fulminaste, Deus de Misericórdia, quando sem tento de mim, transpus a distância que me separava dela?
Mas não fui eu, que morreria ao primeiro passo. A insânia, que me arrancava a mim mesmo, apoderou-se deste esqueleto vil, e arrastou-o miseravelmente ao sopé do terrado.
Ao ver-me ali perto de si, Úrsula debruçada à balaustrada começou a defolhar as rosas sobre minha cabeça, rindo faceiramente de sua travessura.
Disto não tenho mais que uma vaga e tênue reminiscência, pois meus espíritos ainda estavam nesse momento alheios de mim com a grande torvação.
Colhia ela as rosas que me atirava e eu recolhia em meu seio. Correram assim as horas da noite, sem que as sentisse.
24 de abril
Todas as noites, as tenho passado naquele doce enlevo!
Ali, próximo a ela, sinto-me como outrora quando me recolhias em teu regaço, mãe, e à força de carinho me acalentavas a dor horrivel.
Como teus braços, outrora, cinge-me o olhar de Úrsula, e me envolve. As folhas das rosas, que ela esparge sobre mim, são carícias tão doces como eram teus beijos, mãe, quando derramavas em meu seio o bálsamo santo da tua alma.
Horas e horas ficamos ali, mudos a olhar-nos, eu repassando-me de sua imagem, ela talvez admirada, em sua ingênua isenção, do meu estranho pasmo.
Ontem, sem o sentir, rompeu-me do seio o seu nome, que meus lábios repetiam submissos, uma e muitas vezes, como as palavras de uma oração. Interrompeu-me a voz de Úrsula.
— Acha bonito meu nome?
Naquele instante, não atinei o sentido das palavras, tão absorto fiquei a ouvir a voz melodiosa que falava. Mas, quando entendesse, podia eu exprimir em linguagem o que se passava em meu ser, e pronunciar seu nome?
Movi a cabeça maquinalmente como se dissera: sim.
— E o seu? Qual é? perguntou-me ainda.
Meu nome?... Há no mundo para os desgraçados como eu outro nome que não seja o de miserável?... Tive outrora um; nem já me lembro qual fosse, pois há tanto tempo que ninguém o chama! Para ti, mãe, eu era o filho; para o mundo, o lázaro!
Não se abriram meus lábios; porém com o gesto supliquei-lhe silêncio.
Teve ela sombra do horrível mistério, que reclinou a fronte merencória? Não; se a menor suspeita passasse em seu espírito, a houvera espavorido.
Sua tristeza foi sem dúvida por não ver satisfeito seu desejo. As crianças são assim, tiranas e absolutas em seus caprichos.
27 de abril
Não mais voltarei àquele sítio! Não mais profanarei com a minha presença o olhar puro e santo do anjo que se comiserou de mim!
O mau espírito apoderou-se deste abjeto esqueleto, e fez dele um inferno. Revolvem-se em meu seio pensamentos que me enchem de pavor.
Quando, há duas horas, cheguei à praia, não vi Úrsula no lugar do costume, o que me deu ânimo para aproximar-me bem perto do terraço, na impaciência de entrevê-la através da folhagem.
Ela que se tinha escondido para surpreender-me, logo se debruçou no gradil, e estendeu para mim uma rosa que tinha na mão.
Pus-me de joelhos para recebê-la como uma graça celeste. Mas, Deus poupou-me a essa infâmia, abatendo sobre mim a sua cólera. Caí, prostrado ao chão, escondendo o rosto na poeira da terra.
E fugi como um louco!...
Como pôde esta miserável carcaça que me deu o Criador para repasto dos gusanos, como pôde conceber o vil desejo de tocar a sua hediondez a mão pura e imaculada da formosa donzela?
Deus fez o homem do limo da terra; da sânie, só tirou as vespas. Mas o virulento inseto apenas destila veneno; e o meu contágio é mais do que a peste; porque não só mata o corpo, como também a alma. É o contágio da abjeção.
Ah! os felizes que morrem na vida, levando a estima do mundo, não sabem o que é esse frio assassínio duma alma, que o mundo lapida, como se ela fora um perro danado, e cujo despojo lança-se ao monturo e queima-se para não contaminar os ares!
28 de abril
Tinha jurado não voltar ao eirado; e voltei arrastado por uma força a que não posso resistir.
Parecia-me que estava atado ao leito da dor, onde todo o dia me revolvi em uma angústia cruel, e todavia, ao toque de trindades, sem que desse tento de mim, caminhava como um espectro para aquele sítio, onde me disputam o céu e o inferno; porque ali está a fonte de meus júbilos e a antro de meus sofrimentos.
Assomava a luz no horizonte, como uma sultana a recostar-se nos estofados coxins de brocado azul recamado de branco. Nas folhas dos coqueiros, passava a brisa sutil ramalhando as verdes palmas.
Da terra, bordada de quintais e granjearias, se exalava, como de uma caçoula, a suave fragrância do campo. O mar dormia em bonança; e o colo da onda arfava mansamente, como o seio da criança engolfada em sonhos ridentes.
Derramava-se no espaço uma doçura inefável, que parecia manar do céu em um jorro de luz alva e macia. Parecia-me, às vezes, que eu sugava no teu peito, mãe, um sorvo de leite vigoroso, que me infundia saúde e contentamento.
Nunca, em minha vida, tive eu tamanha sede de ventura; também nunca a fortuna escarninha aproximara tão perto de meus lábios a taça falaz.
Ávido, precipitei-me sobre ela, e pior que Tântalo, a quem o destino apenas retraía o pábulo, a mim trocou-o no mais negro fel.
Traguei a minha própria peçonha; e não morri, não, porque a morte seria uma redenção, e eu não expiei ainda toda a minha culpa de haver nascido, para ser um arremedo de homem...
29 de abril
Não pude acabar ontem. Embruteceu-me o desespero, se não é que empederniu-me; pois nem gemer eu podia como a besta quando sofre...
Que medonho transe!
Tinha-me eu embuçado na sombra das árvores, que serviam de manto escuro, e não deixavam que ela entrevisse mais do que um vulto. Meu semblante, se o descobrisse à claridade da lua, não resistiria à hedionda catadura do maldito!
Do seio da terra, que é o meu só regaço, mãe, depois que perdi o teu, onde me conchegava no delírio da dor; das entranhas da noite, onde se gerou o aborto de peste que eu sou, estava alheio de mim na contemplação de Úrsula.
Eis rasga-se a escuridão e vomita sobre mim uma chama do inferno. Alaga o rúbido clarão todo o arvoredo, e cinge-me de uma labareda sinistra.
Corro; mas além está o luar alvacento, que amortalha-me em fantasma. Volvo esvairado sobre os passos, e entro de novo na flama vermelha que me persegue como a língua de Satanás.
Nisto surge o corpo alquebrado de um velho e afasta-se horrorizado.
— É o lázaro!... É o lázaro!...
Ainda ouvi o grito de angústia que despedaçou a alma de Úrsula, mas vindo doutro mundo, diverso daquele onde eu estava. Do mais não soube, até as alvoradas que me acharam estremunhando na vasa onde eu jazera o resto da noite; da noite dos outros, que não desta contínua e perpétua que se estende sobre minha vida.
Mas até o sono do jazigo me rouba a sorte ímpia.
30 de abril
Lembro-me agora! O velho é o mesmo que me repeliu, quando eu o acabava de salvar do cão danado. Daquela vez tinha razão: meu contacto o enchia de horror; mas desta, que mal lhe fiz eu para me precipitar nesta voragem do desespero?
4 de maio
Sei tudo!...
O velho é avô de Úrsula. Percebeu sem dúvida o aparecimento naquele sítio de um vulto suspeito, e quis reconhecê-lo.
Acendeu a fogueira, que devia esclarecer a minha figura, e fugiu aterrado, por si e pela neta.
Não lhe quero mal por isso.
Salvar a filha de seu sangue é um dever de todo homem. Em seu lugar eu faria mais. Exterminaria ali mesmo o pestiferado para que nunca mais ousasse envenenar o ar que ela, a inocente, respirava.
Úrsula não tornou, e eu rogo a Deus que não me apareça nunca mais. Assim terei ao menos o consolo de olhar os muros que a escondem à minha vista, mas não ao meu coração. Presente ela, nunca ousarei eu aproximar-me daqueles sítios.
O horror a afastou para sempre. Ainda bem! Ao menos não receberei dela o asco e desprezo que o mundo arremessa sobre mim; e poderei guardar dentro em minha alma, doce e compassiva, a linda imagem que me sorriu um dia através das agruras de uma mísera existência.
6 de maio
Misérrimo de mim!... Despedacei a flor que desabrochara entre as urzes de minha alma, e derramava nela o seu mago perfume!... Apaguei a estrela que rompera um instante a procela de minha vida, para infundir-me no seio uma luz celeste!
Úrsula anseia nas vascas da agonia e fui eu que a matei; foi o horror de minha miséria que a assassinou.
Quando presenti a fatal nova, pela agitação que ia na casa, perdi toda a razão, e precipitei-me pelos aposentos em busca da câmara, onde se finava a minha única e fugaz alegria deste mundo.
Perceberam-me os da família; e esquecendo um instante a sua dor, esbordoaram-me com tamanha ira que ali caí sem espírito, com o corpo macerado.
Despertou-me uma reza cantada ali perto, e as luzes das tochas que desfilavam pela praia.
Era o enterro de Úrsula.
Levaram-na à igreja de São Pedro Gonçalves. Vi deporem seu ataúde na essa rodeada de tocheiros e guardada pelas beatas.
À meia-noite, voltarei.
7 de maio
Introduzi-me na igreja por uma janela baixa da sacristia, cuja grade estava carcomida.
Vendo à luz baça dos tocheiros assomar um vulto, as beatas fugiram assombradas. Fiquei só ali em frente do ataúde.
Nesse momento, Úrsula me pertencia; ninguém a disputava à minha adoração.
Como era bela no eterno sono em que repousava do mundo e de suas misérias! Tinha nos lábios aquele mesmo sorriso que derramava sobre mim, agora tocado de um reflexo lívido. Estava branca e imaculada como os anjos; eram níveas como as faces as rosas que lhe cingiam os bastos cabelos crespos.
Quis beijá-la e recuei!... Ainda morta, e brevemente pasto de vermes, não ousei profanar o despojo santo da formosa criatura.
Nesse momento, ouço rumor do lado da sacristia. É a gente curiosa que vem trazida pelas beatas, para espancar o espectro. Querem roubar-ma outra vez!...
Mas não o conseguirão! Hei de disputá-la até aos vermes e ao pó da terra.
Cingindo ao peito o corpo de Úrsula, arrojei-me fora da igreja, e vim depositá-lo aqui, onde ninguém ousará perseguir-me. As portas estão escâncaras, dia e noite batidas pelo vento; guarda-as porém uma fera mais terrível que Cérbero, a peste.
Agora sim, Úrsula, tu me pertences para sempre, como eu a ti.
Que se passa?
Ouço a plebe a rugir lá fora; uma chama súbita enrosca-se pela treva como o dragão.
Compreendo: deitaram fogo à casa para exterminar o maldito!
Graça, meu Deus! Este fogo me redimirá da maldição que pesa sobre mim, e purificará meu ser. Assim ao menos poderão minhas cinzas se unirem com as de Úrsula!
Bem-vindas, chamas amigas! Aqui estamos; cingí-nos, abraçai-nos, para que em vosso seio fecundo, celebremos as núpcias da eternidade.
9 de maio
Eis-me outra vez no mundo e só... Só não; que me acompanham ainda e sempre o meu desespero e a sanha do mundo.
O fogo não me quis; teve asco de mim, como tivera o mar, e o cão danado. Não ousou tocar-me; tal é a repulsão que derramo em torno.
Com o incêndio, abateu-se uma parede do aposento em que me achava, levantando a extremidade oposta do soalho com tal violência, que me arremessou pela janela em cima de um telhado, donde escorreguei ao chão.
Só pela madrugada, pude arrastar-me ao montão de ruínas e deitar-me no brasido onde jaziam as cinzas de Úrsula.
Daqui, desse mesmo lugar que ninguém disputaria a um cão, expulsou-me o ódio da gente.
.........................
Assim terminava o canhenho do lázaro. Expulso do Recife, pela plebe irritada com os últimos sucessos, refugiou-se na casa abandonada de Olinda, onde terminou afinal a imensa e cruel agonia de uma existência nunca vivida, mas tão penada.
FIM
©2002 — José de Alencar
Versão para eBook
eBooksBrasil
__________________
Setembro 2002
Proibido todo e qualquer uso comercial.
Se você pagou por esse livro
VOCÊ FOI ROUBADO!
Você tem este e muitos outros títulos
GRÁTIS
direto na fonte:
eBooksBrasil.org
Edições em pdf e eBookLibris
eBooksBrasil.org
__________________
Março 2006
eBookLibris
© 2006 eBooksBrasil.org