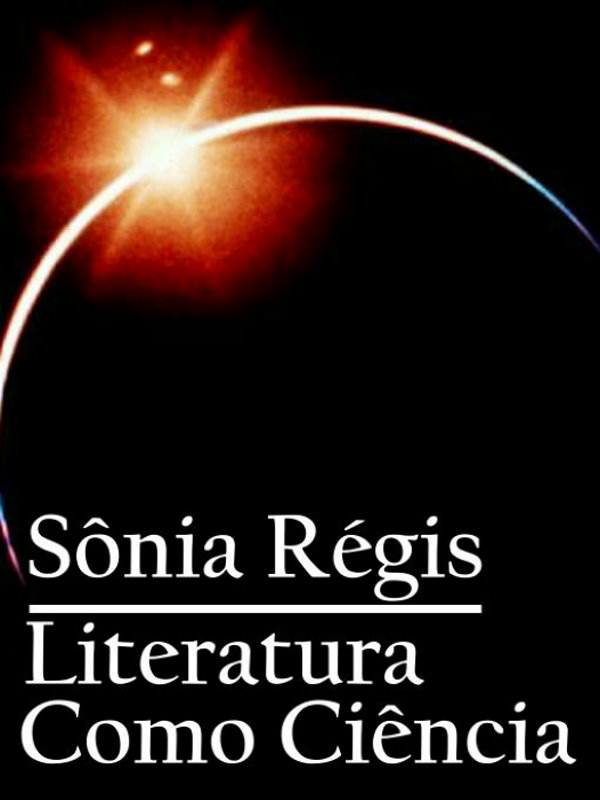
Literatura Como Ciência
Sônia Régis
Fonte Digital
Documento da Autora
Versão para eBook
eBooksBrasil.org
© 2000 Sônia Régis
sregis@terra.com.br
SÔNIA RÉGIS
LITERATURA COMO CIÊNCIATese de doutorado
Programa de Comunicação e Semiótica
PUC/SP
1996ROTEIRO
Introdução: Uma ciência literária
(literatura como conhecimento)
1. Estruturas semânticas como modelos de gnose
(das teogonias à "science fiction")
2. A razão poética
(semiose e memória coletiva)
3. A lógica da escrita
(experiência e informação)
Conclusão: A ciência literária
(sentimento, conduta pensamento)
Bibliografia
Je n'ay pas plus faict mon livre que mon livre m'a faict, livre consubstantiel à son auther, d'une occupation propre, membre de ma vie; non d'une occupation et fin tierce et estrangere comme tous autres livres."
Montaigne
(Essais II, chapitre XVIII, "Du dementir".)
INTRODUÇÃO
Uma ciência literária
(literatura como conhecimento)
"...venho de outra margem,
senão de outra ponta
(de uma margem que não é sobretudo francesa,
nem européia, nem latina, nem cristã)."
Jacques Derrida (L'Autre Cap)
Em 1848, E. A. Poe, escritor de grande inventividade e observador apaixonado das estrelas, escreveu Eureka, acreditando, de início, estar apresentando ao mundo uma nova cosmologia. “O que propus revolucionará a seu tempo o mundo da ciência física e metafísica”, afirmou em carta sua profunda convicção. A descoberta pareceu-lhe tão importante quanto a da lei da gravidade, de Newton. No entanto, comprovada a ilusão, restou-lhe apor uma introdução ao texto e pedir ao leitor que o julgasse como um poema, “pela Beleza que de sua Verdade brota, tornando-o verdadeiro”. Um poema admirável, em que registra toda a poeticidade de seu desejo de conhecimento.
Num ensaio publicado em junho de 1845, na “United States Magazine and Democratic Review”, Poe referiu-se a um fato que vinha ocupando a pesquisa científica da época, o do negror da noite, que enfrentou com o conceito poético e quase místico das “paredes douradas”. “Baixa os olhos para as distâncias abismais! — tenta lançar os olhos sobre as profusas perspectivas das estrelas, quando deslizamos lentamente por entre elas assim — e assim! A visão espiritual não é ela mesma detida pelas paredes douradas do universo? — as paredes das miríades dos corpos brilhantes que o mero número parece fundir numa unidade?” (apud Harrison, 1995:170). Confirma Harrison que “a primeira solução clara e correta para o enigma da escuridão, embora expressa apenas em termos qualitativos, veio de Edgar Allan Poe”. Através do estudo, da observação e da associação criativa, Poe chegou à conclusão de que a razão para o enigma da escuridão era que a luz das “paredes douradas” ainda não chegou até nós. No universo, a parte situada além de uma certa distância não pode ser vista, pois sua luz não teve ainda tempo de nos alcançar, como percebeu.
“Se a sucessão de estrelas fosse infinita, o fundo do céu nos apresentaria uma luminosidade uniforme, como a exibida pela galáxia — uma vez que não poderia haver absolutamente nenhum ponto, em todo esse fundo, em que não existiria uma estrela. Nessas condições, o único modo como poderíamos compreender os vazios que nossos telescópios encontram em inúmeras direções seria, portanto, a suposição de que a distância do fundo invisível é tão imensa que nenhum raio de luz vindo dele conseguiu nos atingir até agora”, afirmou Poe (apud Harrison,1995:172). "Eureka não foi capaz de revolucionar o mundo da física e da metafísica; sua ciência era metafísica demais e sua metafísica, científica demais para os gostos da época”, afirma o astrofísico Harrison (1995:74). Mas se Poe não conseguiu nos comunicar a prova acabada de uma possibilidade inteiramente nova de ver o mundo, deixou-nos algumas explicações originais que, entrelaçadas a muitas outras, científicas, sustenta o desejo de encontrar clareza para o mistério do universo. Além da beleza, como reconhece Jean-Claude Carrière, (1988:81) com toda veracidade Poe percebeu que “se o universo é infinito, o negro da noite é inseparável de um universo criado e datado”.
Se hoje podemos apreciar o vigor descritivo das percepções de Poe, a doçura de sua espiritualidade e a verdade da narrativa de seu conhecimento é devido ao fato de a literatura ter essa graça generosa de acolher todos os saberes, oferecendo-nos exatamente o roteiro da constância humana em sua busca de conhecimento, sem julgar de sua verossimilhança ou inverossimilhança, verdade ou falsidade. As errâncias dessa busca, tanto quanto seus acertos, formam a imorredoura paisagem literária de todo os tempos. A qualquer momento podemos apreciar a grandeza e a falência dos sonhos humanos guardados na memória, em processo da literatura.
No entanto, arte e ciência aparentemente se mostram como duas representações irreconciliáveis no campo do saber humano. Na acepção mais corrente, a meta da ciência parece ser a de ordenar as experiências em sistemas ditos racionais, a da literatura, transformá-las em razões poéticas. Para Bohr (1995:102) , um dos cientistas que se preocupou em entender esses dois saberes, a diferença entre ciência e arte está baseada em duas considerações. Primeiro, a de que na ciência “lidamos com esforços conjuntos e sistemáticos para aumentar a experiência e desenvolver conceitos apropriados para a sua compreensão”. Segundo, a de que na arte “são-nos apresentados esforços individuais, mais intuitivos, para evocar sentimentos que lembrem a globalidade de nossa situação”. Quando fala em arte, Bohr está também incluindo a literatura, e sugere, inclusive, o não abandono da linguagem comum.
Essas considerações dão ao discurso da ciência um lugar objetivo e, ao da literatura, um lugar subjetivo, sendo dito que a primeira ordena e analisa sistematicamente seu conhecimento e a segunda “compõe uma seqüência de modos de expressão em que a renúncia cada vez mais ampla à definição, característica da comunicação humana, dá à fantasia uma liberdade maior de manifestação” (1995:101). Embora a preocupação de Bohr seja a de criar uma “unidade de conhecimento”, temos aí a repetição clássica da configuração de uma falsa ruptura entre expressão e comunicação, fazendo esquecer que tanto a compreensão conceitual quanto a comunicação dos sentimentos ou sensações são experiências psíquicas significativas.
Um sentido mais amplo da expressão e comunicação dessas experiências psíquicas, papel da literatura e de toda arte, inclusive com a percepção da tarefa sumamente importante que é a de não deixar cair em esquecimento a “globalização de nossa situação”, como salienta Bohr, só veio a se esclarecer definitivamente com o conceito de “escritura”, nascido no estruturalismo e largamente apregoado por Roland Barthes. Para o ensaísta francês, a literatura, além da função de exprimir ou comunicar, tinha a de “impor um além da linguagem que é, ao mesmo tempo, a História e o partido que nela se toma” (1974:117). O conceito de escritura percebe a literatura como “instituição”, engajada numa Moral que brota do entrecruzamento da língua (histórica, social) com o estilo (individual). Sobre a horizontalidade da língua se projeta a verticalidade do estilo; entre língua e estilo, a realidade formal da escritura, a “moral da forma”. Nesse imbricamento, a língua, objeto social por definição, “está aquém da Literatura” e o estilo, a linguagem autárquica da solidão do escritor, “está quase além”, nascendo de seu corpo e passado.
A língua que a literatura busca comprometer na fabricação de uma significação oferece a mesma resistência ao pesquisador científico. Pois “ninguém pode, sem preparação, inserir sua liberdade de escritor na opacidade da língua, porque através dela toda a História se mantém, completa e unida à maneira de uma Natureza”, afirmou Barthes (1974:121). O conceito de “escritura” mostra o comprometimento da literatura com a extensão do campo de sua concepção, pois a “escritura é um ato de solidariedade histórica. Língua e estilo são objetos; a escritura é uma função: é a relação entre a criação e a sociedade, é a linguagem literária transformada por sua destinação social, é a forma apreendida na sua intenção humana e ligada às grandes crises na História” (1974:124).
“O enriquecimento que a arte pode nos trazer origina-se em seu poder de nos relembrar harmonias que ficam fora do alcance da análise sistemática”, continua Bohr (1995:101). Harmonias que representam um alargamento de nosso campo de experiência. Embora esses esforços, o da produção científica e o da produção literária, possam se diferenciar, o observador científico, tanto quanto o literário, o escritor, estão ambos referenciados pela mesma convenção. A língua delimita o escritor na forma de um corpo fechado, a que deve “trapacear” de modo salutar, como vai sugerir Barthes (1979), e delimita o cientista que, necessariamente tem de se debater com ela na descrição que vai fundar o modo conceitual de sua escolha teórica.
A língua é o nó que amarra todas as experiências psíquicas. E, por estranho que pareça, é o nó de uma certa desavença entre cientistas e poetas. Aperta o enlace entre as duas experiências de conhecimento entrava, ao mesmo tempo, a compreensão da ardilosa separação entre os dois modos de observação do mundo. Ambos estreitados e impossibilitados de liberação pelo hábito arraigado, nascido no Renascimento, de privilegiar a observação material e aliar o conhecimento ao mecanismo da repetição da experiência. Embora essa postura tenha mudado um pouco depois do nascimento da microfísica, quando “a noção de uma realidade independente do observador surgiu como desprovida de sentido”, como nos faz ver Moles (1990:18), lembrando d’Espagnat (1965), ainda assim o que chamou de “ciências do impreciso” causa estranheza. “Em nossa vida cotidiana, em nosso ambiente, situam-se objetos que não pertencem mais ao mundo da natureza: são formas e cores, são outros homens, são impressões dentro do nosso campo de consciência e todas estas se repetem ou se renovam segundo as leis que ignoramos por muito tempo mas das quais nenhum de nós — inclusive físicos, astrônomos e biólogos — pode recusar a evidência nem o caráter geral”, afirma Moles (1990:24).
Por sua vez, Bohr (1995:118) reconhece que “a experiência psíquica não pode ser submetida a mensurações físicas”, mas não deixa de alertar que é “o observador subjetivo incompatível com a objetividade da descrição científica” (1995:115). No entanto, é a teoria, no lugar da norma e da lei da língua, que vai possibilitar qualquer descoberta, assim como é a língua que vai projetar qualquer possibilidade de invenção. Além disso, se existe o aspecto de uma “ciência estabelecida”, “um corpo de conhecimentos que aumenta de instante a instante e que é constituído pelo conjunto de todas as publicações científicas — isto é, controlado segundo as regras da lógica e do método experimental — virtualmente acumuladas dentro de uma espécie de ‘biblioteca universal’ e que se poderia comparar a uma espécie de gigantesca muralha dos livros e das publicações” (Moles, 1990:34), existe, também, “a ciência em vias de se fazer”, configurando “um campo de possibilidades” que demanda uma “construção poética” a partir de uma “paisagem mental circunstancial”. “O verdadeiro e o falso não são nunca eternos neste campo, eles são subjetivos: eles são a ilusão, a cada instante, de cada pesquisador”, diz Moles (1990:35). E, como “o espírito humano é fluido em seu funcionamento, ambíguo em seus conceitos e vago em suas definições” (1990:45), faz-se necessário analisar e estudar a criação intelectual, considerando de modo especial a heurística ou ciência da descoberta. Afinal, como nos lembra Moles (1990:53) , “os matemáticos, eles próprios nos dizem à porfia, encontra-se primeiro, demonstra-se a seguir”. Acepção em nada diferente da de Picasso, que dizia que nada buscava, apenas encontrava. Mesmo porque, como revela Moles (1990:68), e na lembrança do acontecimento cognitivo de Poe, “ainda é a ficção a melhor intérprete da realidade quando a realidade é por qualquer razão inacessível”.
Bachelard elucida, de forma irônica mas arguta, o quanto os “obstáculos substancialistas” obliteraram durante um tempo a mente científica, principalmente por criarem uma explicação do objeto de conhecimento através das “qualidades ocultas”; desse modo, quer ele nos demonstrar o quanto os mitos criados e mantidos pela linguagem comum podem atrapalhar a “objetividade científica”. Segundo ele, a “convicção substancialista”, “dissimulada sob os artifícios da linguagem, é um tipo de explicação que ainda ameaça a cultura. Parece que basta uma palavra em grego para que ‘a virtude dormitativa do ópio que faz adormecer’ deixe de ser um pleonasmo. A aproximação de duas etimologias de origens diferentes provoca um movimento psíquico que pode dar a impressão de que se adquire um conhecimento” (1996: 21-2).
Para Bachelard, que faz o elogio do “espírito científico” como produto de um “inconsciente psicanalisado, isto é, uma cultura científica bem separada de qualquer valorização inconsciente” (1996:166), essas metáforas que privilegiam a priori a matéria em observação são um obstáculo ao pensamento, pois nascem do sonho. “Todo trabalho paciente e cadenciado, que exige longa seqüência de operações monótonas, induz o homo faber a sonhar. Ele incorpora, então sua fantasia e seus cantos à matéria elaborada; ele valoriza a substância que foi trabalhada por tanto tempo” (1996:154), acumulando-a de adjetivos. Acumular de adjetivos uma matéria é torná-la imprecisa, conformando contradições sensíveis que fazem muitas vezes o papel de realidade, como se a realidade fosse fundamentalmente irracional. “Seria possível apanhar essas filosofias numa recíproca segundo a qual basta acumular o irracional para dar a ilusão de realidade", continua. E pergunta: "Não é o que faz o romancista moderno que é considerado criador a partir do momento em que realiza o ilogismo, a inconseqüência, a mistura de comportamentos, a partir do momento em que confunde o pormenor com a lei, o acontecimento com o projeto, a originalidade com a característica, o doce com o azedo?” (1996:150)
Ao perceber o entremeio do discurso científico com o poético entranhando as “hesitações do pensamento que busca o objeto” (1996:122), Bachelard busca exorcizar esses processos do que chama pensamento inconsciente e decide pelo “percurso teórico que obriga o espírito científico a criticar a sensação”(1996:127). O mais poético filósofo da ciência compreende que a visão possível de um objeto num dado momento é uma visão determinada pela teoria e por isso o discurso científico está eivado de figuras de linguagem. As metáforas são as cristalizações de um comportamento de linguagem diante de uma experiência, conformam um hábito de observação que se propaga ele mesmo como conhecimento. Ao fazer a crítica dos obstáculos verbais simbólicos na via científica, Bachelard aponta uma expressão que exemplifica muito bem o processo que recai sobre a palavra “etc.” quando empregada pela ciência. “Grifamos a palavra etc., porque ela sozinha já merece um longo comentário. Demonstra um tipo de pensamento. Se esse empirismo fosse correto, se juntasse e registrasse fielmente as experiências realizadas de fato, a enumeração teria de estar concluída” (1966:132-3). A ciência, portanto, deve atingir sempre um ponto final em suas qualificações, perseguir o objeto de seu conhecimento até o esgotamento. Esgotamento da língua, é o que se pode pressupor, pois a matéria de observação, esta não se esgota.
A idéia de uma enumeração inacabada, pode incomodar ao desejo científico de uma qualificação rigorosa da matéria, mas é pertinente à experiência do conhecimento humano. O objeto nos escapa sempre, nenhuma representação é finalizada, toda descrição é perfectível, etc. O “etc.” é uma expressão, no discurso científico, poeticamente carregada, aliada a possibilidades infindáveis e não dominadas, o que aborrece profundamente seus críticos; e a idéia do infinito é presença constante em todas as representações, podendo-se dizer que é o fundamento de toda linguagem simbólica, por conseguinte, um defrontamento imperioso para o ser humano. “Na realidade, o infinito está praticamente presente em toda parte na matemática”, constata Omnès (1996:85). Qualquer passagem de limite já pressupõe a presença do infinito, assim como qualquer idéia de seqüência ou soma de uma série. A geometria também mantém-se próxima dessa idéia. Em todo segmento de reta, por menor que ele seja, há uma infinidade de pontos . O infinito é antigo, está próximo de Zenão de Eléia e de toda fundação teológica. É a própria trama conceitual do modo de produção de nosso conhecimento, seja poético ou científico.
Os fundamentos da ciência são constantemente remarcados, a ponto de Khun (1990) pretender que só é científico o que estiver dentro do paradigma da ciência num dado momento. Mas a questão primordial, a da própria possibilidade da ciência, questão complexa, é sempre diferida, embora muitos filósofos e cientistas com freqüência a toquem. Afirma Omnès que a ciência é possível porque a ordem do Real gera a consciência que a descobre”(1996:297). As imagens que alcançamos nos limites de nosso conhecimento, amparadas pela capacidade de significação que a linguagem projeta sobre o mundo que nos cerca são geradas por um pensamento mitopoético (Jakobson, apud Moles, 1990), que se confunde com o inconsciente coletivo. O que nos possibilita antecipar, com Moles, que “só há uma ciência ou, melhor, um só espírito científico cujas modalidades de exercício mudam com as características epistemológicas próprias do objeto que elas estudam” (Moles, 1990:55). Assim como, para Scheley (1986), todos poemas conformavam um único poema.
Bachelard, embora arguto filósofo da ciência, acreditava possível psicanalizar o conhecimento, dele subtraindo toda intrusão do inconsciente. Desejo impossível, o de poder apenas instrumentalizar a linguagem, que possui uma vida histórica própria. É exatamente essa impossibilidade que faz com que o signo artístico deseje significar o objeto que representa, sendo ao mesmo tempo condição e autenticação de sua interpretabilidade, deseje dar forma ao conhecimento; enquanto o signo científico deseje objetivar a experiência de interpretação de seu objeto para capturá-lo na representação. A significação e a objetivação da matéria cognitiva são ambas produto da reminiscência, direta ou indireta, próxima ou distante, de algum real. Ambas são eivadas pela imaginacão que, subordinada ao desejo, “nasce da recusa ao real” (Rouanet, 1990:222). O imaginário é benfazejo, principalmente porque “está presente no início do processo, como impulso para o conhecimento, e no fim, sob a forma de um telos, que representa o futuro a ser alcançado”, diz Rouanet (1990:241). Para Freud ("Uma recordação de infância de Leonardo da Vinci"), o trabalho do pensamento também inclui a verdade da fantasia, pois a fantasia se esteia em recordações verdadeiras. “O imaginário", lembra Rouanet (1990:229), "parasita o mundo fenomênico e o reordena, segundo a lógica do inconsciente, que não conhece nem a cronologia, nem a negação nem a dúvida". Afirmação calcada na percepção de Freud (1976:153), de que “o desejo utiliza uma ocasião do presente para construir, segundo moldes do passado, um quadro do futuro”.
Longe das lógicas tradicionais que herdamos de Aristóteles, da Idade Média e da demonstração matemática, sistemas binários em que, como lembra Moles (1990:125), “uma proposição só pode ser exata ou falsa e o que não é verdadeiro é portanto falso (princípio do terceiro excluído)”, o discurso científico apresenta ao mundo a verdade como sonho; o literário, o sonho como verdade. Porque, como bem nota Rouanet , “a rigor, o pensamento se inscreve no intervalo entre o percebido e o desejado. Pensar é pensar esse intervalo, é o pathos de um movimento que visa um telos, e que morre quando o telos é atingido”. E esclarece, “mas como o mundo exterior propõe continuamente novas percepções, que coincidem apenas em parte com as imagens mnêmicas das antigas percepções, o pensamento está continuamente [se] confrontando com a diferença, e com a tentativa de eliminá-la, produzindo o conhecimento” (1990:180-1).
Talvez a melhor observação sobre as diferenças nos modos de produção do conhecimento seja a de Moles (1990:107-8). Considera ele “três níveis na relação científica que o homem mantém com o mundo que o cerca, instigado pela vontade de conhecê-lo”. O da “interação forte”, que o leva a tocar o mundo e experimentá-lo em laboratórios ; o da “interação fraca”, “a observação feita pelo homem, esse espectador ativo que contempla o mundo, ‘faz anotações’, estabelece relações e conseqüências, capta imagens (...) e se esforça para construir uma interpretação desses fatos que pôde comprovar”; e “finalmente, pode-se mencionar uma interação nula, na qual o indivíduo se afasta do mundo para reconstruí-lo em seu pensamento”. Pois, como já citamos anteriormente, e não é vão repetir, para Moles (1990:55)“só há uma ciência ou, melhor, um só espírito científico cujas modalidades de exercício mudam com as características epistemológicas próprias do objeto que elas estudam”.
Na atualidade, não é mais possível abandonar ao esquecimento as ciências de interação fraca com o mundo, pois que isso não indica fragilidade de conhecimento, mas diferença no seu modo de produção. Tais conhecimentos são produtos do que Moles (1990:148) vai chamar de uma “atitude fenomenológica, aquela que procura acariciar delicadamente os fenômenos para apreender sua autonomia e particularidade” . Os “encarregados das coisas vagas”, como os chamou Valéry (apud Moles, 1990:317), em verdade são os inúmeros filiados da micropsicologia”, como afirma Moles (1990:320), “o que outrora chamou-se ‘introspecção’, seja porque o ser possui uma sensibilidade particularmente apurada: é o caso do escritor e do poeta, que a psicologia triunfalista do início do século remeteu um pouco rápido demais à categoria de um saber pré-científico, portanto, indigna da razão positiva”.
Se os saberes sofreram categorizações que os confinaram a determinados alcances da realidade e da verdade foi pelo exercício consentido de uma “política dos saberes”, como aponta Isabelle Stengers (1990:65), que vai levantar o véu de muitas questões relacionadas a essas decisões apriorísticas. Percebe ela que a invenção de um sujeito transcendental, por Kant, possibilita que apenas o filósofo fale sobre os fenômenos, categorizando-os. "Kant precisava de um poder sem limites ao entendimento (...) a fim de manifestar que o que é capturado é apenas fenomenal. Desde então, tal poder não questiona nada do que interessa à filosofia". Stengers (1990:84) identifica a ciência com o saber que diz o que é científico. E vai mais adiante, ao afirmar que “a ciência faz falar: a física faz falar o que ela define como ‘objeto’, a psicanálise faz falar sujeitos” . Para ela, “as controvérsias científicas têm como problema a legitimidade desses testemunhos (controvérsias experimentais) e o seu alcance (controvérsias teóricas ou conceituais)”.
A ciência considera o fato observado como uma testemunha, sendo que, muitas vezes, algumas ciências têm como testemunha um artefato, isto é, praticam a “extorsão” de um testemunho. Evidentemente, na produção de conhecimento, que é produção de sentido, é enorme o poder do conceito, pois ele organiza tanto aquilo de que trata o saber científico quanto cria uma hierarquia entre as ciências sob seu domínio. Para Stengers (1990:146), essa implicação é clara: “as ciências não se desenvolvem em um contexto, mas criam seu próprio contexto”. Essa é uma questão clássica de epistemologia que põe em cena o poder dos conceitos; afinal, pergunta ela, “o Egito dos egiptólogos não existia antes que os egiptólogos inventassem suas categorias?”(1990:153)
Fazer um fato falar, produzir uma testemunha fidedigna, dá ao cientista um triunfo sobre o mundo fenomenal. Talvez aqui apareça a distinção maior entre os efeitos da ciência e os da literatura. À ciência, socialmente, nos tempos modernos, foi dado um papel de obrigação do triunfo imediato sobre o desconhecido e as vicissitudes humanas. E, por isso, nota Stengers (1990:101)que “a noção de precursor em ciência é bem curiosa. Se em história da arte se diz que Van Gogh não interessou a ninguém durante sua vida, isso não diminuirá em nada o valor de Van Gogh, ao contrário, aumentará mesmo o poder dramático da evocação de Van Gogh”. Um cientista, no entanto, tem de fazer o mundo se interessar por suas conquistas, pois elas fazem parte do bem comum. Por isso Descartes abandonou o latim para escrever em francês, para que o produto de seu conhecimento atingisse todos os homens, e inclusive as mulheres que, na época, em sua grande maioria, não liam latim. O artista e o escritor sabem que seu conhecimento não depende dessa imediaticidade, a verdade que representam não tem vida curta, aspira a eternidade, como observou Picasso: “Para mim, não há passado nem futuro em arte. Se uma obra de arte não pode existir sempre no presente, não pode ser levada em consideração. A arte dos gregos, a dos egípcios, a dos grandes pintores que viveram em outras épocas, não são artes do passado; talvez estejam mais vivas hoje do que nunca” (Apud Boorstin, 1995,epígrafe inicial).
Kant considerava impossível o objeto da arte, por ser “imune à objetabilidade construída segundo leis científicas”, por isso dele subtrai sua importância, em favor dos “efeitos que a obra de arte produz em quem a contempla” (Hübner,1993:19-20). Foi na época Iluminista que gerou-se a opinião de que só a ciência abre o justo acesso à verdade. Para Hübner (1993:127), “o optimismo empírico-racionalista relativo à ciência funda-se, pelas razões seguintes, numa ilusão: 1. não há nem factos científicos absolutos nem princípios absolutos em que se possam apoiar as ciências; 2. a ciência não proporciona necessariamente uma imagem continuamente melhorada e ampliada dos mesmos objectos e do mesmo conteúdo, e 3. não existe o mínimo motivo para supor que ela se aproxime, no decurso da história, de qualquer verdade absoluta, isto é, isenta de teorias”.
Também vem de Kant a questão mais intrigante quanto ao conhecimento: será o universo apenas uma idéia? Hübner responde, como a maioria dos filósofos e historiadores da ciência, e inclusive como alguns cientistas hoje: “o universo é somente uma idéia no sentido de que ao seu conceito não corresponde a nenhuma realidade em si; e é, portanto, mediante uma dialéctica inevitável da razão que tal é demonstrado” (1993:174). Porque são os sistemas teóricos que determinam e explicam as pesquisas e descobertas da ciência , além desses sistemas se determinarem reciprocamente. A explicação dos significados precede sempre a explicação dos fatos. Hübner, sem preconceitos, fornece como exemplo o texto de um escritor que alia à linguagem poética a teórica sem nenhuma culpa, acostumado a considerar de modo igual tanto as ciências quanto as artes, o saber ocidental quanto o oriental. “No seu conto breve, com o título ‘A pesquisa de Averróis’, Borges narra que Averróis, num primeiro momento, não entendera o significado dos termos ‘tragédia’ e ‘comédia’ na Poética e Retórica de Aristóteles. No âmbito do Islão, ninguém sabia o que eles significavam. De súbito, estimulado pela inovação do almuédão, escreveu o seguinte: “Aritu (Aristóteles) chama tragédias aos panegíricos, e comédias às sátiras e aos anátemas. Tragédias e comédias magníficas encontram-se ocultas em grande quantidade no Corão e na mohala das coisas sagradas”” (1993:218).
Em oposição ao pensamento de Schiller, de que “o passado persiste eternamente imóvel”, o que nos levaria a uma busca (de resgate impossível) da origem como verdade eterna, tanto a ciência quanto a história e as artes lidam com um passado presentificado. Para Hübner (1993:229), o passado é uma função do presente, pois não existe “nenhuma verdade histórica de natureza científica “. Bem mais próximos estamos de Schopenhauer, quando declara que “o que a história narra é, de fato, apenas o longo, difícil e confuso sonho da humanidade” (apud Hübner, 1993:208). Por conseguinte, a tarefa do historiador deve ser a de “reescrever continuamente a história, tendo em conta a inevitável mudança a que o passado está exposto, no decurso das épocas” (1993:226). A historiografia é o romance de um longo sonho, assim como a literatura (conjunto de romances) é a história desse sonho/romance.
Foi Feyerabend quem se indispôs contra a determinação de todos os saberes serem comensuráveis ao da ciência. A ciência, para Feyrabend, deve se livrar da petrificação ideológica, para não obstaculizar o crescimento de uma sociedade livre, devendo ser estudada como fenômeno histórico, “juntamente com outras histórias de fadas como os mitos das sociedades ‘primitivas’”, como nos lembra Chalmers (1993:185). Pois não devemos esquecer que a ciência desenvolveu-se justamente a partir da destruição do mito, que foi ordenado num sistema cronológico de tempo profano, alterando a relação de identidade real para a da imagem que a representa. “Só quando o logos da filosofia grega começou a banir do mundo o elemento mítico é que a religião demandou uma relação com a transcendência absoluta, e a arte se transformou em aparência dela”, afirma Hübner (1993:256).
O ponto conflitante é que as teorias, como produtos humanos, estão sujeitas a mudanças constantes e o mundo físico não. Mesmo com a suposição de que a ciência constantemente aumente a verossimilhança de suas teorias, com a exigência da falsificação, de Popper, por exemplo, ou que as teorias a respeito da verdade sejam menos restritoras, a partir do uso da linguagem de senso comum, parece sempre haver um esquecimento fundamental da restrição da própria linguagem ao saber, a moldura que obrigatoriamente enquadra nossa visão de mundo. Newton jamais poderia ter explicado sua primeira lei do movimento com uma linguagem pré-newtoniana.
Quando Chalmers (1993:208) expõe o desejo de ser um realista não-representativo está concretamente apontando para o perigo da ideologia da ciência, que defende dubiamente o conceito de ciência e o de verdade dentro de um engano arrogante. O mérito de cada área do conhecimento não pode ser julgado pela categoria geral “ciência”. O realismo não-representativo, para ele, “em primeiro lugar, envolve a suposição de que o mundo físico é como é, independentemente de nosso conhecimento dele. O mundo é como é, seja lá o que for que indivíduos ou grupos de indivíduos pensem sobre o assunto. (...) Podemos avaliar nossas teorias do ponto de vista da extensão em que descrevem o mundo como ele realmente é, simplesmente porque não temos acesso ao mundo independentemente de nossas teorias, de maneira que nos capacite a avaliar a propriedade daquelas descrições”.
Nenhum discurso jamais deixará de ser o reflexo desse “aspecto tateante e exploratório das incursões do pensamento humano na compreensão da realidade” (Reeves, Centre, 1994:14), essa imagem insegura e bordejante que a categoria encobridora da razão vai cristalizar numa escala hierárquica de saberes. A maneira produtora da percepção humana está estruturada e enraizada no inconsciente, aflorando como pintura, poema, teorema ou súbita descoberta. Todas as representações, na verdade, como disse Hoffman (Centre, 1994:34) são espelhamento de “formas bizarras e desconhecidas, embora não sejam outra coisa do que as caricaturas dos originais realmente existentes”. Desse modo, o ‘realismo’ de uma paisagem descrita por Stendhal ou por Nerval é decorrente de uma mesma mitopoiésis (Jakobson, 1974). A descrição científica é tributária do mesmo sistema de percepção, mas, na literatura (e nas artes, de modo geral), como já nos mostraram Erwin Panofski, E.H. Gombrich, Pierre Francastel ou Hubert Damisch, as representações correspondem às mudanças associativas das coordenadas enraizadas no inconsciente, o que não acontece na ciência, com seu conceito encobridor de razão e verdade.
De modo ambíguo, as ciências se obrigam, hoje, a se revisar conceitualmente. São grandes as dificuldades, mas têm sido enormes os ganhos nesse campo. Folheando os filósofos da ciência, seu historiadores, ensaístas, comentadores e curiosos, vê-se a disparidade de opiniões. Sinal de que as cristalizações estão se partindo e, nas brechas aparentes, vai surgindo uma nova postura diante do saber humano, sem hierarquias, embora no reconhecimento das diferenças. Numa provocação de resquício racionalista, Simone Vierne (Centre, 1994:89) afirma que “as forças do imaginário se introduzem na criação como na leitura, permitindo interpretações poéticas e míticas (que de resto salvam os romances de Júlio Verne do inevitável envelhecimento desse gênero de obras, pois que a ciência progride, tornando rapidamente caducas as certezas ou as técnicas)”. Mas, ao mesmo tempo, é obrigada a reconhecer que a técnica e a linguagem excessivamente cifrada da ciência atual fez com que esta perdesse seu lugar na estrutura do conhecimento, que não fosse inscrita com tanta rapidez no inconsciente coletivo, passando despercebida de seu contexto. Como essa aproximação é necessária, porque a estrutura mitopoética sustenta nossa visão de mundo, os cientistas vieram a público para oferecer ao mundo os seus saberes, e à uma corrente mais popular e menos radical. Entre elas, Levi-Strauss (Tristes trópicos), Desmond Morris (O macaco nu), Jacques Monod (Acaso e necessidade), Herbert Reeves (Um pouco de azul). E, por conseguinte, os cientistas passaram a romancear os saberes, representando um papel que era dado aos escritores. Se os cientistas, como afirma Vierne (Centre, 1994:91), “enfrentaram o desafio de expor a mudança na visão do mundo que as teorias mais recentes introduziram na consciência e no inconsciente do homem” foi porque, em primeiro lugar, “a teoria científica vem se constituindo de acordo com uma lógica muito diferente, isto é, a lógica da terceira via, que é também a do imaginário” e, em segundo lugar, porque “os cientistas perceberam o alcance filosófico e metafísico de suas teorias. Sentem, pois, a necessidade de se explicarem sobre esse ponto”.
Na verdade, como acredita a maioria dos filósofos da ciência e até mesmo os cientistas, ciência e imaginário andam juntos. E, se o mito de Ícaro funda a aviação moderna, o de Édipo, narrado por Sófocles, vai figurar, reinterpretado, na psicanálise. Do mesmo modo os desenhos prefiguradores de Leonardo vão dar asas à imaginação técnica e fabricar as máquinas do desejo humano de se libertar dos grilhões físicos, desdobrando-se em helicópteros, escafandros e submarinos. Assim também Júlio Verne vai organizar as conquistas técnicas de seu tempo, ainda no rascunho; e Poe vai descrever o sonho de sua cosmogonia para facilitar as novas descobertas astronômicas. Isso porque tanto a literatura (e a arte) quanto a ciência têm como estofo os antigos sonhos da humanidade, como o de imortalidade ou o de fixar o instante fugidio. Tanto a ciência quanto a literatura acabam fabricando mentefatos (Posner, 1989) que desdobram o desejo humano de conhecimento. E, se muitas dessas ilusões são ardis, “se a ciência, dando corpo ao ilusório, criando ‘alucinações verdadeiras’ conquanto não o sejam, segundo a definição de Taine, e ampliando as percepções, acaba por multiplicar ao nosso redor as armadilhas, compete à arte neutralizar essas armadilhas, reduplicando-as” (Milnes, Centre, 1994:49). A literatura, registrando os sonhos realizados, os não realizados e os por realizar da humanidade permite a revisão da história, pois a literatura é um saber em expansão e lugar de entrecruzamento de todas as vozes. Na verdade, “a arte é o farol sem o qual a ciência morre”, assegura o cientista Reeves (Centre, 1994:106).
1. Estruturas semânticas como modelos de gnose
(das teogonias à "science fiction")
"O pensar ingressou na Literatura."
Heidegger
("Logos")
A filosofia é o caminho de uma razão que se inaugurou com Platão ( à sombra de Sócrates), decidindo privilegiar a metafísica (Colli, 1988) e rebaixar a escrita (Derrida, 1991). Além de combater os sofistas (Cassin, 1990) pelo suposto descomprometimento de sua palavra, a razão filosófica combateu um instrumento democrático por excelência e desautorizou a razão literária pelo equívoco de pensar o conhecimento como uma verdade ante rebum, que deve ser imposta ao sistema de representação. O discurso da metafísica ocidental inicia a história de nosso pensamento já marginalizando o saber literário. Platão renegou duplamente o discurso literário: pela via do idealismo e pelo recalque da escrita como representação de sabedoria e memória (Fedro). Ainda amparado pelas qualidades do discurso da tradição de cultura oral, então em revisão pelo recurso constante do método dialético, ele mesmo um escritor contumaz, teve de expulsar o poeta da comunidade pública, afastando da literatura sua realidade de conhecimento.
A reflexão sobre a realidade confundida com a reflexão sobre a linguagem (Gorri, 1988:74) originou-se na Grécia. Mas os gregos, como observou Heidegger (1978:122), embora habitassem a essência da linguagem, jamais a pensaram. A possibilidade de expressar um logos que faz coincidir o ato vivo de dizer com o ser, como o fez Heráclito, facilitou que os filósofos pudessem pensar os discursos sem pensar a linguagem. Por isso deram à literatura o caráter de verdade ilusória, como à sofística. A filosofia criticou nos sofistas justamente o valor de convenção que estes deram à linguagem, seu valor de representação, repudiando, portanto, o movimento próprio do discurso literário, que é o de alimentar-se dessa qualidade ilusória, bem como da qualidade da própria ilusão, que é a experiência lingüística em si.
É a convenção lingüística que modela as demais convenções, como nos lembra Cassin (1990:115). A língua grega estruturou a filosofia e a lógica, ou seja, o modo de pensar ocidental. E sua pretensão à verdade moldou nossa percepção e aprendizagem (sem se acreditar que o pensamento dê conta da realidade e a linguagem da possibilidade do conhecimento). Essa herança lingüística doou-nos um desvio modelar: a palavra ser (para os gregos, com o duplo valor de ser/estar), um ilusório valor predicativo, confundiu-se, no campo semântico-referencial, com o próprio ser; um componente subjetivo da linguagem foi justificado pelo valor da cópula é, alçando-se a juízo objetivo (Hayakawa, apud Campos, 1977). Nossos valores ficaram atrelados à designação, implicada aí a cobrança de um sentido. Sem dúvida, a questão da linguagem é fronteiriça à do conhecimento, embora este não seja a medida da realidade, pois o conhecimento não pode determinar a natureza das coisas, como nos lembra Guthrie (1995). Mas a linguagem, forma de categorizar a natureza, determina nosso modo de olhar e ver o mundo que nos cerca. Afinal, somos criadores, a ponto de projetar na natureza uma série de representações, inventando grande parte da realidade, como esclareceu James (1979). A linguagem deflagra nosso universo, tornando-se a medida de sua avaliação. E foi sob a influência dessa estrutura lingüística, a chamada "sintaxe aristotélica" (Hayakawa, apud Campos, 1977), que ordenamos o mundo ocidental.
O roteiro histórico da linguagem é nada menos do que o roteiro da razão. Afinal, a essência e o ser falam na linguagem (Heidegger, 1966). O conceito de logos (como razão e discurso) passa por uma polivalência semântica até chegar ao sentido aristotélico de "unidade racionalmente constituída da essência objetiva da coisa" (Dubarle, 1977:20). Linguagem e realidade confundidas, portanto, embora passando ao largo da questão noética, que vai ser plenamente contemplada pelo conceito de signo de Charles Sanders Peirce. Como vê com clareza Dubarle, Peirce não tem uma doutrina lingüística, mas noética, ele pensa a existência do ser em comunicação (desfazendo-se, inclusive, do antropocentrismo e do logocentrismo). É possível afirmar que a doutrina de Peirce é noética, principalmente porque, para ele, "o pensamento é o principal, senão o único, modo de representação" (C.P.2.274). Seu conceito de signo, ou representamen, leva em consideração mais do que aquilo que simplesmente aparece. Considera a representação mais o estofo vivo do sujeito que pensa em relação ao objeto de seu pensamento. Estofo que provoca a interpretabilidade.
Peirce vai além do fato puramente instrumental da linguagem, desligando-se do enredamento criado pela metafísica ao separar, criando quase uma oposição, logos e ser, na representação da linguagem. Seguindo o pensamento de Dubarle (1977), percebemos que o representamen peirceano tem duas polaridades semânticas: 1. a função do signo de ficar no lugar de outra coisa ("to stand for"); 2. de oferecer algo eideticamente similar à especificidade eidética da coisa ("to picture"): a natureza da imagem.
Aristóteles acompanhou a evolução do logos "até o lugar de origem, ou seja, à raiz comum do par língua/pensamento. Esse lugar é o do ‘ser’”, como atesta Derrida (1991:221). Nascendo aí o logocentrismo da metafísica, que acabou estruturando nosso conhecimento. O logos, como asseverou Heidegger, é uma palavra que "fala simultaneamente como nome do ser e como nome do dizer" (apud Cassin, 1990:70). A palavra "logos" vem de "legein" (dizer) e tem a abrangência da verdade inicial, designada por Parmênides como "alétheia", a deusa da desocultação (conceito usado por Heidegger em A origem da obra de arte). Verdade que tem o significado amplo de dizer, isto é, apresentar algo como sendo algo, trazer à luz, desvelar, desocultar, retirar do esquecimento. A alétheia consiste em trazer a physys à luz. Portanto, a razão-discurso (logos) nascente conforma o ser na linguagem, na concretude do presente da voz que o enuncia.
O rebaixamento da escrita deveu-se ao fato de ela ser parricida (Derrida, 1991; This, 1977), de exibir exatamente a temporalidade do exercício de representação, o afastamento entre emissor e destinatário e, acima de tudo, a distância entre o presente da voz e a ausência aparente do objeto. A escrita é a fronteira que vai separar mito e logos. O mito busca representar a origem, a anterioridade ao ato da escrita, que vai definir a cisão entre o divino e o humano, entre o sujeito e o objeto do seu conhecimento, pois "o homem é, no entanto, sempre tentado a restaurar o mundo de antes da falta. É a razão pela qual ele recita mitos, seus mitos de origem. `Naquele tempo', antes da palavra e do assassínio da coisa, antes da escrita, antes do parricídio" (This, 1977:74) existiu uma palavra fundadora. Essa nostalgia a filosofia impôs ao seu discurso, justamente para confrontar o discurso literário, que delibera a verdade como ilusão, e acabou privilegiando o discurso fonético.
Ainda não acordada para a sua realidade de representação e interpretação, a palavra arcaica, fonética, era eficaz: um êxtase oracular que levava à ação imediata. Ainda em Hesíodo as palavras são forças divinas, musas-deusas nascidas da Memória e de Zeus, dispostas a livrar o ser de seu esquecimento. O poder numinoso da força da palavra, para o grego, se "instaura por uma relação quase mágica entre o nome e a coisa nomeada, pela qual o nome traz consigo, uma vez pronunciado, a presença da própria coisa" (Torrano, 1991:17).A história da filosofia tem se feito como um longo caminho para desfazer a confusão entre nome e coisa. Mas, sem dúvida alguma, foi a literatura que esclareceu esta questão, tematizando a onipotência da linguagem. Em Eurípedes (Helena, v.588) há o reconhecimento de que "o nome pode se encontrar em vários lugares, não o corpo" (em francês, numa tradução de H. Grégoire e L.Méridier; Paris, Société D'Éditions "Les Belles Lettres", 1950, p.74: "Le nom peut être en maint endroit, mais nom le corpos").
A linguagem tem um aspecto econômico, é avara, como atesta a existência da homonímia; o que não desfaz a realidade de o conhecimento ser um fato de linguagem. Helena, que sentiu na ficção de sua história pessoal essa complexidade, "chega à plena consciência da liberdade da palavra em relação à coisa que designa: a coisa está apenas onde está, mas o nome está em toda parte onde é proferido", como lembra Cassin (1990:51). A literatura soluciona o problema básico da essência da linguagem, ela o realiza. Se o corpo de Helena estivera apenas onde ela estava, seu nome havia viajado por variados lugares e sido pronunciado por diversas bocas. "Helena" nos obriga a aceitar que aquela voz arcaica (e irrecuperável) da origem jamais foi um sentido, mas um significante iniciador de significados.
À sombra e na lembrança do poder numinoso da palavra criou-se, nas artes e na literatura, uma inquietação que se manteve no conceito de verossimilhança, na ausência da verdade, e como crítica à questão do simulacro. Entre a palavra verdadeira, de realização, do aedo-divino, palavra como aspecto da própria realidade à palavra eficaz da persuasão discursiva, quando o sujeito passou a ser percebido e incorporado ao seu discurso, insinua-se a liberação do jogo significativo. O conceito de logos inicial, como expressão pura, razão da oralidade, "fala que é simultaneamente a fala e a coisa dita, o emissor e o destinatário" (Torrano, 1991:96), a razão da oralidade vai ser domesticado pela escrita, com a necessária liberação da significação como jogo (Derrida, 1971). Com a escrita, tanto o desejo de uma homonímia na linguagem (que confunde nome e objeto) quanto a imposição de um sentido vão ser questionados. A técnica poética deixa de seguir os rígidos princípios do saber de cor, erigida "não através de palavras, mas através de fórmulas, por grupos de palavras construídas de antemão e prontas para se engatar no hexâmetro dactílico" (Detienne, 1981:16), para fundar universos livres da injunção desse sentido.
Duas frentes da linguagem verbal, a da potência da palavra sobre a realidade e a da potência da palavra sobre o outro, abriram espaço para uma reflexão sobre a linguagem, que perdura até hoje. O gênero do diálogo, de início um recurso filosófico, laiciza definitivamente a palavra, fazendo com que o sujeito se incorpore ao seu discurso. É uma mutação intelectual que faz saltar do mito para o logos, dessacralizando o saber (pois o mito enfraqueceu depois que entrou em declínio a tradição oral mantida entre o século XII e o IX a.C.). O conhecimento se mostra despido de toda imputação de origem divina, é uma representação humana. Segundo Vernant (1972:94), "o logos ter-se-ia desprendido bruscamente do mito". O nome, antes verdade, num sistema religioso em que "uma mesma forma de expressão abrange diferentes tipos de experiência" (Detienne, 1981:, 53), transforma-se na metáfora da possibilidade designativa; "o nome é o ser sobre o qual versa a busca ou investigação", para Platão (Crátilo, 4121/422a). Mas a designação é ainda confundida com a realidade designada. Por isso, a palavra da literatura, livre da ilusão da verdade, merece censura. De outro modo, criaria mundos em expansão de significados dispersos do sentido exigido pelo sistema idealista, pois a literatura sempre se soube representação, ilusão ao mesmo tempo que verdade, como vamos ver adiante nos ensaios de Sarah Kofman sobre as leituras que Freud fez da literatura.
Os gregos, por terem dado à palavra um caráter concreto, ressentiam-se, como vimos, pelo fato de os existentes serem em maior número que seus nomes. O desejo de uma homonímia causou equívocos duradouros. Segundo Aristóteles (Sofista, 165a, 12-14), "o mal radical da linguagem é, na verdade, que os nomes sejam necessariamente em menor número que as coisas". E trabalha para dissipar o que considera a fonte principal dos sofismas (Cassin, 1990:37). É em oposição a essa visão instrumental da linguagem mantida pela filosofia que se funda a literatura. Na sinonimia. No entanto, a sombra fantasmática dessa agonia perdura, num extremo, na realização da obra literária o signo poético anseia pela completude (Santaella, anotação de curso). O signo poético não quer acompanhar a descoberta do mundo, não se admite como signo para designar o objeto, quer ser o objeto que representa.
Para Aristóteles, a palavra é um som dotado de sentido e o homem é "um animal dotado de logos e, portanto, é preciso que o seu discurso tenha sentido" (Poética). Como afirma Cassin (1990:34), "o modelo da identidade aristotélica é o sentido da palavra". A recusa ao sentido é paga duramente e com muitas moedas, uma delas, a perda da identidade. O sentido é a exigência transcendental feita à linguagem, que responde ao princípio da não contradição de Aristóteles, considerado o primeiro princípio da ciência. Princípio inaugurado por Parmênides. O ser é ou não é. O sentido não tolera contradição.
Na pólis, pela individualização e diversificação dos discursos, se deu o advento da interioridade psicológica, da persona, essa "tardia instituição cultural", que assim se chamou "por analogia com a representação teatral" (Torrano, 1991:49-50). Nela a autonomia e a vontade do sujeito se transformam em metáfora, em nome. "A doutrina da psyché autônoma é a contraparte da refutação da cultura oral", afirma Havelock (1973:164), lá pelo fim do século IV a.C.. A psyché autônoma surgiu em oposição ao conceito de physis. "Eu sou eu, um pequeno universo autônomo, capaz de falar, pensar e agir independentemente daquilo que me ponho a recordar" (Havelock, 1973:163), parece dizer o grego na pólis. O logos (como unidade de significação) passou a ter muita importância na pólis, pois "um homem vale o mesmo que seu logos" (Detienne, 1981:19), ou seja, que sua força de persuasão. No regime democrático da pólis, é preciso saber falar (Chatelet, 1981:76), dar conta de seus estados pessoais de experiência. O campo para a literatura como hoje a conhecemos abre-se a partir dessa experiência.
A dialética foi o início do questionamento da tradição oral, sendo, para um grupo de intelectuais da última metade do século V a.C., "um instrumento para acordar a consciência da sua linguagem de sonho e estimulá-la a pensar abstratamente" (Havelock, 1973:172). A dialética preparou o homem para o autoconhecimento, fazendo-o esquecer a interminável série épica de acontecimentos em que se enredara sua memória e fazendo-o circular dentro do lema da inscrição délfica: conhece-te a ti mesmo. A possibilidade de sentido não está mais fora do conhecimento. A função alusiva original da linguagem foi sendo esquecida, cabendo à razão "exprimir uma separação metafísica, e passou-se a considerar o ‘discurso' como se tivesse uma autonomia própria" (Colli, 1988:82). Essa autonomia é temida e negada por Platão. Contrariamente, para os sofistas, "o discurso é, certamente, um instrumento, mas jamais um instrumento de conhecimento do real" (Detienne, 1981:62). O sofista reconhece a capacidade única de representação de seu discurso.
Fundada na expressão da liberdade individual, a razão dos sofistas é considerada uma ameaça, "a importância desses vendedores ambulantes de sabedoria prática é determinada por seu duplo estatuto de estrangeiros sem direitos políticos e de profissionais sem prestígio religioso" (Chatelet, 1981:63). O terreno da diferença individual, que vinha sendo preparado, consolida-se. A consciência da expressão artística foi, nesse sentido, pioneira, como nos mostra Detienne, (1981:57): "Desde fins do século VII, a estátua deixa de ser um signo religioso, passando a ser uma ‘imagem', um signo figurado que procura evocar ao espírito do homem uma realidade exterior. Um dos aspectos dessa mutação é a aparição de uma assinatura na base da estátua ou no plano da pintura: na relação que estabelece com a obra figurada, o artista se descobre como agente, como criador, a meio caminho entre a realidade e a imagem. Nos campos da escultura e da pintura, há uma solidariedade — e a mais estreita — entre a tomada de consciência do artista e a invenção da imagem" (Detienne, 1981:57). A pintura e a escultura vão auxiliar o reconhecimento da especificidade da palavra, oferecendo elementos de distinção para a sua composição. No diálogo Fedro, ao inventar o "mito da escrita", Platão vai aproximar a mudez aparente da escultura da orfandade do texto, que, ao ser inquirido, só sabe repetir a mesma resposta.
Se, na sociedade micênica, "a escrita só possuía a função de controle e registro dos bens dos palácios" e, portanto, não podia gerar filosofia nem ciência, "pois não propiciava a liberdade do contraste" (Gorri, 1988:34), ela agora tornava públicos os discursos. A escrita passou a ser a expressão da diferença. Como nos diz Vernant (1972:36), "é a escrita que vai fornecer, no plano propriamente intelectual, o meio de uma cultura comum e permitir uma completa divulgação de conhecimentos previamente reservados e interditos". Pois "uma vez divulgada, sua sabedoria toma uma consistência e uma objetividade novas: ela constitui-se em si mesma como verdade" (Vernant, 1972:37). A retórica só poderia ter nascido na pólis e com o auxilio da escrita, que abandona o lugar da lei e do rei para ficar ao alcance do indivíduo. A retórica é, como afirma Guthrie (1995:179) "par excellence a arte democrática que não pode (...) florescer sob a tirania. O seu nascimento em Siracusa, como notou Aristóteles (...), coincidiu com a expulsão dos tiranos e o estabelecimento da democracia". É a retórica que vai fornecer aos discursos a crescente liberdade da representação.
Mas a escrita não cessa de causar desconforto à filosofia. Desde o início, foi a metáfora de um corte, de uma ruptura, cindindo a voz (phonê, som), a pletora inicial, o sopro divinizador da palavra, com um instrumento cortante (caniço, cálamo, estilete), e daí em diante ficou ligada à mitologia de um parricídio (This, 1977). Começa aí um jogo de significantes de diferença mínima e um jogo de significados de máxima distinção, que vai acabar na condenação da escrita por Platão: órfã de pai e rebaixada pelo rei, como vai nos assegurar Derrida (1991:199 ).
A escrita teve um início difícil, por ser o começo da escala ascendente da abstração no conhecimento humano, muito embora tenha estado ligada aos dispositivos mnemônicos e burocráticos iniciais, na Suméria, que serviam como inventários dos bens doados pelos deuses aos reis. A escrita, portanto, nasceu de uma contradição: é a consciência da simbolização, mas deve permanecer alijada da possibilidade do conhecimento, por representar a não-presença da voz inicial. A escrita vem marcar definitivamente "a ruptura genealógica e o distanciamento da origem" (Derrida, 1991:18), intensificando a diferença entre mito e logos. Sendo a escrita a diferença da fala, seu papel não é assimilado de imediato; o sistema religioso e o sistema legislativo usam-na, mas impedem seu exercício popularmente, justamente pela significação dessa diferença. Acostumados a um registro fixo da lei, pois "a Lei deve ser escrita e tecida num texto que reflete sempre a mesma coisa, os mesmos mandamentos, a escrita nos permite retornar à vontade, tantas vezes quantas for necessário, a este objeto ideal que é a lei" (This, 1977:62), os filósofos, de início, exigem a fixação de um sentido para a palavra de todos os discursos. Desconhecem que estão a lhes impor o silêncio.
Mas a escrita é parricida, registra o sopro da voz (phonê), marcando sua distância da fala primordial original. A escrita cabe muito bem no neografismo conceitual de Derrida, é uma "différance" que se escreve e se vê, mas não se ouve. Ela modula o tempo definitivamente. A linguagem é diferença e todo pensamento é um suplemento de um pensamento anterior, o encadeamento de uma associação em direção a uma verdade possível. Semiose infinda, o conhecimento humano se humaniza com o discurso da individualidade, garantido pela pólis. E a linguagem escrita é diferença que abre uma revisão conceitual da tradução fonocêntrica, segundo Derrida (propondo-se como uma "marca muda", que se escreve e se lê, mas que não se ouve (Glossário, 1976).
Na verdade, o traço da escrita é o grande susto da "impossibilidade da intuição do eidos" (This, 1977:73), porque resulta sempre em associações a posteriori, convidando à uma interpretação constante. A escrita desautoriza a voz no presente de sua emissão, inaugurando a consciência da representação à distância. Aponta enfaticamente para essa distância. Por isso, Platão acusa a escrita na escrita (Platão, que registra a fala de Sócrates e é acusado por Aristides, como alguém que, pretendendo a verdade, finge ser Sócrates e escreve ‘ficções' com seus diálogos — “quem não sabe que Sócrates, Cálicles, Górgias, Pólo, tudo isso é Platão, transformando os discursos à sua vontade?", reclama ele (apud Cassin, 1990). Para Platão, "o texto exclui a dialética" (Derrida, 1991:70), pois é irresponsável, órfão, mimético, mero suplemento da fala.
No diálogo Fedro (274e-275b), Platão cria um mito, fazendo com que Thot, o inventor egípcio dos caracteres da escrita, apresente seu invento ao rei Tamuz, que o desaprova. O rei (analfabeto, como se deduz), mas cuja fala é soberana, rebaixa a escrita e deprecia suas virtudes. Virtudes farmacêuticas, como põe à mostra Derrida (1991), pois a escrita surge como um phármakon (droga que tanto pode ser remédio quanto veneno). Platão põe na boca do rei (do sistema legislador) a sentença definitiva contra a escrita. A mesma que, na Carta VII, vai confirmar, por fim. "Pois este conhecimento terá, como resultado, naqueles que o terão adquirido, tornar suas almas esquecidas, uma vez que cessarão de exercer sua memória; depositando, com efeito, sua confiança no escrito, é de fora, graças a marcas externas, e não de dentro e graças a si mesmos, que se rememorarão das coisas. Não é, pois, para a memória, mas para a rememoração que tu descobriste um remédio. Quanto à instrução, é a aparência dela que ofereces a teus alunos, e não a realidade" (apud Derrida, 1991:49). A escrita não desoculta, não liberta nada do esquecimento e não auxilia a memória: é apenas um lembrete. Além disso, os logoi escritos (Fedro, 274d), assim como a pintura, só fazem repetir a mesma resposta: "acreditar-se-ia que o pensamento anima o que eles dizem; mas, que se lhes dirija a palavra com a intenção de se esclarecer sobre um de seus ditos, é uma só coisa que se contentam em significar, sempre a mesma" (apud Derrida, 1991: 86).
Não é a falta de coerência a si do discurso escrito que gera a ira de Platão, mas o fato de estar livre para as interpretações. Daí sua necessidade de manter a escrita submissa à fala, como uma representação de segunda categoria, que assim vai se manter em todas as manifestações teóricas sobre a linguagem alfabética, passando por Rousseau e chegando a Saussure. Esse rebaixamento foi confirmado por Aristóteles (De Interpretatione, I, 16a 3-8), ao dizer que "o que há na voz é símbolo das afecções na alma e o que está escrito é símbolo do que existe na voz" (apud Cassin, 1990:225). Uma tal representação se fazia digna apenas dos sofistas.
A declaração de orfandade serve para justificar a maior exigência ética que é feita à escrita. Ela não faz sentido, não dá resposta. Vemos, com Derrida (1991:98), que "a escritura, o filho perdido, não responde a essa questão, ela (se) escreve: (que) o pai não está, ou seja, não está presente. Quando ela não é mais uma fala despossuída do pai, ela suspende a questão o que é, que é sempre, tautologicamente, a questão `o que é o pai?' e a resposta `o pai é o que é'".
A imposição de um sentido leva Aristóteles (Retórica, III, 1404a 18-19) a afirmar que "com efeito, os discursos que se escrevem produzem mais efeito pelo estilo do que pelo pensamento". A escrita não serve para o conhecimento, é forma vazia. A ela cabe um determinado estilo, o estilo epidítico, feito para a leitura, segundo Aristóteles (Retórica, III, 12, 1414a 185). Como diz Cassin (1990:338), "tudo aí é tão calculado, os efeitos dependem a tal ponto da exploração das possibilidades específicas da língua, das figuras, das combinações de sonoridades, que só se pode, na verdade (...) reproduzi-los, repeti-los diante de outro, até mesmo diante dos mesmos". Entanto, a filosofia fundou-se na escrita.
O "regime semântico" de que nos fala Cassin, exigido por e a partir de Aristóteles, impõe à escrita que busque ou tenha um sentido. A história dessa razão, aí nascente, prolonga-se até a fundação da psicanálise, que vai apurar a des-razão humana. Foi nesse contexto que surgiu a filosofia tal como a conhecemos. "A ‘filosofia’ surge de uma disposição retórica associada a um treinamento dialético, de um estímulo agonístico incerto quanto ao rumo a se tomar, da primeira manifestação de uma ruptura interior no homem de pensamento, no qual se insinua a veleidosa ambição pela potência mundana, e finalmente de um talento artístico de alto nível, que se liberta desviando-se tumultuoso e arrogante para a invenção de um novo gênero literário" (Colli, 1988:96/97). A filosofia é um gênero literário. Sua retórica é desviar-se sistematicamente dessa razão.
"Platão inventou o diálogo como literatura, como tipo particular de dialética, de retórica escrita", diz-nos Colli (1988:92). O sofista, designado por Platão e Aristóteles como o inimigo da filosofia, pois "prefere as ficções das palavras à realidade das coisas e não se preocupa com a verdade como adequação ao real" (Cassin, 1990:288), sabe que a filosofia é literatura. Platão chega a chamar a própria literatura de ‘filosofia’, contrapondo-a à anterior sabedoria (sophia), e, embora na famosa Carta VII recuse seriedade à escrita, "é dominado pelo demônio literário" (Colli, 1988:96). Platão escreve, chamando de ‘filosofia’ à própria busca da sabedoria e à atividade educativa dela resultante, "ligada a uma expressão escrita, à forma literária do diálogo" (Colli, 1988:9). Sem dúvida alguma, a filosofia é "uma forma literária introduzida por Platão", (Colli, 1988: 9-10). Derrida (1991:56) acentua muito bem que "aquilo com que sonha Platão é uma memória sem signo. Ou seja, sem suplemento". Uma memória que não se registre, a constância de uma alétheia a que Freud ("Wunderblock", 1925) vai dar o golpe final.
É a sofística que declara o entendimento de que a relação da língua com a realidade é simbólica. Se a filosofia passou a ditar um conhecimento por intermédio da estrutura de uma língua, a grega, foi por não ter reconhecido, o que os sofistas fizeram de imediato, que a questão do ser, de Parmênides, é uma questão de linguagem; que "para dizer o não-ser é não-ser, é sempre necessário já ter proferido: o não-ser é" (Cassin, 1990:26). Na linguagem, o ser e o não-ser são. Mas o ser é no logos (que é).
A fundação da metafísica se deu com Parmênides, ao afirmar "em primeiro lugar, que existe o ser já que o ser é e o não-ser não é, em seguida que esse ser é por essência cognoscível já que ser e pensar são uma só e mesma coisa" (Cassin, 1990:25). O julgamento severo que Platão e Aristóteles fazem dos sofistas, que falavam por falar, indica a diferença da filosofia diante da linguagem. O signo significa sempre, mesmo quando está distraído, mesmo quando tagarela. Platão, que inventa Sócrates, aquele que não escreve, cai na armadilha de sua própria crítica, tagarelando como os sofistas. Dizia Heidegger (apud Cassin, 1990:71-72) que "a tagarelice atabalhoada e seu [da linguagem] desleixo tão desdenhoso são justamente o lado infinitamente sério da língua", quando é dado à língua falar. O rebaixamento da escrita (Platão) e a exigência de um sentido (Aristóteles) conduziram a visão crítica racional ocidental, relegando a literatura a um saber de segunda categoria, esvaziado de conhecimento, até à crítica da metafísica, que vai ser feita por Nietzsche e o nascimento da psicanálise. Dai em diante, e com o conceito de escritura, foi possível aceitar que "não há nenhuma realidade pré-discursiva. Cada realidade se funda e se define por um discurso" (Lacan, apud Cassin, 1990:305).
À exigência de sentido, os sofistas opõem uma pluralidade de significados. "O discurso sofístico é demiúrgico, fabrica o mundo, faz com que ele aconteça" (Cassin, 1990:261). A literatura, tal como hoje a conhecemos, nasce dessa diferença. Cassin (1990:14) chega a uma conclusão benéfica: "o romance constitui uma resposta completamente original ao interdito filosófico. Pois o romance é um pseudos, um discurso que renuncia a toda à adequação ontológica para seguir sua demiurgia própria: trata-se de falar, não para significar alguma coisa, mas pelo prazer de falar, e de produzir assim um efeito-mundo, uma ‘ficção’ romanesca". A filosofia vai constituir a literatura. A exigência ética de um sentido, imposta pela filosofia, vai se transformar na aceitação de um jogo significativo e conformar-se esteticamente ao conhecimento, que, na literatura, torna a verdade uma ficção possível. Até mesmo uma ficção científica.
2. A razão poética
(semiose e memória coletiva)"A ciência é grosseira,
a vida é sutil,
e é para corrigir essa distância
que a literatura nos importa."
R.Barthes
(Aula)
No ensaio "Tradition and the individual talent", de 1919, T. S. Eliot (1975:37) abordou uma questão que configura parte importante da reflexão sobre a literatura. Qual o papel e o lugar do poeta na tradição literária? Sua resposta caracterizou-se como um desvio da qualificação subjetiva e um reconhecimento da literatura como corpo estético organizado, isto é, um sistema de conhecimentos. Ao esboçar uma "teoria impessoal da poesia", Eliot relevou a matéria básica da literatura, a palavra em sua realização histórica de conhecimento, constatando que nenhum poeta produz isoladamente qualquer significação. Sua mente é co-participante de uma mente mais abrangente, includente e altamente qualificadora, que não despreza nenhum indício de sua própria evolução ("uma mente que não abandona nada en route, que não rejeita seja Shakespeare, Homero ou o esboço feito na rocha pelos desenhistas do período magdaleniano” (1975:39). Com tal assertiva, já estava Eliot antecipando o conceito de literatura como memória coletiva — um sistema cuja especificidade é resguardar tanto o imaginário das primeiras teogonias, que o formou, quanto o da história, que o foi deformando. Em suma, uma memória disponível para acolher todos os saberes.
Existe, para Eliot, como para a maioria dos escritores, um sentido histórico que substantiva o discurso literário, conformando nele uma simultaneidade imbricadora de passado e presente. Nesse corpo literário, não cabe a categoria subjetiva de autoria; pelo contrário, dele é demandada uma despersonalização. O eu poético, sendo sujeito e objeto do pensamento, é, ao mesmo tempo, uma categoria de linguagem inserida no sistema da língua. Sem isso, diante da contínua experiência de representação com que se depara o escritor (que às vezes toma a enganosa forma de uma carência ou de um excesso), não haveria possibilidade alguma de corporificação da expressão.
A "teoria impessoal da poesia", de Eliot, implica a necessidade de uma "contínua extinção da personalidade" (1975:40), um abandono da personalidade autoral, pois o sentido da tradição é, não uma questão de originalidade, mas de significação. Nenhum autor tem, sozinho, a capacidade de inventar sentidos (ele mais cuida dos inventários da significação), mas de tangenciá-los, dando-lhes uma via no seu fluxo expressivo. Assim como nenhum poeta pode se sentir esgotado de início, diante do vasto sistema literário que já encontra pronto, pois é ele que vai lhe garantir as próprias condições de expressão e reconhecimento. Há sempre a possibilidade de uma nova via para o sentido, espaço para um novo jogo de significados.
O progresso do discurso de um poeta depende dessa abertura generosa para acolher a assinatura de todas as coisas, todos os símbolos da cadeia significativa de nosso conhecimento, pois “as palavras são entes históricos” (Santaella, 1992:392). Como acentuou Jorge Luis Borges (1986:70), "o escritor não é alguém que dá, mas alguém que recebe", pois, esclarece ele, "para que eu escreva tal poema são precisas toda a minha vida anterior e toda a história prévia da humanidade, e são precisos países esquecidos, idiomas perdidos" (1986:35).
Para Eliot, a mente do poeta se consolida como um meio, um catalisador, um receptáculo ("um receptáculo para apreender e estocar inúmeros sentimentos, frases, imagens que lá permanecem até que todas as partículas que podem se unir para formar um novo composto se presentifiquem num conjunto" (1975:41)). A significação, neste sentido, é um jogo com os dados das experiências já registradas; um jogo controlado pela linguagem (já dada). Um jogo que concorda com o conceito de criatividade aceito na atualidade, como composição nova resultante da infinita possibilidade de reorganização dos elementos existentes. Além do mais, a despersonalização enunciada por Eliot (1975:80) torna o poema uma intermediação entre escritor e leitor. É neste movimento, como anteviu, no deslocamento do sujeito (cartesiano) em favor de um privilegiamento da representação cognitiva, que se pode pensar a literatura como ciência. Eliot não está se desfazendo da entidade autônoma, mas tentando libertar a crítica do idealismo vicioso que retirou da poesia seu caráter de conhecimento, delimitando-a a um falacioso processo de sentido excessivamente personalizado, de mórbida identidade com o autor, como resquício da posição paternalista de Platão diante do discurso verbal (principalmente o escrito).
A força do enunciado poético fora relegada a um segundo plano pelo logocentrismo da filosofia platônica, que interpôs, no movimento dos signos em busca de significação, a cerceadora figura paternalista do autor como única origem de seu discurso. Para Platão, a origem e o poder do logos pertenciam a uma paternidade individualizada, responsável única pela enunciação poética. Então reviveríamos perenemente o movimento da poesia arcana, cujo objetivo e verdade era desvelar ("alétheia") um objeto. Mas o texto é parricida, renega o "romance familiar" que Platão (Fedro) lhe impôs, como observa Derrida (1991).
Numa percepção lúcida da lógica do discurso literário, Eliot consagrou as obras individuais a sistemas orgânicos íntegros, como condição para a significação. Ele não fala em consciência ou produção, mas produto. Não vê a literatura como "uma coleção de escritos de indivíduos, mas como ‘todos orgânicos’, como sistemas em relação aos quais, e somente em relação aos quais, as obras individuais da arte literária e as obras dos artistas individualmente têm a sua significação" (1975:68). Um autor não se opõe a outro e os textos se complementam, formando sistemas de conhecimento expressivo. Autor e texto estão inseridos na semiose literária, essa representação expressiva da infinda expansão da significação do conhecimento.
Ademais, Sarah Kofman (1973/1985/1996), em sua exemplar leitura de Freud, relembra-nos que os "pais fantasmáticos" são o reconhecimento de que não há pai original. O culto do artista como autor e herói narcísico (no lugar do grande- homem-pai, na cadeia dos substitutos paternos: Homero, Shakespeare, Goethe e toda a tradição literária estruturada pela metafísica ocidental) é a manutenção daquilo que Freud mostrou ser o "último refúgio da ilusão teológica" (apud Kofman, ) da arte. Uma ilusão poderosa, embora a criação poética moderna tenha incorporado à sua forma e temática a polifonia de vozes, o esgarçamento do tecido narrativo e a dissimulação do narrador. O poeta moderno, levando em consideração a realidade da linguagem, não como instrumento nem como convencionalismo, evita considerar sua produção como um dom (intuitivo) já para não ter de entrar no mérito do reconhecimento de um doador, o que geraria uma cadeia infinita na linguagem dos (impossíveis) resgates e (incabíveis) culpas de débito. O gosto por revisitar as biografias e rever os conflitos desse "romance familiar" (Platão, Fedro) mostra a dependência a um autor-herói (um Hermes intermediário entre a divindade detentora do conhecimento e a ignorância humana) e, principalmente, à "ilusão teológica" aventada por Freud.
O interesse pela biografia do artista é a manifestação do desejo de manter essa ilusão teológica na arte, idealizar o herói para evitar matar o pai na cadeia substitutiva dos poetas. Ao mesmo tempo em que a poesia desfez-se de sua condição numinosa e enigmática não realizou que, se há um enigma na obra poética, esse é o enigma da representação do enigma próprio da vida, pois tudo já nos está dado. Tudo já está dado, esta é a primeira lição que um poeta deve reconhecer. Diz-nos Kofman (1973:197) que "toda ideologia tradicional da arte já estava destinada a ocultar a ausência de fundamento de toda vida".
O jogo de dados que dá significação ao nosso conhecimento foi mal assimilado, uma rasteira forte em demasia para teóricos e críticos românticos e, principalmente, para os provenientes de uma filosofia antropocêntrica. Mas não realmente para os poetas. Para eles, a poesia não é um mistério, mas uma prática originária na e da linguagem. Nenhum poeta é permanente na tradição e tem consciência disso; a tradição é configurada pelos sistemas críticos de todos os saberes em conjunto. Assim como Eliot, com sua visão teórica abrangente, muitos autores chegaram a pensar na produção literária como uma memória em formação expansiva com correspondências internas e externas. Sheley (1986), por exemplo, via todos os poemas como um único poema.
A fina ironia de Borges solidificou, tanto no ensaio quanto na criação poética, a lógica de uma teoria impessoal da poesia. Toda a estrutura conceitual do poeta argentino foi alicerçada com as idéias de Eliot; mas, diferentemente de poeta inglês, Borges uniu a teoria à prática numa verdadeira crença poética. Para Borges, a lógica simbólica da literatura tende a expandir as significações anteriores, arrebatando-as para constituir e conformar sua contemporaneidade. O presente do poema atualiza um significado passado que se dará a posteriori; o discurso de representação é feito dessa coincidência entre passado, presente e futuro. Certa vez, ao lhe pedirem uma opinião sobre os poetas contemporâneos, Borges (1986:30) respondeu ironicamente: "há um poeta, Virgílio, que promete muito".
Obsessivamente, Borges negou a possibilidade de uma originalidade absoluta, acolhendo para o processo literário a atualidade do texto (já como escritura, que compreende na elementação histórica um passado) e seu desconhecido futuro, feito de inúmeras e possíveis interpretações (leitura). Afinal, na diversidade dos saberes que arrebanha, a literatura conforma um corpo de conhecimentos que é parte já de uma tradição cultural. Uma tradição que se constrói além das linguagens, eivada pela escolha ético-estética dos campos significativos dos saberes, na infinda mobilidade de sua capacidade de aprendizagem.
Também Borges contemplou uma razão de memória coletiva na literatura; sua "teoria do esquecimento" (embasada na acepção do sentido histórico, de Eliot, e baseada no princípio da atenção desenvolvido por William James) faz da leitura um movimento de descoberta e invenção. Para ele, a palavra inventar equivalia etimologicamente a descobrir, ou seja, a um exercício de leitura como vivência inauguradora da interpretação. Aliás, a própria conceituação de James é reduplicada sem nenhuma culpa de débito num dos textos de Borges (1964:69), mostrando que todo conhecimento detectado pela leitura é uma invenção significativa porque decorrente da interpretação atualizada do leitor, que inaugura um novo sentido, ao mesmo tempo que reconhece todos os antigos. "Os fervorosos que se entregam a uma linha de Shakespeare não são, literalmente, Shakespeare?"(1974:763).
Toda a obra de Borges está repleta de exemplos confirmadores desta leitura-invenção; basta nos lembrarmos dos contos "Pierre Menard, autor do Quixote" e "Homenagem a César Paladión", entre outros. Para Borges, o escritor se caracteriza como uma função, mas não uma função egótica. Pelo contrário, seu saber é generoso, beira a autoria comunal da língua, indo além dela. Para ele, era risível, como mostra no conto "Gradus ad parnasum", a idéia de existir, na evolução do pensamento poético, um "Registro da Propriedade Intelectual" (1976:73). A idéia dominante e paternalista de propriedade assenta-se numa qualidade que exige correlações da obra com a biografia autoral, contabilizando antecedentes e conseqüentes, avaliando toda influência como uma submissão à prioridade e traçando uma genealogia da anterioridade. A obra, para Borges, é a capacidade de recepção do poeta que vai se encontrar com a capacidade de recepção do leitor; é, enfim, a capacidade de leitura.
A literatura torna-se um processo cognitivo abrangente e pregnante, a possibilidade de uma leitura do mundo, aliando imaginário (o modo mais antigo da produção de conhecimento), contemplação teórica e a possibilidade de simulação de uma aprendizagem, embora Pierre Lévy (1974) se queixe que a epistemologia não tenha ainda inventariado as tecnologias intelectuais e, principalmente, a junção da teoria com a experiência, através do conhecimento por simulação. Na verdade, a literatura sempre teve essa capacidade, e não apenas no assim chamado bildungsroman. E Borges é o autor que preza a capacidade da literatura ser o resguardo de toda história humana. Volta e meia seus personagens nos dão exemplos contundentes desse conceito, como os já lembrados Pierre Menard e César Paladión. Lamkin Formento, em "Naturismo em dia", serve como a metáfora mais agressiva dessa idéia, pois "eliminou, ao fim de maduras reflexões, o prólogo, as notas, o índice, e o nome e domicílio do editor, e entregou para impressão a obra de Dante" (1976:42).
A obra de Borges está condicionada a uma prática crítica do pensamento de Eliot, é a prática de um assentimento. Em sua opinião, pertencemos, como signos que somos, a um campo significativo maior. Não passamos de um símbolo na história comunal: "Somos um sonhar sem sonhador. Esse sonhar se chama história universal, e cada um de nós é um símbolo desse sonho" (1986:105 e 192). Para confirmar, diz-nos ele que todo livro é "uma extensão da memória, do entendimento" (1986:131). Uma extensão contínua, em que a significação da palavra tende a uma veracidade teleológica (termo que Borges usou muitas vezes, arrebanhando-o também da psicologia cognitiva de James). Essa idéia converge para a acepção de um signo, como esclarece Santaella (1992:401), em expansão: "o conceito de signo como complexidade sem limites predeterminados e definidos pode coincidir com a idéia de um argumento sem fim, continuamente em expansão, que recebe também o nome de semiose ou ação ininterrupta do signo". A literatura seria esse signo expansivo, de uma memória generosa que possibilita engendrar novos significados, através de novas associações. Seria o registro de toda produção de sentido, o que a torna duradoura, provendo, pela leitura (interpretação) a atualização dos modos de produção de conhecimento, das formas de pensamento. A sobrevivência da literatura, como aparato de comunicação, possibilita o resguardo e a antevisão das descobertas cientificas, artísticas e técnicas que mudaram historicamente a face do mundo e o olhar da humanidade.
Para Borges, não há violência entre passado e futuro no presente da obra, porque a memória não se limita à pura lembrança, mas é determinação de um conhecimento vivo; também não há rivalidade entre os sujeitos, por haver a aceitação do discurso da memória comum como movimento em direção à sua realização. Uma realização infinda, de semiose infinda. O espaço lingüístico, na visão de Borges, é uma realidade respeitada como concretude significativa. Soube ele aproveitar-se da ocasião do discurso como fundadora do sujeito, na acepção freudiana. É por meio da generosa composição da escrita como construtora de uma identidade que o escritor faz perfilar na linguagem seu estilo, uma unidade organizadora da multiplicidade de suas experiências. Se à língua cabe organizar a experiência comum, ao estilo cabe organizar a experiência individual. Poucos escritores puderam desapegar-se da romântica máscara de herói hermético (que protege e protela uma "verdade oculta", vigiando o texto como se fosse a mística reveladora de uma voz anterior e divinizadora) para se tornarem contemporâneos de sua própria linguagem, como Borges. Foi ele ao encontro dessa teoria como recurso de todo o conhecimento ocidental e oriental disponível na grande biblioteca do mundo. Com o recurso da intertextualidade, abrangeu os diversos modos de conhecimento, já transformados em signo pelas culturas.
Borges reconheceu que todas as classificações do mundo são, por si mesmas, metáforas da realidade, são ficções, já que toda teoria determina o que vemos (sem esquecer a realidade primordial de que a convenção lingüística é a formadora das demais, como afirma Cassin (1989,1990,1995) ) Assim como Clarice Lispector desejou desfazer-se do gênero e da factualidade anedótica, simplesmente chamando de texto sua escritura, Borges apelou para o conceito de ficção para designar o produto de nosso conhecimento, invocando sempre o modo de representação, que é o nosso modo de estar no mundo.
Borges anteviu, nos elementos que fundaram sua percepção da lógica literária — a consciência da linguagem como primeira instância fictícia, o conhecimento factual como segunda e o escritor como terceira, todas representação cultural —, a necessidade de ajuizar o domínio do discurso poético. Afinal, as qualidades literárias não coincidem com as meras qualidades da linguagem, nem com a simples vontade de comunicar algo. Resta sempre "a dificuldade categórica de saber o que pertence ao poeta [Homero] e o que pertence à linguagem" (1964:107). Muitas das obras atuais não são mais do que a qualificação representativa do próprio labor da linguagem em seu caminho metódico em busca da verdade, aquela determinação de significação que é própria da ação do signo "de ser interpretado em outro signo" (Santaella, 1992:46, n.1).
Borges jamais caiu na armadilha de supor que o papel da poesia coincide com o papel da linguagem: a linguagem, que funda a filosofia (para ele, a metafísica é um ramo da literatura fantástica), a história e as ciências, funda também a literatura. Significar é uma propriedade da linguagem, a literatura possui outras propriedades. A condição da literatura parece ser a de encarnar um idealismo realista, tal como o faz o signo para o conceito de semiose peirceana. Borges, como Eliot, considera que a força do poeta está na sua condição "negativa", de mente-receptáculo: "escrevo quando um tema exige que o escreva. Não procuro temas. Os temas me procuram" (1986:70). Como dizia Peirce (C. P. 216-17), "a idéia não pertence a uma alma; é a alma que pertence à idéia. (...) As idéias não são meras criações desta ou daquela mente, mas, ao contrário, têm o poder de encontrar e criar seus veículos, e o tendo encontrado, de conferir a eles o poder de modificar a face da terra" . Por fim, "a literatura é uma vocação. Há temas que nos chamam" (1986:71), diz Borges.
A vocação de imortalidade da linguagem literária está ligada ao conhecimento mais do que a qualquer outro artifício, seja de estilo (a emoção na história) ou de retórica (a persuasão), como constatou, pois "a página que tem vocação de imortalidade pode atravessar o fogo das erratas, das versões e aproximativas, das distraídas leituras, das incompreensões, sem deixar a alma na prova" (1984:48). Com uma penada Borges se desembaraça daqueles que acham possível fixar um sentido definitivo numa interpretação (tradução) ou inaugurar um sentido absolutamente novo num campo significativo dado. A alma da literatura está na sua condição de linguagem, na alma "despersonalizada" do escritor, crente de sua generosa recepção cognitiva.
A melhor expressão do argumento da poesia como conhecimento é dada por Borges no ensaio "Kafka y sus precursores" (1952), numa máxima que ficou famosa: "O fato é que cada escritor cria seus precursores. Seu trabalho modifica nossa concepção do passado, como há de modificar o futuro. Nessa correlação não importa a identidade ou a pluralidade dos homens" (1974: 712). (Ouve-se aqui claramente a voz de Eliot.) A produção literária é uma malha entretecida pela confluência de saberes que conformam uma memória comunal desde as primeiras teogonias, é um diálogo infindo. O diálogo a que Platão, sem querer, deu início através da escrita.
Nota-se, na proposta de Borges, uma continuidade da proposta crítica de Eliot, para quem uma obra altera toda a ordem preexistente ("e isto é conformidade entre o antigo e o novo. Quem quer que tenha aprovado esta idéia de ordem, da forma da literatura Européia, da literatura Inglesa, não vai achar despropositado que o passado deva ser alterado pelo presente tanto quanto o presente o é diretamente pelo passado" (1978:38). A única insuficiência na teoria de Eliot é a insistência na qualidade da novidade, deixando-nos com a tarefa quase impossível de avaliar o que é o verdadeiramente novo.
Conformidade e simultaneidade, para Eliot, são as características básicas das obras individuais com relação à memória coletiva. Não será demais lembrar que, para ele, a obra nova não se confunde com o poeta novo, porque a força literária está na obra, na ação sígnica que determinará uma multiplicidade de interpretantes. A força não está no poeta, mas na energia sígnica que o atravessa, de que faz uso. E não há aqui nenhuma margem de ressentimento como parece haver no conceito de "tardividade", de Harold Bloom (1991), como veremos em seguida. A persuasão não cativa pela individualidade, mas pela conformidade e simultaneidade a uma ordem contemporânea. É na contemporaneidade da leitura que a obra gera conhecimento e verdade, passando em revisão o passado e antevendo o futuro.
Embora não haja mais perplexidade quanto à realidade de representação da literatura, muitos equívocos são gerados teórica e criticamente. Os estudos de psicanálise — principalmente alguns conceitos reveladores de Freud — firmaram a literatura como um discurso de representação em que tanto o objeto quanto o sujeito do conhecimento estão dentro de uma mesma cadeia simbólica. É o discurso que vai dar identidade ao sujeito e conformar o objeto. A realidade psíquica, com Freud, vai garantir ao discurso literário uma qualidade cognitiva, lugar de onde se projeta alguma verdade, não diferente da capacidade dos discursos científico, filosófico ou histórico. Kofman (1973:61) afirma que "é o triunfo do espírito e da arte poder dar, dentro de uma mesma fórmula, o delírio e a verdade".
Quando Borges nos fala da função da persuasão literária, que é a de criar uma "suspensão da dúvida" (seguindo a voz de Coleridge), está pensando na capacidade do poema constituir um conhecimento. A narração é verossímil por criar uma "forte aparência de verdade, capaz de produzir essa espontânea suspensão da dúvida, que constitui, para Coleridge, a fé poética" (1974:226). A veracidade da palavra literária está marcada na fidedignidade para com a sua realidade de representação; sua força, a de ser uma "recordação transfigurada" e "de projeção ulterior". Borges acompanhou de perto a evolução das ciências da linguagem em seu esforço para se libertarem das imposições mais traumáticas feitas pela metafísica ocidental. A "projeção ulterior" por ele enunciada concorda plenamente com o conceito de representação de Freud, do movimento relevante do après coup. O texto, segundo Kofman, está sempre ao alcance de uma reconstrução, constituindo-se a posteriori. O texto é uma reconstituição. A semiótica peirceana trata da questão, apontando uma ação determinante do signo para ganhar significação; todo signo prevê sempre um interpretante projetor de sentido em direção constante à verdade.
Para Derrida (1971:192), o a posteriori é o conceito que nos liberta da pressão metafísica da não-contradição (desde Aristóteles) e da presença a si (desde Platão). "Que o presente em geral não seja originário mas reconstituído, que não seja a forma absoluta, plenamente una e constituinte da experiência, que não haja pureza do presente vivo, é o tema, formidável para a história da metafísica, que Freud nos leva a pensar através de uma conceptualidade desigual à própria coisa. Este pensamento é sem dúvida o único que não se esgota na metafísica ou na ciência" (1971:201). Nisso percebemos a concordância de Eliot e Borges, próxima à da psicanálise freudiana, que considera o conhecimento como um fato endopsíquico. Kofman, no cuidado que marcou sua reflexão, afirmou que "descobrir o texto não é encontrar atrás do texto outro texto. É sair em busca do passado colectivo ou individual, de que sobram rastros no próprio texto" (1973:74). Todo texto, portanto, é um traço do passado coletivo sempre originário de um original já cultural. Já dado, por conseguinte.
A questão da representação traz para a literatura, não menos do que para as demais ciências, o problema da verdade. A "suspensão da dúvida" e a constituição de uma "fé poética" seriam uma virtude do sujeito catalisador poético ou já estariam na atualidade determinadora do movimento da interpretação que o signo impõe como condição de existência? É difícil nos desembaraçarmos das malhas ideológicas para pensar essa questão. Mas Kofman (1973:64) é bastante convincente ao afirmar que, "enquanto as ideologias erigem as ilusões como verdades, o poeta nos dá "a verdade"; como ilusão e na ilusão. O signo verbal é já determinado pelo anseio de verdade, marcado pela necessidade fundante de interpretação: um movimento teleológico em direção à verdade. A verdade não o constitui, mas conforma seu movimento, sua ação no mundo, sua energia geradora de significados.
Entre todos os agentes do discurso verbal, o escritor é o que mais confia nessa possibilidade, é essa sua paixão. Por isso, Freud afirmou a superioridade do poeta sobre o erudito e o cientista (apud Kofman, 1973:60): "a psicopatologia não descobriu nada que não tenha sido pressentido pelos poetas há muito tempo". Do ponto de vista da simultaneidade histórica, Eliot (1974:95) observou que "hiperbolicamente pode-se dizer que o poeta é mais velho do que os demais seres humanos ; ele sabe que se constitui no próprio discurso é uma mente receptiva. É por isso, como nota Kofman (1973:123), que "Freud se opõe à concepção ideológica de arte como imitação do real e como reflexo do autor: esta pressupõe a verdade como adequação ao real e a identidade de si mesmo a si mesmo. A obra de arte, pelo contrário, permite ao eu não unificado e ausente de si mesmo estruturar-se, constituir sua identidade. A obra de arte não é exterior à realidade psíquica que representa: portanto, não pode imitá-la. A fantasia que "expressa" é uma construção a posteriori". O poeta sabe que não existe identidade prévia à linguagem, como sabe que "a arte tem o privilégio de romper a solidão das consciências" (Kofman, 1973:105).
Sendo a memória constituída pela imaginação, como afirmou Kofman (1973:124), a literatura é um conhecimento privilegiado, porque "o texto da arte é o próprio texto da vida. Estava certo Flaubert, ao defender diante da corte o seu direito de ser realista, conclamando ser ele a encarnação de sua personagem, Madame Bovary. É a mesma proposta de Barthes (1978), ao desejar para a literatura o reconhecimento da dignidade da ciência, pelo seu modo único de "trapacear a língua". "Essa trapaça salutar", diz-nos ele, "essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim: literatura" (1978:16). Além disso, para ele, "a literatura assume muitos saberes"; "todas as ciências estão presente no monumento literário" (1978:18). Só "através da escritura, o saber reflete incessantemente sobre o saber", pois "a ciência é grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir essa distância que a literatura nos importa" (1978:19). Já Freud desejava ("O poeta e a fantasia"), transformar em ciência a literatura, reconhecendo, no conhecimento metapsicológico, ou "conhecimento endopsíquico" (de "percepção endopsíquica"), um saber verídico. Barthes não desejava tanto, mas não deixou de relevar o saber da literatura, dizendo "que ela sabe algo das coisas — que sabe muito sobre os homens" (1978:19) ao encenar a linguagem.
Kofman nos lembra que Freud (em Nuevas Aportaciones, Conferência XXXII) ironicamente fez ver que "sem dúvida os poetas são irresponsáveis. Acaso não são os únicos com direito à a licença poética?" (1973:116). Ao que Kofman comenta: "a liberdade muito especial concedida aos artistas é significativa: parece ser uma maneira insidiosa de revelar tudo levantando a censura de todo texto e de toda escritura. A licença artística está destinada, por outra parte, a "manchar" a verdade psíquica da arte: a arte seria apenas assunto da imaginação. Ela 'mancha' sua seriedade. (...):a sociedade vê o artista como o pai de suas criações e o artista, que quer ser pai de suas obras, quer para si mesmo ser seu próprio pai. A sociedade concede pois ao artista plena licença para mostrar que não está submetido a nenhuma pressão externa, que é livre e plenamente dono de si mesmo, auto-suficiente, como Deus. A ‘licença artística’ faz parte pois do sistema ideológico da arte: satisfaz a ilusão teológica, é vítima da separação fictícia do que é jogo e do que é sério, do imaginário e do real. É uma negação da verdade psíquica da arte" (1973:116).
Tornar o escritor pai de seu discurso é desconhecer a realidade da linguagem, como se esta fosse habitada por uma voz "divinizada", que antecede o próprio jogo de significação; como se a "verdade" não fosse alcançada num movimento de avanço em direção à realidade, criada pelo a posteriori (sempre um futuro), mas num movimento de retorno, de volta a um passado (origem), no resgate de uma voz oracular e mistificante.
Esse retorno, como insiste Harold Bloom (1988:114), pertence ao poeta (Satan): "seu modo de retornar às origens, de fazer a passagem edipiana, é tornando-se um criador rival de Deus-enquanto-criador". O passado do poema, desse modo, fica restrito à escuta especial, pelo poeta individualizado, de uma voz antecedente. Na sua "dialética da expropriação" (1988:17), Bloom carrega excessivamente nos traços teológicos da expressão poética. Sua alegoria teórica de leitura parece, em certos momentos, configurar realmente uma inveja do divino, pela heroização do poeta como autor/criador (no lugar do pai e grande homem, se lembrarmos Freud) e dono do sentido. Diz ele: "O medo da divindade é, pragmaticamente, um medo da força poética, porque o espaço em que o efebo ingressa, ao principiar seu ciclo vital como poeta, é em todos os sentidos um processo divinatório" (1988:195).
A leitura de Bloom é supostamente uma visão histórica da produção poética (mas completamente esquecida do "sentido histórico" apregoado por Eliot). É uma visão pensada como a tentativa do resgate (sabidamente impossível) de uma origem (teológica) da poesia pela voz que encarnam os poetas enquanto purgam ou sublimam sua realização de inveja e culpa. Para ele, o que o poeta procura são "evidências de ter sido eleito para realizar as profecias dos precursores, pela recriação fundamental dessas profecias em seu próprio e inconfundível idioma" (1988:195). Tem razão Bloom em não desconsiderar o fardo que sobrecarrega os poetas ao serem eleitos pelas idéias. O poeta é escolhido por uma idéia para renovar-lhe a garantia de vida. Essa magia poético-teológica é bastante messiânica e em diversos momentos parece não permitir que Bloom se desvie de um fonocentrismo abusado. "Quando abrimos hoje algum livro de poesias, queremos, se possível, escutar uma nova voz, uma voz característica, e se essa voz já não é suficientemente diferenciada de seus precursores e de seus companheiros, nossa escuta se encerra, não importa o que a voz esteja querendo dizer" (1988:190-91) .
Vimos que, na acepção vigorosa de Eliot e Borges, a literatura não nasce de uma consciência individualizada. A realidade da representação, assentada no processo de objetivação e significação, nos faz crer que o movimento de aprendizagem é a qualidade constituinte da linguagem: sua possibilidade de interpretação. A leitura é o movimento energético da literatura. Embora a leitura, como geração de significado, tenha sido recalcada por longo tempo, pelo mesmo movimento rebaixador da escrita acionado pela metafísica ocidental. E em muitos momentos tenha inclusive sido censurada por interesses ideológicos. Se a escrita, para Platão, é órfã, ressentindo-se da falta do pai como vigilante do sentido (Fedro), a leitura nem sempre ficou impune.
Kofman vai nos mostrar, seguindo a teoria freudiana, que, pelo contrário, "a obra engendra seu pai" (1973:56). Nela se constitui o sujeito do discurso, pois, como diz Derrida (197:222), "a percepção pura não existe: só somos escritos escrevendo, pela instância em nós que sempre já vigia a percepção, quer ela seja interna quer externa. O sujeito da escritura não existe se entendemos por isso alguma solidão soberana do escritor. O sujeito da escritura é um sistema de relações... No interior desta cena é impossível encontrar a simplicidade pontual do sujeito clássico. (...) Em vão se procuraria no "público" o primeiro leitor, isto é, o primeiro autor da obra. E a "sociologia da literatura" nada percebe da guerra e das astúcias de que é objeto a origem da obra, entre o autor que lê e o primeiro leitor que dita". A resistência em criticar o sistema ideológico que fundou a "irresponsabilidade" poética é grande e aparece como uma insistência na categoria arbitrária e não representativa do autor como pai de seu discurso. Essa teimosia teórica cria um estatuto de discurso que não consegue superar a herança tradicional, por acreditar na autoria como autoridade, priorizando sua dominação sobre o processo de significação. Portanto, a ascendência de uma prioridade biográfica sobre a representativa, como se o sujeito fosse dono da linguagem ou, mais incompreensível ainda, de um saber que não se faz na linguagem.
O poema, numa visão fonocêntrica, é considerado uma individualidade estanque, que não dá continuidade à nenhuma tradição de conhecimento. No entanto, a individualidade e a liberdade do poema, estão na sua potência de linguagem, na capacidade de se engendrar como discurso e dar-se a interpretar. Havendo a desconsideração desta estrutura, volta-se a possibilidade de interpretação para a busca de uma origem ofuscante e cega, plena de conflitivos desejos e dominada por uma ideologia teológica, portanto, uma percepção não teleológica da verdade poética.
A origem é sempre o privilegiamento de uma referência numa cadeia artificialmente detida. Para Derrida(1971:32), a leitura e a escritura do texto são já "operações originárias". O movimento de descentramento, cerne de seu conceito de "desconstrução", exige "o abandono declarado de toda referência a um centro, a um sujeito, a uma referência privilegiada, a uma origem ou a uma arquiae absolutas" (1971:24). Do contrário, seria aceitar a imposição do esquema platônico que delega a origem e o poder da fala à posição paterna, anterior e externa ao signo. Para Platão, como vimos, a história da escrita resume-se a uma "história de família", um romance familiar em que a autoridade significativa do logos é gerada e mantida pela instância paterna.
Entanto, a especificidade da escrita é exatamente a ausência do pai, do escritor, da referência relevada; não é sem propósito que a escrita está ligada desde o início à metáfora do parricídio. A convenção da escrita implica dela retirar-se, como afirma Derrida, abandoná-la ao seu destino de différance. E isso exige do escritor a força da crença generosa de aceitar-se como "receptáculo", na metáfora de Eliot, de que uma idéia ocupe sua escritura e crença no próprio movimento de significação do signo, na leitura que funda a fé poética. No entanto, das formas mais diversas, encontramos ainda em muitos teóricos e críticos da literatura uma resistência à aceitação desse movimento marcadamente teleológico da palavra em direção ao seu futuro de significação.
O conceito de "tardividade" (advindo das "exaustões de quem chega tarde demais", de Harold Bloom (1991:42), causa um certo desconforto. Bloom, que apregoa seu temperamento revisionista, entanto, na explicitação de seu conceito de "angústia da influência" confunde o sistema ideológico operante na literatura (e, em primeira instância, na linguagem) com a possibilidade idealista de manter na história julgamentos "universais" de qualidade ("The dialectics of poetic tradition",1988). Nesse sentido, Bloom firma uma posição exatamente oposta a do conceito histórico de Eliot, em que as obras novas — a qualidade atual — criam uma contemporaneidade ao realocar toda a avaliação dos sistemas anteriores.
Enredado nas teias de um perturbador logocentrismo, que talvez gostasse de combater, Bloom ainda insiste no espelhamento da "cena da escritura" como "Cena de Instrução". E na sua leitura dos cânones literários (1995), no entanto, mostra-se um crítico atento ao valor da literatura como conhecimento. Embora a leitura dos sofisticados e alertas ensaios de Bloom seja prazenteira e útil, sua amargura pela "tardividade" afeta qualquer paixão que apresente pela linguagem poética.
Para não haver desentendimento teórico, ao se ler Bloom, é necessário seguir o conselho de Arthur Nestrovski (1992:233) que nos diz que "é preciso não se deixar levar demais pela força figurativa do esquema edipiano de Bloom". Tarefa quase impossível. Sua figuração e o poder de suas alegorias são de uma consternadora tragédia. "O Poeta chega tarde na estória" (1991:96), lastima ele. Mas os poetas continuam vencendo os labirintos das construções poéticas que lhe são anteriores, tecendo seus caminhos em redes de significações que vão reinaugurando sentidos e sonhos.
Poema e poeta estão unidos pela realidade representativa da razão humana, esse campo semântico comum à linguagem, resultante de um conhecimento universal, e sempre mutável. É preciso ler os relevos do texto de Bloom, descontando sua ironia angustiada. O poeta, para ele, é sempre o Poeta, em letra maiúscula. Um relevo perigoso, que dispõe o poeta diante de sua criação a falar da "insuficiência de Deus" (1992:36). Isto é, cantar a si mesmo.
A "tardividade" de Bloom, que se mostra em metáforas edipianas, dentro do próprio "romance familiar" platônico, acaba se configurando como uma figura ambígua do conceito de criação, como a aceitação de um conceito divinizado do poético. Aliás, é essa a configuração de "O retorno de Édipo às origens" (1988:109). A criação, para Bloom, é um conceito que desautoriza a força do signo, sua interpretabilidade, sua capacidade de determinar uma ação no (futuro) mundo, desviando-a para a força formadora (passado) da identidade do Poeta.
Para Bloom, o poeta-indivíduo luta contra seu predecessor e contra a linguagem, a própria cultura poética. O poeta moderno, para ele, está sempre à beira do solipsismo; por ter chegado tarde na história ("nós, de fato, somos tardios" (1988:105)), sua tarefa restante é "reunir tudo o que resta" (1988:79). Para Eliot, o movimento é o inverso. O que resta é a possibilidade de configurar o novo, de remanejar os elementos existentes. Não é possível aceitar as qualidades de "repetição e descontinuidade" (1988:108) no discurso literário atual, pois essas procedem desde as primeiras manifestações poéticas.
Teve, a razão humana, em sua evolução, outra tarefa senão recolher "os restos do banquete", como sugeriu William James no seu Princípios de Psicologia Terá outra realidade a linguagem humana? Bergson (A evolução criadora) já nos avisou que a possibilidade de uma consciência cosmogônica supra-histórica findou-se com a invenção da própria linguagem. A marca de nascença humana é essa fissura; entre sujeito e objeto existe um vazio que deve, necessariamente, ser preenchido com uma mediação, o signo. No entanto, a história, para Bloom (1988:79), significa que "os embaraços da tradição tornaram-se muito ricos para precisar de qualquer coisa mais".
Não seria o simulacro a condição de todo conhecimento? Para Bloom, a tradição poética (ao contrário da percepção de Eliot) não é um respaldo para o poeta novo, mas um atrapalho no seu caminho para a escritura, mesmo sendo a escritura o embaraço mais rico e estimulante da tradição humana. A metáfora do escritor como receptáculo, em que Borges concorda com Eliot, não merece crédito de sua parte. Bloom parece ter dificuldade em aceitar Eliot. Sempre que pode (Cânone, 1995:81e151), por exemplo), identifica-o como "um neocristão dogmático" e "construtor de julgamentos estéticos em bases religiosas".
Na fábula poética que é seu livro A angústia da influência, Bloom (1991) configura sua teoria como um "desvio" na evolução interpretativa do discurso literário, uma revisão, uma correção. Através de uma metáfora psicológica, retorna ao resgate da metafísica da presença e da não-contradição. A estranha lucidez de Bloom com relação à sua contemporaneidade o leva ao idealismo do resgate da origem (impossível), voltando-se para uma metáfora de escritura definitiva, que impõe obstáculos ao jogo da significação. Sua reflexão baseia-se num culto ao logocentrismo, que instituiu a prioridade da voz do poeta em relação à escritura. O poeta tardio é o herói trágico a quem foi negada a sobrevivência ou o discurso não é suficiente como lugar de sua constituição? O poeta-herói-trágico-moderno, efebo em performance na Cena da Instrução, na concepção de Bloom, luta no campo da poesia para transformar a linguagem em uma categoria de resgate da própria identidade, anelando por um discurso individual no labirinto da linguagem cultural.
A "angústia da influência", como fábula teórica, na verdade, configura, uma resistência à leitura, no sentido da "invenção" de Borges, não acomodando o discurso poético na sua realidade de discurso de representação, texto, tecido, teia e jogo de significação. Sua tematização do "romance familiar", na interpretação psicanalítica edipiana, estranhamente desvia-se da "história de família" que Platão impõe à escrita, para enfrentar a rivalidade de poeta para poeta, poema para poema. Virulento leitor de Freud, Bloom, no entanto, num movimento regressivo, volta a negar à poesia a possibilidade de conhecimento, fazendo o poeta novamente participar do sistema ideológico punitivo da culpabilidade do desejo de ser "pai" de seu discurso, embora afirme o contrário: "meu interesse único aqui é o poeta como poeta, ou a identidade autóctona [sic] do poeta" (1991:40).
Mas um poeta não tem seu poema somente por empréstimo? Não o habita por direito da passagem nele da linguagem e do seu tema? Não é o poema seu lugar-presente, o espaço de sua constituição? Assegura-nos Bloom (1991:88) que a "influência poética" é "uma doença da autoconsciência". Os próprios termos de sua teoria são fermentados num tom edipiano, o que nos faz aceitar, para a sua produção crítica, o rótulo de "psicopoética", dado por Ann Wordworth. "O embate entre forças iguais, pai e filho como poderosos opostos, Laio e Édipo na encruzilhada: este e só este é meu tema", afirma ele (1991:40).
A encruzilhada em que Bloom situa sua reflexão é histórica e psicológica, deixando à margem toda teoria dos sistemas de representação e da significação. Os constituintes da "angústia da influência", portanto, são memória, desejo e violência edipiana, como aponta Wordworth (1981:209). Seu argumento, composto e "concebido como parcela de uma meditação integrada sobre a melancolia da mente criativa, em sua desesperada insistência pela prioridade" (1991:42), é a causadora da angústia. A prioridade é uma insistência quanto a possibilidade de originalidade. Bloom é capaz de afirmar corajosamente que "só é propriedade do poeta aquilo que for capaz de nomear pela primeira vez" (1991:100). Mas o aceitável é que supõe a Escritura Sagrada, na grande ficção da Criação, que esta tenha sido uma das primeiras tarefas da razão humana: nomear. Depois, nomear passou a ser delegar sentidos e poderes ao discurso de representação. Babel é o relevo metafórico de nossa realidade de linguagem. No entanto, a prioridade de nomear dará ao poeta, para Bloom, o direito de ser um elemento "autóctone" no campo da linguagem, concedendo-lhe "a única autoridade que conta: o direito de propriedade; isto é, a prioridade de se nomear alguma coisa pela primeira vez" (1991:114-115).
Se a própria experiência, em certa medida, depende já da convenção lingüística, em primeira instância, por dar à sensibilidade uma lógica funcional e, em seguida, por obrigar o poeta a comunicá-la numa determinada linguagem, como é possível aceitar uma categoria de "propriedade" de autoria? E Bloom arrebata para a sua teoria, com uma ironia quase cáustica, uma impossibilidade desdobrada em várias, ao acreditar que o "tema oculto" da poesia dos últimos três séculos tem sido a "angústia da influência, o medo de todo poeta de que não haja nada mais para ser feito" (1991:190). Mas, melhor do que ninguém, Borges nos ensinou, neste fim de século, que há ainda muito a ser reconhecido pela linguagem poética, que não há temas esgotados. A partir de Borges se pode ler melhor Eliot, inclusive. E Kafka. E os pré-socráticos.
As seis passagens metafóricas do movimento de "desleitura" de Bloom, constituem um "desvio", conformando a interpretação como "desinterpretação" (1991:133). Mas não seria toda leitura interpretação no sentido do desvio de um significado exposto: uma desinterpretação, portanto? O jogo de significações é uma cadeia infinda. A não ser que se acredite na conformação de um sentido na linguagem, como um nervo exposto cuja sacralidade não permitisse mais nenhuma sensibilidade, nenhuma emoção, nenhuma versão. Para Bloom (1991:57), o poeta é um "solipsista quase perfeito" não fosse sua oposição contra a voz rival do poeta seu precursor, diante de quem tem de ser um "poeta forte" para desviar-se de sua linguagem, pois, comenta com razão, poeta algum "jamais falou uma língua livre da língua forjada por seus precursores" (1991:56).
Nenhum poeta inventa uma língua, esse poder "trans-histórico", como nos disse Barthes (1994:14). A língua é um sistema anterior à linguagem em que se constitui o sujeito-poeta. Revendo a afirmação de Bergson (retomada por McLuhan), de que o homem se afastou da consciência cósmica com a linguagem, Barthes percebeu que, na verdade, "não pode então haver liberdade senão fora da linguagem" (1989:16). A linguagem é correlata ao sujeito do discurso, pois o discurso sujeita o poeta (Nietzsche esclareceu já essa questão). Mas há que considerar a questão da paternidade lingüística do poema não somente como uma rivalidade edipiana, mas como um reflexo da "história familiar" platônica: a escrita órfã. Causa espanto que Bloom fale numa genealogia em busca de anterioridade, de uma influência que se torna rivalidade entre o candidato à língua, o efebo, e seu antecessor, o pai lingüístico do poema de sua influência. Morreríamos de tédio nessa previsibilidade poética. Entanto, Bloom, à sua maneira, conseguiu escrever um cânone cuja originalidade está nas exceções e desvios.
Robert Young (1981) volta a fazer o roteiro da melhor qualidade possível da produção literária: o discurso como "impessoalidade", o que o possibilita tornar-se ciência. O precursor não pode existir como antecedência, ele é um coexistente ao poema; como todo signo se dá a posteriori na leitura, nenhum texto tem "prioridade" nem "autoridade de propriedade". É na leitura, que Bloom parece apenas aceitar como cânone, que vai terminar o jogo da significação. Mas a leitura é um processo não modelar, mas ativo e enérgico. A leitura é a infinda busca da (impossível) realidade. As reflexões mais evolutivas dão à escritura a liberdade de se compor em "anônimas redes", numa intertextualidade (e não podemos nos esquecer de Kristeva e Barthes, entre outros) que sustenta o discurso como espaço aberto. Toda a obra de Borges é metáfora dessa percepção (embora Borges tenha criticado a excessiva metaforização da contemporaneidade, contemplando-a como mera mudança de máscara ou figura do mesmo).
Robert Young (1981:208)conclama Paul de Man para reforçar seu ponto de vista, para quem a teoria da influência, de Bloom, é "um passo atrás": "De uma relação entre palavras e coisas ou palavras e palavras, regressamos a uma relação entre sujeitos. Por conseguinte, a linguagem agonística da ansiedade, do poder, da rivalidade e da má fé". A leitura mitopsicológica de Bloom é criticada por passar por cima de uma realidade mais fundamental da literatura: a da linguagem. Como lembrou De Man (apud Robert Young, 1981:208-9), "somos governados pelos modelos lingüísticos ao invés dos naturais ou psicológicos". Esse é o cerne da teoria antitética de Bloom, negar à linguagem seu papel; embora a "angústia da influência" esteja calcada na questão edipiana apontada por Freud, as reflexões de Freud sobre o discurso de representação, as mais instigantes possíveis, são por ele esquecidas.
Ann Worsworth (1981:20), em seu ensaio "An art that will not abandon the self to language: Bloom, Tennyson and the Blind World of the Wish" , constata que, na sua luta contra a influência do que chama de niilismo lingüístico da desconstrução de Derrida e contra a crítica ortodoxa, Bloom traçou um método de interpretação (des-interpretação, desleitura) fundado nos efeitos retóricos da cabala. (E sua visão da cabala é também muito diferente da de Borges!) É na sua visão da cabala como "textos de interpretação de um texto central que perpetuamente possui autoridade, prioridade e força” (1981:211) que Bloom vai entronizar o Poeta como uma possibilidade de força, embora solipsista e autóctone, no campo da representação. Autoridade, prioridade e força são as qualidades chaves do Poeta autóctone, contra a teoria do processo impessoal do poeta-receptáculo, de Eliot e Borges.
Para Derrida, não há nenhuma subjetividade constituída no discurso poético. Se Bloom (1981:210) clama por uma psicopoética como "uma arte que não abandonará o self para a linguagem", como observa Worsworth, lamentando-se contra a o conceito de "desconstrução", de Derrida, pois que a "influência permanece centrada no sujeito, numa relação de pessoa para pessoa, para não ser reduzida à problemática da linguagem", como afirma (1991:210), é por desejar ignorar a realidade lingüística, circular em torno de cânones e fundar um discurso irado.
Se há um fascínio na reflexão de Bloom, este é pelo retrocesso, é preciso concordar com De Man. O conhecimento literário não é modelar, é anunciador, mais antigo do que o das ciências, como supôs Freud. E mais antigo ainda do que a Filosofia. Não é produto de uma mente particular, mas de várias, numa coincidência que acaba convergindo num determinado texto, produto do discurso de uma mente "receptáculo", cuja paixão é registrar esse conhecimento ao pô-lo em circulação. Do contrário, não teriam descoberto tão recentemente os físicos que em Eureka Poe já havia feito convergir as melhores hipóteses explicativas para o negror da noite. Tenhamos em mente que Édipo já estava na literatura muito antes de Freud transformá-lo em uma interpretação verossímil do desejo humano.
Como poderia qualquer sujeito de conhecimento (de linguagem) antever um futuro sem que esse se cumprisse no papel significativo dos signos? Wordsworth (1981:210) cita De Man, quando este afirma que "agora a possibilidade surge de que toda a construção de tendências, substituições, repressões e representações seja o correlativo aberrante e metafórico da absoluta aleatoriedade da linguagem, anterior a qualquer figuração ou sentido". Só assim se pode deduzir porque o chamado "desconstrutivismo", nos Estados Unidos, vai muito além da proposta conceitual de "desconstrução", de Derrida, desviando-a e rotulando-o como niilista! É a mesma questão suscitada por Borges, no poema. Afinal, o que é de Homero e o que é da linguagem? Qual a extensão do débito? Seria o discurso apenas uma questão de teoria?
A questão da influência, tal como proposta por Bloom, como relação de significação no espaço da voz dos poetas precursores que sobrevivem no poema do Poeta forte, além da pontuação psicológica, aponta exatamente para a realidade histórica da própria linguagem. A linguagem não é um espaço indiferenciado, e a relação entre significados sequer chega a ser antitética, pois, como diz Derrida (1981:223), "todo signo se refere a um signo". É a idéia que tem Eliot, ao pensar na sobrevivência do discurso "impessoal", científico, que parece ser o resultado de uma fé teórica: a aceitação do processo de significação da língua que, por si mesma já é conformadora de significados, portanto influenciadora. Se há um cânone, este não se conforma com uma arbitrariedade imposta por qualificação pessoalizada, mas como sobrevivência nas mentes de um interpretante confluidor de significados, como podemos perceber na prática crítica de Bloom, irreconhecível nas suas proposições teóricas.
Arthur Nestrovski (1991:217) lembra que "já com Longinus, em pleno século I, a força do texto é descrita como a capacidade de produzir no leitor a impressão de que é, ele mesmo, o autor daquilo que leu. No momento 'sublime', as fronteiras se dissolvem, e o leitor é tomado pela idéia, como se idéia e texto lhe pertencessem. É esta imagem de Longinus que Borges apropria e traduz para o nível da relação entre os sucessivos textos da literatura". A ressalva é que em Borges a idéia e o texto não pertencem a um leitor em particular, já aceitando-se o fato de também o poeta ser, antes de tudo, um leitor. A idéia está encarnada no texto; a linguagem, signo social (código), não permite a categoria individualizadora de leitor, nem de autoria individualizada, pois que serviriam como impostores do sentido.
Borges, como vimos, acredita que a leitura transforma o leitor em autor; sendo essa a força do texto, que está na sua energia lingüística, na capacidade de determinar interpretantes, no fato de que tanto o leitor quanto o escritor são símbolos inseridos na história universal, realidades por ela criadas, já que o sujeito institui-se no discurso (como é necessário lembrar sempre).
Leitura, para Borges, é "invenção", apropriação automática do campo semântico representado, o único em que o leitor como tal pode reconhecer. Nestrovski desviou-se um pouco do pensamento de Borges ao afirmar que "se para Longinus a força do texto é produzir a ilusão de força no leitor, então existe, de fato, uma prioridade do autor sobre seus leitores, uma prioridade invisível, ou tornada invisível pela mesma força que concede força ao outro" (1991:217-8). A idéia de "força" relacionada ao jogo de significação privilegia por direito e de fato uma antecedência, criando, em seguida, uma hierarquia, o que não parece corresponder em nenhum momento ao pensamento teórico (nem à prática) de Borges. A prioridade, para ele, é desfeita pela ação da interpretação; assim como é a força da linguagem que constitui o sujeito (essa categoria poética) do discurso e da leitura e não o contrário. Os textos teóricos de Borges, bem como sua prática poética, que, aliás, se correspondem indiferenciadamente, não nos permitem afirmar , como o faz Nestrowski (1991:12) no prefácio ao livro de Bloom, A angústia da influência, que ele tenha pensado na questão dos precursores como uma questão de prioridade.
A força que conduz o poema, une autor e leitor a um jogo de significados determinados e determinantes de um sentido passado que se dá no presente e projeta um futuro. É essa força a condição de linguagem da literatura. A determinação do interpretante como impulso do signo para a aprendizagem — sempre gerador de futuro — torna escritor e leitor signos de um signo maior. Cada vez que temos a postulação de um sentido modelar e "universal" temos o centramento na idéia de um sentido autoritário, dominado pelo autor e comunicado pelo texto. O disfarce da origem e sua busca serve para recalcar a qualidade polissêmica do texto, qualidade máxima da literatura, produzida pela experiência do signo em conjunção com a realidade, da representação com a vida. Qualidade psíquica, portanto, e constituidora de uma verdade teleológica já que toda interpretação é incompleta. Essa é uma realidade lingüística que não pode causar angústia, sob pena de perverter a natureza da linguagem poética, impondo-lhe um significado transcendental centralizador, venha ele de um modelo ideológico cristão (a noção de "criação") ou de um modelo cabalístico-judaico (a noção de escritura).
Essa questão é bem resolvida por Derrida (1977:85), quando enuncia que "o signo é aquilo que, não tendo em si verdade, condiciona o movimento e o conceito da verdade", descondicionando, portanto, o centro e a verdade, a metáfora da hierarquia paterna: do poder da palavra centrado no autor; da origem, uma (im)possibilidade. É o texto que engendra seu pai. O que existe é, como afirma Derrida (1971:55), "uma geração lenta do poeta pelo poema do qual é o pai". É esta a possibilidade da significação poética. Uma possibilidade que se traduz numa "busca da verdade cujo fim último é o admirável da Estética, que sempre transcende os limites particulares de uma dada historicidade", como afirma Santaella (1992:155). Uma possibilidade que, por sua vez, conforma o próprio "ideal estético, ou seja, o crescimento da razoabilidade concreta ou contínua e infinda corporificação da potencialidade do pensamento" (1992:134).
3.A lógica da escrita
(experiência e informação)
"Escrever é retirar-se.
Não para a sua tenda para escrever,
mas da sua própria escritura."
J.Derrida
(A escritura e a diferença)
Com Ulisses, James Joyce arrebanhou para o discurso literário, definitivamente, o direito à reflexão — direito relevado pela comprovação de que todas as convenções do saber são determinadas pela convenção lingüística e de que a própria razão é respaldada por uma porção inconsciente do aparelho de percepção psíquica. A modernidade já havia garantido para a obra poética o direito a uma verdade, congregando todas as obras que, em períodos anteriores, já haviam se antecipado na sua aceitação, sem conceder de sua estrutura de representação, isto é, de ilusão.
Numa obra que suspende a univocidade significativa, Joyce atualiza, tanto pela abundância informativa quanto pela qualidade da experiência esteticamente representada, o direito crítico antes sonegado ao discurso poético. E, com isso, os autores que o antecederam com a mesma proposta, precursores redescobertos, como Gertrude Stein, puderam, de modo indireto, ganhar o reconhecimento de sua pesquisa poética.
Embora o logos poético tenha a mesma força ontológica do logos filosófico, pesam sobre o primeiro os reflexos da chamada "licença poética", como vimos, que acabou desobrigando-o, historicamente, da imposição aristotélica do sentido, ao mesmo tempo que o alijou da comunidade do saber. Foi Freud quem percebeu a ironia dessa "licença poética", que acabou forjando um aspecto de falsidade para a literatura: "Sem dúvida", observou, "os poetas falam as vezes de coisas parecidas, mas todos sabemos que os poetas são irresponsáveis" (Kofman, 1973, 1985, 1996). Isto é, foram categorizados como tal por uma certa "ordem do discurso" (Foucault, 1996) vigente.
Com Ulisses, Joyce confirmou a indistinção representativa da descrição literária e comprovou que a literatura é uma dilatação da memória coletiva, como vimos ser a pretensão de Eliot e Borges. Na asserção de Peirce, (C.P. 3.363) “o mundo real não pode ser distinguido do mundo da imaginação por qualquer descrição", sendo o pensamento um signo. A memória histórica da língua e das linguagens, no entanto, correlata à memória coletiva ("um sistema de discursos interrelacionados", na definição de Johansen (1985/1991), estrutura o discurso histórico, filosófico e científico que vão configurar, juntamente com outros saberes, o conhecimento poético. Desse modo, a literatura pode conformar-se como uma poética do conhecimento, um discurso de valor paralelo aos demais. Ao da religião (não são os textos sagrados altamente poéticos?), da história (não é um discurso carregado de figuras de linguagem e, aliás, na atualidade estudado estilisticamente, como o fez Haydenwhite, 1992) e da filosofia (um gênero poético, como vimos). Evidentemente, um discurso que, tem a característica transmutacional de ser "um tipo de discurso que pode imitar qualquer outro tipo de discurso", como afirma Johansen (1985/1991). Um discurso que contemporiza com o científico, registrando suas descobertas, apontando-lhe caminhos ou até mesmo provocando uma competição entre os saberes.
A ruptura básica operada por Joyce está no fato de assegurar à literatura esse direito mimético, ao mesmo tempo que lhe assegura a manutenção de um valor ontológico semelhante ao valor com que os demais discursos referem-se aos seus objetos, por ter como ideologia a aceitação dos princípios fundantes da linguagem. Essa possibilidade de equivalência entre os discursos, como modo de conhecimento, aprendemos com alguns autores deste século. Com Gertrude Stein, na sua infinita paciência, construindo poeticamente o que William James havia demonstrado teoricamente (através da filosofia e da psicologia), principalmente sem medo de registrar a liberação do campo do "stream of counsciousness" anunciado pelo mestre, e abrindo caminho com uma formidável coragem para os demais. Com Joyce, que transformou em narrativa o fluxo desse registro, arrebanhando para seu texto toda a aprendizagem rememorável, e tornando-o, embora sinteticamente, um modo enciclopédico do talento literário para a citação (da Bíblia a Shakespeare e Helena Blavatski) , uma projeção da atual idéia de hipertexto. Uma das tarefas literárias de Joyce, como a de Homero, foi a de preservar os textos conservados no reservatório da memória coletiva, acrescentando-lhes novos sentidos pela justaposição de novas informações ou pela negação de seu valor de afirmação.
A equivalência entre o valor de conhecimento dos discursos está no fato de a representação ser teleológica, uma realidade na qual o sujeito do discurso vai se fundar e que vai fundar um conhecimento pela atribuição de uma significação. Porque a responsabilidade de um texto, seja literário ou científico, está na equivalência entre o representamen, o objeto, e o interpretante, está na possibilidade da interpretação. E aqui se insere uma questão de grande importância, a do valor ético do discurso, pois toda representação simula uma aprendizagem. O texto prediz um futuro, por se fazer no tempo da leitura, da interpretação. E, nesse particular, o texto literário avança talvez com menos velocidade, mas sem dúvida alguma com mais intensidade no tempo (tanto num movimento de progressão quanto de regressão), justamente por libertar-se do acordo necessário com os modelos de veracidade conformes ao valores morais, que, por exemplo, induzem o discurso científico a responder de modo mais limitado. O cientista nunca teve a liberdade de Júlio Verne ou de Edgar Allan Poe para responder, seja com o auxílio da ilusão ou da razão, aos seus anseios cognitivos.
O texto de Joyce, Ulisses, por suas características de anotação seletiva da memória coletiva, é uma recolha que, por isso mesmo, não pode ter um foco narrativo convencional. Richard Elmann (1989:546) faz uma interessante observação no seu ensaio sobre Joyce: "Como o material do Ulisses fosse toda vida humana, cada homem que ele [Joyce] encontrava era uma autoridade, e Joyce carregava dúzias de pedacinhos de papel em sua carteira", na tentativa de registrar as informações que ia experienciando. Em nada diferente da atitude de Gertrude Stein que, já em 1906, deu início à sua versão da história e tipologia do povo americano, em The making of americans, em que pôs-se a registrar, desfazendo-se do exercício indicial da linguagem, todos os tipos humanos existentes, numa retratação diagramática de suas naturezas internas, ou essenciais, como denominava. Em nada diferente, também, da postura do discurso de Clarice Lispector, que pretendia registrar todos os momentos de sua aprendizagem, anotando em inúmeros pedaços de papel a sua vivência.
Ulisses é uma narração de identidade plural, cuja abrangência, como gênero literário, compete com ou se delimita à do próprio mito. O herói coletivo de Homero (ele também um representante de uma literatura coletiva, segundo Havelock (1973)) representa a aventura humana coletiva, ou seja, a experiência anônima. "O acúmulo de identidade é intencional. Para Joyce, nenhum indivíduo é tão inusitado e nenhuma situação tão distinta que não seja eco de outros indivíduos e situações", como afirma Elmann (1989:679). E nisso concorda com a iniciativa de Gertrude Stein, no seu desejo de retratar a humanidade através do que convencionou uma "teoria dos tipos", utilizando seus conhecimentos médicos.
O foco narrativo multifacetado, técnica essencialmente moderna, e bastante influenciada pelo conceito de "stream of counsciousness", de William James, arrebanha uma pluricidade significativa que reflete e atualiza a narrativa como mito. "Minha intenção é transpor o mito sub specie temporis nostri", disse Joyce (apud Anderson, 1986:107-9). Fascinado pelo caráter de Ulisses, conservou ele, no romance (na escrita), seu caráter poético; pois que o mito foi um gênero que representou ao máximo a tradição de cultura oral. Homero, na verdade, foi um escriba da memória coletiva, dada a complexidade e as características mnemônicas de seu registro. Se o primeiro Ulisses foi resgate e registro escrito de uma tradição de cultura oral que começava a ser questionada pela dialética nascente, o segundo é o espaço de inscrição, na literatura ocidental, da resolução do discurso literário como categoria cognitiva. Uma categoria com a especificidade da ruptura, no desenvolvimento da metafísica ocidental, já que evolui de um pensamento marginalizado, o dos sofistas, até a atualidade da psicanálise, que vai infligir na história humana sua terceira ferida narcísica: o inconsciente.
O discurso literário sempre relevou uma razão inconsciente e sua lógica, além de absorver e registrar a razão lógica de todo discurso de representação. O caráter de Ulisses estende-se, pois, reflexivamente, sobre a realidade literária já criada. O resgate da memória coletiva libera uma antiga força ativa significante. Joyce, de maneira sensível e inteligente, selecionou como objeto de representação inserido no ritual do conhecimento tanto elementos científicos, filosóficos e literários quanto teogônicos e teosóficos, e transformou sua narrativa numa consciência da memória coletiva. Como diz Johansen (1985/1991), toda literatura ligada à memória coletiva "inclui as outras formas de discurso tornando-as parte de um padrão imaginativo e narrativo total"). Pois não particulariza, criando verdades gerais, ao contrário da história, como antevira Aristóteles (Poética, VIII,3-4).
A rede de significação atualizada por Joyce articula a experiência poética coletiva que o autor fragmenta e confunde com suas próprias impressões do mundo. Joyce é aqui tomado como referência básica porque sua obra — resultado também de pesquisas e produções de outros autores, anteriores a ele e sua obra — foi a que conseguiu canonizar-se reconhecidamente no sistema crítico, operando o reordenamento de todo o sistema literário anterior, que a obra nova, ao aparecer, realiza, na acepção de Eliot. O que não aconteceu com outros autores. A obra de Gertrude Stein, por ter ela abandonado as condições ainda necessárias para a aceitação do discurso poético, não serviu como meio eficaz de revisão dos valores sistemáticos da teoria da literatura; sua qualidade foi a de ter dado início a todo processo mais radical de renovação vanguardista da literatura deste século.
Para Joyce a obra realiza-se, como constantemente vem nos assegurando Derrida, pelo acréscimo de leituras, seus infindáveis suplementos (sendo ela mesma o resultado de uma leitura). Como fato de linguagem, a obra precisa desse excesso, de elementos substitutivos que lhe tracem a diferença e suplantem suas faltas. A leitura, como disse Borges no conto-ensaio "Pierre Menard, autor do Quixote", metaforicamente, é uma arte conjugada à "teoria do anacronismo deliberado", das "atribuições errôneas" e da invenção. Uma necessária revisão dos erros, espaço onde a memória se corrige, porque o signo tem a tendência de dirigir-se ao futuro, em busca constante da verdade.
Vemos em Ulisses a realização de uma narrativa poética que rejeita um sentido conclusivo, lançando para o futuro seu projeto de objetivação da verdade significativa. A leitura, como suplemento, segundo Derrida (1976), cria uma lógica de compreensão que desfaz qualquer ilusão de sentido único. E o arcabouço textual de Joyce mantém-se como tal, um suplemento que, internamente, tem a característica de uma "composição" (um texto descentrado, cujos elementos formadores têm um mesmo valor interno, segundo a conhecida concepção de Gertrude Stein).Foi assim que Joyce pode substituiu a pobreza de sua imaginação individual pela riqueza da informação coletiva na representação poética; sua escrita é uma inscrição à margem desse saber já arrebanhado por outros livros, juntamente com sua observação pessoal, que o reorganiza. O signo flutuante do suplemento, na noção de leitura de Derrida (1976), desvincula-se "do fechamento da metafísica da presença" — a ilusão de verdade presente e centralizada no signo — e dá ao discurso o estatuto verdadeiro de re-presentação. Como "signo flutuante", a escrita, tanto quanto a leitura, como suplemento — na ausência de centro e origem — ocupa temporariamente um lugar na estrutura da obra para constatar seus possíveis significados e deixar-se transpassar por eles. Ulisses é, nesse sentido, um ser de linguagem encarnado num livro-objeto de significação inesgotável. A obra de Joyce abre-se em redes de fios suplementares, tal como um hipertexto, prevendo múltiplos da significação representada: suplementos do suplemento da escrita, capacitando o texto a ser imorredouro, porque sempre inconcluso. Um texto que exige interpretações.
Na lembrança do conceito freudiano de Vorstellung (Laplanche e Pontalis (1970)) como "reprodução de uma percepção anterior", percebemos que toda lógica da representação distancia-se da efetiva presença do afeto. A realidade é um a posteriori de resíduos do objeto representado, que fica inscrita nos traços mnésicos e pronta a liberar-se em associações enérgicas. Pensando semioticamente, teríamos a correspondência no conceito de semiose, de Peirce. O significado deixa-se prender no tecido narrativo para ser liberado em seguida pelo movimento incessante da leitura, numa circularidade valorativa. O objeto-texto não se esgota em nenhuma interpretação. Sua permanência deve-se à incompletude.
Joyce resgata numa mesma narrativa tanto o saber constituído quanto o senso comum (doxa) para melhor dissimulá-los e descontruir a tentativa de um centramento de sentido e de sujeito narrador (o narrador opera como sujeito do discurso, e não do sentido), criando diferentes pontos de vista e podendo utilizar vários estilos. Ulisses é a descrença numa arquia absoluta, é uma coleção de empréstimos de velhos conceitos do arcabouço filosófico e literário para a configuração de novas revelações (conceituais e epifânicas).
Derrida (in riverrun, 1992:21)observou que Joyce "está sem dúvida sendo fabricado — a instituição mundial de estudos joyceanos, a James Joyce Inc. se consagra a isso, se não o é, ela mesmo [sic]". Há um elemento extremamente positivo nessa "fabricação": o fato dela ser possível. A fabricação de uma tessitura como a de Ulisses indica um objeto de significação denso, que realiza a própria consciência da possibilidade interpretativa. A obra de Joyce tem gerado inesgotáveis e significativos interpretantes até a atualidade, forjando uma "quase-mente" que faz fluir de si e confluir para si um constante jogo significativo. É uma referência básica da literatura contemporânea, talvez até o exemplo máximo a que chegou a realização poética escrita, sintetizando seus propósitos e qualidades, assim como o foi a obra de Homero para a época da transição definitiva da oralidade para a escrita.
A obra de Joyce só pode ser lida por acréscimos, num transporte metonímico das metáforas que a percorrem como modo de conhecimento. Cheryl Herr (in riverrun, 1992:200) diz que "o texto [de Joyce] engajou-se à energia da cultura ocidental, ao absorver em seus paradigmas organizacionais e conceituais qualquer matéria bruta que se lhe expusesse". Como elemento catalisador, a malha de significação joyceana, em Ulisses, supõe múltiplas leituras. Embora seja inconveniente aceitar a fantasia "enciclopédica" que a desmedida obsessão de Joyce pareceu desejar realizar, é necessário reconhecer que Ulisses, como fato de linguagem, é um "gesto reflexivo", como afirma Herr, que se estende "de modo a incluir tudo o que a tradição da ficção ocidental já criou sobre a vida" (in riverrun, 1992:186). Ulisses organiza-se como respaldo e registro da memória coletiva.
Talvez possamos observar, na literatura, que a imaginação não é a representação das associações de um indivíduo, mas do indivíduo dentro de uma coletividade, unido a ela pela língua. A imaginação não é criadora nem fundadora, para Freud, pois depende do repertório consagrado pelo traço mnésico, como vemos em Kofman (1973:181), depende de um repertório comunal. "A imaginação "criadora" é incapaz de inventar coisa alguma e se contenta em reunir elementos que estão separados uns dos outros", diz Kofman (1973:181 ). Ao reunir os elementos representativos, conforma-se à definição de "função poética", de Roman Jakobson (1973): sobre o eixo sintagmático projeta-se o paradigmático, a capacidade de seleção do repertório comum.
O discurso de Joyce, pela quantidade de citações e de vozes, indica o quanto o autor evitou aceitar a função de "criador". É sempre um discurso de trans-formação, de obra em progresso. Joyce parecia, na verdade, assumir a crítica que faz Freud ao conceito de criação, querer "destruir o último refúgio da ilusão teológica" da arte como criação, "renunciar a ser ele mesmo o pai das suas obras, a ser um criador", na afirmação de Kofman (1973). Por isso, sua narrativa incide na seleção da polifonia das vozes, no esgarçamento do tecido narrativo e na dissimulação constante do narrador. Ao romper com o conceito clássico de criação, deixou clara a sua intenção de inserir a literatura no campo do saber e na lógica do inconsciente. Com isso, transformou-se no sacerdote que reuniu técnicas e estilos de discursivos; aceitou o "dom" da predestinação literária, evitando o reconhecimento de um doador, e sempre que se referiu a alguma instância originária foi num conflito de vozes, representando um pai já dado historicamente, que tem sua palavra usurpada por um filho que deseja tomar seu lugar indiretamente e, talvez, ser cultuado como herói. Os pais fantasmáticos, na obra de Joyce, são o reconhecimento de que não há pai original, de que se há um enigma na chamada criação artística este é a representação do enigma da própria vida. Tudo já está dado, como nos diz Kofman (1973:197): "toda a ideologia tradicional da arte estava destinada a ocultar a ausência de fundamento de toda a vida".
A narrativa de Ulisses é uma especulação sobre a questão da representação, uma antecipação daquilo que será especializado na realização de Finnegans Wake; é uma previsão do futuro, uma leitura que se projeta para uma significação aberta. Peirce, citado por Jakobson (in "Peirce's Speculative Grammar"), afirma que "O ser de um símbolo consiste no fato real de que algo certamente será experienciado se forem satisfeitas certas condições. (...) Toda palavra é um símbolo. Toda sentença é um símbolo. Todo livro é um símbolo. O valor de um símbolo é que ele serve para fabricar o pensamento e conduzir o raciocínio, e nos capacitar a predizer o futuro". O "ser" da literatura é essencialmente simbólico e capaz de predizer um conhecimento futuro.
Tendo se nutrido por longo tempo do discurso essencialmente enciclopédico e humanístico dos jesuítas, Joyce não deixou de indiciar, em sua obra, principalmente em Ulisses, os rastros de uma intensa discussão sobre a palavra como símbolo encarnado, "a mixture of theolologicophilological" (in Ulisses, 1990:172). Com a excessiva preocupação referencial e o constante mapeamento contextual dos elementos narrativos, Joyce perseguiu os rastros das grandes questões inauguradas pelo discurso literário. É esse o motivo da constante citação de um trecho do episódio de Proteu : "Signatures of all things I am here to read, seaspawn and seawrack, the nearing tide, that rusty boot".
Joyce fez-se de sacerdote do imaginário coletivo e de Stephen Dedalus, sua heróica projeção a recitar os rituais e as contestações aos conceitos artísticos. Afinal, o que há num nome ("Afinal, o que há num nome?"(1990:172)), como pergunta constantemente, lembrando Shakespeare. Chama a atenção, desse modo, para a realização de linguagem — simbólica— que é a literatura. O autor, um aprendiz de sacerdote. "Joyce queria ser um sacerdote da imaginação eterna" (Anderson, 1992:29), oficiando o infindável exercício ritual da lógica poética. "No intenso instante da imaginação, quando a mente, como diz Shelley, é um carvão se apagando, aquilo que eu fui é aquilo que eu sou e aquilo que, como possibilidade, poderei ser. Do mesmo modo no futuro, irmão do passado, posso ver a mim mesmo enquanto permaneço aqui sentado, agora, mas pelo reflexo daquilo que então deverei ser" (Ulisses, 1990:381-85).
Esse caráter aparentemente messiânico já aparecera no Portrait, onde o artista é o "sacerdote da sua imaginação", um ser predestinado, entre profeta e poeta da raça, revisando os jogos da criação acumulados na informação poética. Essa proposta sacerdotal vem embasada pela reminiscência do oráculo délfico, do lema socrático por excelência: "Conhece-te a ti mesmo" (Ulisses, 1990:177]. Oficiando um ritual pessoal com elementos de uma memória coletiva, Joyce suspende a questão da paternidade autoritária do discurso, que discute intensamente no capítulo 9, de Ulisses ("A paternidade pode ser uma ficção legal"). "Quando Rutlandbaconsouthamptonshakespeare ou outro poeta de nome igual na comédia dos erros escreveu Hamlet não era apenas o pai de seu próprio filho, mas não mais sendo filho, ele era e se sentia o pai de toda a sua raça, o pai de seu próprio avô, o pai de seu neto ainda não nascido que, pelo mesmo sinal jamais nasceu..." (Ulisses, (1990:865).
Jakobson relembra (Peirce's Speculative Grammar) essa antiga e sempre renovada preocupação ocidental — uma herança judaico-cristã — com os discursos como forma encarnada de elementos consubstanciais (palavra muito usada por Joyce, principalmente no capítulo 9, de Ulysses). O autor, "consubstancial" ao seu livro, é já uma idéia de Montaigne, que antecedeu, assim, o conceito estruturalista de escritura. A idéia de consubstancialidade à obra, inaugurada pelo ensaísta francês, vai projetar, muito mais perto de nós, com Freud, uma possibilidade de rever as questões da identidade discursiva.
Para Joyce, a gênese poética parece consistir sempre de três elementos formadores, abrangidos pela enteléquia como princípio substancial do ser e do operar teleológico, forma essencial (substancial), em contraposição à matéria. "Mas eu, enteléquia, forma das formas, sou eu pela memória por estar sob formas sempre mutantes" (Ulisses, 1990:208), pensa Stephen Dedalus. Um tratado russo ("A palavra humana e a divina", séculos 16 e 17, publicado por I.V.Jagic) resgatado por Jakobson (no mesmo ensaio) diz: "Imitando o nascimento duplo do Filho de Deus, também nossa palavra tem seu nascimento duplo. Em primeiro lugar, nossa palavra nasce da alma, por meio de algum nascimento incompreensível, e habita desconhecida próxima à alma, e, depois, nasce de novo por meio de um segundo nascimento, carnal, ela emerge dos lábios e revela-se pela voz ao ouvido". Essa Trindade feita de componentes inseparáveis e consubstanciais é a base de uma discussão instigante em Ulysses (capítulo 9), que tem Shakespeare como motivo centralizador. "Ele retorna, cansado da criação que acumulou para se esconder de si mesmo, um velho cão lambendo uma velha ferida. Mas, porque a perda é o seu ganho, ele passa à eternidade numa personalidade não diminuída, não tocado pela sabedoria que escreveu ou pelas leis que revelou. (...) Ele é (...) uma voz ouvida somente no coração daquele que é a substância de sua sombra, o filho consubstancial ao pai" (Ulisses, 1990:474 e 481). A forma essencial, a enteléquia das coisas, é uma lembrança constante, como se Ulisses, a narrativa, fosse um pórtico para a sabedoria.
Ao mesmo tempo em que indicador de uma ruptura dos elementos que marcaram os gêneros anteriores, Ulisses é também uma amostra da irritação do autor moderno, constatação de sua angústia por tudo ter sido dito. "Certamente, o ponto mais maravilhoso, o único ponto sobre o gênio grego, na literatura como em tudo o mais, foi a ausência completa de imitação nas suas produções. Como o fardo do precedente disposto sobre cada artista tem desde então aumentado! (...) Parece não haver mais nenhum lugar para a novidade ou a originalidade — apenas lugar para uma paciente e infinita irrepreensibilidade (Walter Pater, in Marius the Epicurean, VI).
Não podemos esquecer que Ulisses, a mesma personagem heróica de Homero, é o mítico Odisseu, palavra que vem de odyssomai, que quer dizer "estar irritado". Odisseu matou Palamedes, "inventor da disposição das letras na ordem em que estão", por inveja. A passagem iniciática é sugerida nos momentos de indefinição de Stephen Dedalus, em Ulisses: "O que aprendi? Deles? De mim?" (Ulisses, 1990:176 e 1113). A influência dessa angústia torna sua literatura uma preocupação tanto moral quanto estética. Moral porque para Joyce a literatura, além de ser uma realização de conhecimento, é o exercício de um sacerdócio, o da aceitação do mistério da significação, uma laudação freqüente à vida, aquela epifania definida no conto "Sthephen Dedalus" como "uma manifestação espiritual súbita, seja na vulgaridade da fala ou do gesto, seja num memorável momento da mente mesma" (Riquelme (in riverrun, 1992:43-4)).
A voz que transpõe e transpassa a escrita não é modelar, está longe do idealismo. Embora muitas vezes se tenha a impressão de que Joyce acredita na ilusão teológica da arte, no autor como um deus-pai-criador ("como o deus da criação, [o escritor] permanece dentro ou atrás ou além ou acima de sua obra, invisível" ( Scholes e Corcoran, (in riverrun, 1992:85)).
Percebemos que a ilusão da biografia como autoridade teológica da arte é ultrapassada pela idéia da consubstancialidade — idealizar o herói para evitar matar o pai. Joyce não escolheu Édipo como herói, mas Ulisses e Hamlet, na cadeia parental, a quem resta o pai já como fantasma. A biografia é uma fantasia universal, mostra-nos ele. Encarna a busca da origem. Joyce trabalha num palimpsesto, e seu herói não tem discurso próprio. Todo o pensamento de Stephen vai ser sobre o discurso de representação, seu processo iniciático é através da representação.
Como Proust anuncia (apud Kofman, 1973:106): "o único livro verdadeiro, o grande escritor não necessita, no sentido corrente, inventá-lo, pois já existe em cada um de nós, senão traduzi-lo. O dever e a tarefa de um escritor são os de um tradutor". Ou de uma "mente-receptáculo", como apregoou Borges, levando avante a proposta de Eliot.
No capítulo 9 de Ulisses, Joyce vai enunciando uma ruptura com o pai que não esteja consubstanciado ao filho, à uma continuidade significativa. O conhecimento não é a doação de um pai, vem da constância sígnica. A questão da origem e da paternalidade verbal é desviada para a discussão sobre pai e filho gerados consubstancialmente da palavra numa cadeia que vai compreender todo um patriarcado gnoseológico (Ulisses, 1990:837) do verbo encarnado. O resíduo jesuítico adquire definição na idéia do cristianismo evangélico (também em Tomás de Aquino): uma encarnação de Deus no verbo (não logos como discurso & razão), mas o chamamento à filiação divina, a redenção como continuidade em ação verbal. É esse o sentido do valor positivo da obra de Joyce. A enteléquia como princípio substancial encarnado na mudança contínua.
Joyce leu Bergson (A evolução criadora), como revela Elmann (1989), para quem a linguagem separou o ser humano do inconsciente coletivo. Deu-lhe, em troca, uma memória coletiva. Como reflexo, Joyce inventou um novo jogo de relações para a narrativa: nunca se sabe se a qualificação pertence ao sujeito no objeto do período. Os elementos frásicos são reorganizados nos parágrafos, formando blocos significativos que criam a polifonia de vozes e descentram o foco narrativo, aparentemente sem conexão com os significados precedentes e conseqüentes. É a repetição diferenciada de alguns elementos privilegiados (à maneira de Gertrude Stein) que vai ajudar a fazer evoluir a significação do texto. Daí a dificuldade, na leitura, de se ouvir o lugar de procedência das vozes. Joyce afirma, assim, a improcedência de toda origem, de resgate impossível na exposição multidimensional da cultura.
É preciso tanto ler as associações significativas conjuntivas quanto as disjuntivas (como dizia Gertrude Stein, seguindo a orientação de William James) dispostas entre os elementos do parágrafo, senão perdemos o aspecto irônico das constantes rupturas e ambigüidades. A narrativa literária é um partejamento de idéias, um deslocamento da maiêutica socrática. Desse modo, Joyce descontrói a definição nominalista, ao denunciar a impossibilidade de uma verdade única, a imposição de um sentido aristotélico como exigência ética e transcendental, condição para a linguagem humana, a partir de Parmênides (o mesmo não pode ser e não-ser ao mesmo tempo). O herói do autor, Stephen Dedalus nem acredita formalmente nas teorias que enuncia.
Para Joyce, o texto é o espaço de uma consciência: lugar de entrecruzamento de várias vozes (como tecido), porque "tudo já está dado", como disse Sarah Kofman, não restando possibilidade alguma de se criar algo novo. A questão do sentido, em Joyce como em outros escritores da modernidade, liberada das imposições iniciais da metafísica, coincide com a revisão teórica do discurso de representação feito pelas ciências da linguagem.
A literatura de Joyce, Gertrude Stein, Borges, Clarice Lispector está voltada, principalmente, para a semiose infinda que a literatura conforma, segundo a lógica peirceana. Para Peirce, a questão do "sentido" (C.P.176) possui três graus. O mais baixo, o primeiro, é o da palavra: "Uma palavra tem um sentido para nós ao sermos capazes de fazer uso dela ao comunicarmos nosso conhecimento aos demais e ao penetrarmos no conhecimento que esses outros procuram nos comunicar". O segundo grau, o da intenção consciente ou quase-consciente: "O sentido de uma palavra é mais completamente a soma total de todas as predições condicionais pelas quais a pessoa que a usa tem a intenção de se fazer responsável ou negar". No terceiro grau aparece o poder adquirido da representação (simbólica): "Não se pode saber qual o poder que pode ter uma palavra ou frase para mudar a face do mundo; e a soma dessas conseqüências produz o terceiro grau do sentido". Temos aí as três preocupações básicas da representação: a palavra disponível na língua, intercâmbio de valor na comunicação, signo-simbólico; a palavra posta na corrente (semiose) ou fluxo de sua atividade de representação, da qual nasce o papel da autoria; e a palavra geradora de interpretantes na semiose contínua.
Em Ulisses, Joyce parece exercitar as três possibilidades do valor representativo da linguagem literária, a de palavra-símbolo, a de símbolo no fluxo representativo e a de semiose infinda que ela detona. É esse sistema complexo de verdade que se oferece na narrativa de Ulisses, já de fato desvinculada das características teológicas dadas ao discurso literário, de palavras "criadas" pelo gênio de um indivíduo escritor e por ele instrumentalizadas. Os limites do desejo do sujeito-autor são desenhados no pano de fundo da linguagem.
A reflexão de Walter Benjamin (1985) ("O narrador, considerações sobre a obra de Nikolai Leskov") ajuda-nos a perceber como Joyce conseguiu aproximar duas intenções de comunicação díspares entre si, a da narração e a da informação, num estilo polifônico que aponta para o livro como limite temporal da experiência do sentido, ao mesmo tempo em que se dilata, tanto em direção ao passado, incorporando-o, quanto em direção ao futuro, indicando possíveis leituras e permitindo o contínuo recontar da experiência.
Nesse sentido, Joyce ainda consegue revificar a narrativa, com texto de registro e aprendizagem da realidade, morta com o advento do romance escrito. Ulisses confunde informação e narrativa, sem perder a característica poética da linguagem. Ao mesmo tempo que conserva o extraordinário sabor da narrativa, a força que impulsiona o leitor para vencer os fatos, Joyce oferece ao leitor um conjunto de informações que o mantém contido na própria página escrita, já que a informação fecha-se em torno de si mesma. Essa postura vanguardista, foi iniciada por Gertrude Stein, mas fracassada pela radicalização da proposta de sua produção, por retirar toda indexicalidade do discurso. Joyce conseguiu realizá-la com mestria. E muitos autores se beneficiaram com essa característica, como Clarice Lispector, em Água Viva, Paulo Leminski, em Catatau.
Joyce cultivou a memória, a "mais épica de todas as faculdades", segundo W. Benjamin (1985), redobrando os cuidados com a indexicalidade do discurso, ao enunciar listas de nomes próprios, de Shakespeare a Helena Blavatski, autores de discursos diferenciados, que representam já uma preocupação com a sobrevivência da cultura escrita. E abusou da referencialidade para contextualizar sua narrativa e fundir os princípios da poética na ilusão da construção de um novo conhecimento. Ao dispor esses enunciados numa composição nova, permitiu que se fizesse a revisão do princípio de criatividade.
Ulisses talvez seja a obra mais bem realizada sob o ponto de vista da "função poética" da linguagem, tal como apregoada por Jakobson (1974). Ao mesmo tempo, torna o romance muito mais do que uma simples "memória perpetuadora", como era a intenção da narrativa em sua origem, segundo Benjamin (1985). Seu romance não é mera rememoração, cria, na conjugação dos elementos conhecidos, um tecido novo, que faz avançar a cadeia de interpretantes possível no exercício da leitura literária. Ao mesmo tempo, ele devolveu ao romance a qualidade de memória da narrativa tradicional, buscando reconciliar vida e arte.
Ao contrário de Lukács (in “O narrador” apud Benjamin, 1985:85), para quem o romance "separa o sentido e a vida" , o essencial e o temporal, Joyce faz do romance o registro daquilo que ilumina os objetos dando-lhes uma profundidade quase mística, coordenando esses elementos na narrativa. Sua narrativa exige a associação da experiência vital com a fruição poética.
Com Ulisses, Joyce propõe o retorno modificado da narrativa tradicional, cuja sabedoria consistia em aconselhar através de experiências comunicáveis (contrariamente às experiências da estética de vanguarda), muito embora o discurso das vanguardas tenha uma existência de ruptura e de desvio. Outra realidade da narrativa, a de aconselhar, longe da inocência romântica dos buildungsromans, ressurge em Ulisses. Embora aconselhar tenha ficado fora de moda, nos termos de Benjamin (1985), "aconselhar é menos responder a uma pergunta que fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história que está sendo narrada". A história contínua do herói de Joyce, que procede de tempos míticos, serve-se do registro de Homero e avança, conformando o conhecimento anônimo num ser de linguagem figurada.
A sabedoria proposta pela narrativa de Joyce consiste em fazer reviver os mitos antigos em heróis da atualidade e dar espaço para os conceitos tradicionais da comunicação, através da contínua informação que aparece na indexicalização da narrativa, em referências e citações. Joyce assume o papel do narrador enquanto informador, em Ulisses, e cria uma nova lógica da poética escrita. Junto à proposta de uma linguagem poética, geradora de vida, porque instigadora de significação, Joyce coordena a linguagem da informação, que impede e bloqueia a interpretação. A lógica proposta por Joyce não precisa ressentir-se da "tardividade", pois pode assumir o manejo dos dados culturais próximos à experiência, num discurso que não se desfaz da técnica da representação, elevando ao máximo as qualidades da escrita no discurso literário, como tecnologia com características próprias, mas que bem pode inserir-se, pelas características do tempo cíclico e da simulação da aprendizagem, às qualidades tanto do modelo mítico quanto do hipertexto. Joyce consegue criar um espaço de coordenação entre o passado da narrativa e sua sobrevivência num futuro próximo.
A narrativa de Joyce anunciou o hipertexto. Se o romance perdeu sua força de representação e sua espontaneidade factual, agora nos aponta caminhos de uma reflexão sobre as possibilidades contemporâneas do pensamento, da ação e da contemplação. O romance continuará registrando a ocorrência da vida nas vias mais diferentes, constantemente como testemunha das grandes e pequenas façanhas humanas.
CONCLUSÃO
A ciência literária
(sentimento, conduta, pensamento)
O movimento básico da literatura é semelhante ao da ciência: tudo está dado para ser reconhecido. A insatisfação constante com o real, ou melhor, o embate com a representação do real, a desconfiança com a referencialidade faz com que essa entidade, o escritor (para Derrida, um sistema; para Eliot, mente-receptáculo), seja o signo de uma contínua indagação do real. O corpus literário é já um monumento, signo universal da cultura mental na forma de um espaço em que podemos compartilhar todos os sentimentos ali representados, ir buscar modelos de conduta e pensar a existência em seus propósitos. Por lá vagam múltiplos de Odisseus, Virgílio, Hamlet, D.Quixote, Werther, Capitu, Madame Bovary, Severino, Diadorim, entre tantos e tantos outros, comprovando a relação apaixonada que têm os escritores com a realidade e a verdade. Se aceitassem essas representações já teriam se dado por satisfeitos com essas existências simbólicas, com suas revelações, e nelas se comprazeriam.
Mas o escritor é um ser insatisfeito com a aparente essência do mundo e busca infindavelmente, na constância desse exercício representativo, a realidade e a verdade. Como afirma Weinsheimer (1983:231), é essa insatisfação que recomenda a existência de um real e aconselha o cuidado com o referencial. Isso significa que a literatura está comprometida com o verdadeiro e o real. O incansável e dedicado exercício do escritor é a comprovação de sua ligação apaixonada com o conhecimento, a face clara de sua necessidade de criar um novo sentimento com relação ao mundo, que possa gerar uma nova conduta e causar um novo pensamento. A atividade do escritor é reflexiva, na base de sua obra está o amor pela matéria em busca de relação com o objeto de conhecimento. Sua obra é uma especulação tanto do saber copilado quanto do saber que busca encarnar-se no signo criativo. Se amor, trabalho e conhecimento não fossem o motor propulsor do escritor, não entenderíamos as biografias dos poetas — esses sujeitos que dedicam vinte, trinta ou quarenta anos na realização de um texto que expressa sua crença, torna-se um hábito de realização e se transforma em seu símbolo de vida. E o que dizer dos que dedicaram a vida e só foram reconhecidos depois da morte? A história da literatura está repleta desses exemplos, que são a prova maior de que a Literatura é o reconhecimento da expressão e comunicação da possibilidade da verdade e da realidade. E a literatura, na atualidade, não tem uma forma fixa de aparecer, são muito tênues os limites diferenciais entre o texto criativo e o da crítica. Os contos de Borges são também ensaios, encaixam-se tanto na categoria da criação quanto da reflexão crítica.
O pensamento de propósito estético, no entanto, ao visar a criação de um sentimento, não deixa de passar pelos estágios da investigação científica. O insight criativo, primeiro estágio, é já um tipo de quase-raciocínio, segundo Peirce, e pertence à lógica da descoberta: é a abdução. "A abdução", afirma Santaella, "refere-se ao processo de quase-raciocínio a partir do qual é gerada uma hipótese plausível a respeito de um fato surpreendente." E continua: "É um tipo de argumento originário que se refere ao ato criativo de invenção de uma hipótese explicativa para um fenômeno ainda sem explicação" (1994:165). É, portanto, a inferência lógica de uma razão ainda não explicada, mas iniciadora de quase todo processo de descoberta científica. É a possibilidade de eleição de uma hipótese, que se encarnará no signo estético. E não podemos esquecer que, para Peirce, não existe a possibilidade de introspecção, pois "todo conhecimento do mundo interno deriva-se, por raciocínio hipotético, de nosso conhecimento dos fatos externos" (CP 5.265). O segundo estágio, o da dedução, refere-se às conseqüências dessa hipótese na manutenção da referencialidade do signo, sua relação com a possibilidade de aplicação. O terceiro, a indução, está no teste da hipótese, momento em que todo poeta, como leitor de seu texto, averigua a especificidade do efeito interpretativo. Só então o poema estará composto. O poema que se inicia com esse "estágio cognitivo", como Santaella chama a abdução, que é, na verdade, o elo mais íntimo entre a ciência e a arte.
Amor, trabalho e conhecimento movem o escritor. E o que move a Literatura? A verdade move a literatura; a verdade move a boa literatura. Mas que verdade é esta que não se confunde com o dogmatismo nem sequer rejeita o registro da casualidade como possibilidade de conhecimento? Um olhar cuidadoso para a história da literatura comprova como esse discurso tem vingado com coragem, sobrepujando-se às muitas barreiras que lhe foram impostas. O que hoje chamamos de Literatura continua, desde a primeira história contada no mundo (e diz-nos Fisch (1986:222) que a palavra "história" era o nome que os gregos davam à ciência enquanto indagação), num esforço contínuo para dar a reconhecer um sistema de conhecimento através da criação de fatos atualizados dessa possibilidade. E são milhares de anos-história compondo uma História indagadora que teve de confrontar-se com imposições desviadoras para não se calar.
A Literatura já conseguiu liberar-se da imposição da escuta de uma voz originária como doadora de sentido, aceitando um coro de vozes em rebeldia contra o sentido unívoco exigido pela filosofia, registrando o a posteriori de suas representações. (Filosofia, aqui, no sentido tradicional, porque, para Peirce, a filosofia também é ciência. E ciência é o processo vivo do conhecimento que se dá em conjeturas (cf. CP 1.234).) A Literatura foi sempre a condição de ruptura com o desejo de homonímia da Filosofia iniciante e nominalista e com a sujeição à hierarquia da primazia dos precursores. Sobreviveu à forte negação cartesiana e intuicionista da linguagem e vem sobrevivendo à marginalização que lhe é imposta pelos demais discursos do saber, rotulada de mera fantasia, produção imaginária, sem relação nenhuma com a realidade e a verdade.
A Literatura é uma semiose combativa e resistente, como vemos, uma ação sígnica sempre disposta a determinar um outro signo que o interprete, a causar um efeito nas mente. Sua luta é discreta, mas profícua, na tentativa de criar novos hábitos de sentimento, de ação e de pensamento. Para tanto, abriu três frentes de combate constante, como nos mostra sua história, dos quais não se arredou, para comprovar-se como cognição:
1. seu discurso se realiza na língua, mas não se confunde com o mero exercício da língua, habilitando-se numa "função poética" (cf.Jakobson, 1973) específica, que caracteriza seu modo de produção de conhecimento;
2. não é um discurso individualizado, particularizado, pois molda e continuamente é moldada por um corpus de conhecimento que compõe a memória coletiva;
3. a literatura é uma psicognose, não resulta da mera sensação nem produz apenas fantasia, ficção, ilusão, mas é responsável por um triplo efeito sobre o mundo, um efeito de conhecimento, sua causa inicial e final, que é criar um sentimento que gere uma conduta e cause um pensamento.
Essa tríade, correspondente à mediação infinita, pois geradora de uma semiose infinda, é o resultado da prontidão literária. Por conseguinte, uma estética literária tem de reconhecer essas três fundações para dar conta do discurso específico da literatura. Porque a literatura, como os demais discursos, é re-conhecimento do real (e, portanto, da verdade, pois que se confundem). É a tentativa de representação desse real. A boa literatura (e aqui não estamos pensando em boa como oposição à má, mas na literatura que se caracteriza por ser movida pela necessidade universal de conhecimento, não sendo particular na sua representação; isto é, a literatura que não se priva do realismo de uma verdade) é um trabalho de realização que pressupõe esses três efeitos em harmonia (sentimento, conduta e pensamento), embora não em igualdade de condições, como veremos.
A boa literatura reconhece o real como sua meta de representação. Sua produção não se limita apenas às invenções da imaginação, às ilusões da mente particular, mas é o produto de um conhecimento do real, volta-se para ele no esforço constante de se mover juntamente com a universalidade de sua representação. Uma literatura do real não é produto do pensamento particular e arbitrário, ilusório, mas daquilo que pode ser pensado publicamente e comunicado para ser compartilhado. Esta é a sua verdade, a realidade do que pode ser comunicado e tornado geral, sempre na consideração da possibilidade do verdadeiro (sendo real e verdade concepções sinônimas).
Mas, então, a literatura erra! Erra quando se ilude na representação de seu objeto, particularizando-o, não o comunicando para a possibilidade de comprovação. Não que o discurso literário tenha de permanecer na constância do realismo tradicional, mas não deve perder de vista a persistência na busca de uma representação do real/verdade. A ciência alardeia seu realismo em busca da verdade e a literatura, no seu lugar de exclusão, só pode permanecer fora da cena.
A literatura não quer tomar o lugar do saber científico, ela toma passo ao seu lado, às vezes se adiante, outras se atrasa, e logo se corrige. E assim age com relação aos demais discursos (filosófico, religioso, econômico, etc.). O necessário é desvelar esse papel, registrado pela História e negado pela Filosofia, da Literatura como um discurso comprometido com a cognição. E a cognição ligada à idéia de ciência, de C. S. Peirce, como um processo contínuo de investigação, inferencial, que representa um objeto (comunica-o), expondo-o à investigação contínua. Pois o conhecimento literário é um processo de tradução sígnica, está ligado à pesquisa do princípio de vida (psique), conformando-se numa ciência muito especial. Uma "ciência do impreciso", como sugeriu Moles (1994).
Para Peirce, as ciências especiais (ou ideoscópicas) "investigam eventos particulares e passíveis de experiências e inferem a verdade que é usualmente apenas plausível, mas não obstante passível de teste" (Kent, apud Santaella, 1992:141). A literatura não têm raízes físicas, mas psíquicas, é uma ciência especial, uma psicognose, é mais um modo de pensamento do que um pensamento determinado pelo objeto, é menos uma ciência das coisas como são e mais uma ciência das coisas governadas pelo intelecto.
De qualquer modo, no conceito peirceano de ciência, que não é um saber sistematizado, "cadavérico", mas em contínuo processo, a literatura conforma uma ciência e um sistema, mas no sentido de Eliot (1975), de uma memória histórica. A literatura persegue o conhecimento e o manifesta, um conhecimento que não é apenas fruto do pensamento, mas que aponta para uma realidade, sendo por ela determinada, em busca da verdade. O real que a literatura busca depende do pensamento, mas não é somente produto do pensamento; na definição de Peirce, o real não é o que quer que dele pensemos, mas "é inalterado pelo que possamos dele pensar" (CP 8.12).
A literatura busca, na generalidade das palavras (a palavra é um símbolo que pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo), numa composição lingüística específica (de função poética), causar o triplo efeito, de sentimento, ação e pensamento. Seu produto é uma proposição mental, sígnica, porque o real é aquilo que ela vem a saber, aquilo a que chega no processo do pensamento. A literatura respeita o elo científico que desencadeia o processo cognitivo, lança uma premissa verdadeira sobre um objeto real e supõe que desse conhecimento resultante advirá um novo conhecimento (cf.Weinsheimer, 1983). A verdade "é o advento do objeto", na acepção de William James (Princípios de Psicologia).
A literatura erra, não apenas factualmente. Mas erra também quanto ao seu propósito, quando se desvia da tentativa de concordância com o real, trocando-a pela representação do que está apenas na mente. A boa literatura busca essa concordância entre o que está na mente e o que está fora dela, com o real e com a verdade, através da generalidade do símbolo verbal. A palavra tem livre passagem para a mente e o real; e a palavra literária, sem preconceitos para com o sistema formalizado e estereotipado da verdade, pode criar uma semiose conjugadora de todas as inferências, todos os saberes da memória coletiva.
A literatura é cognição porque é um sistema em que o conhecimento particular pode ser testado, determinando cognições subseqüentes, já que toda cognição é determinada por uma cognição anterior, assim como determina uma nova a partir de si (Cf. Peirce, CP 5.213). Nesse sentido, é um discurso essencialmente movido pela importância de dar continuidade à interpretação do mundo. A literatura verdadeira não detém essa cadeia em sua continuidade, pelo contrário, ela a impele.
O erro dos escritores, desse modo, é o que os distingue, seu estilo. É o modo como projetam sua linguagem, resultado de um conhecimento particular, sobre a universalidade do conhecimento, para testá-lo. O modo de seu erro é sua característica individual dentro do sistema. E, assim como entre os cientistas, também podem surgir entre os escritores as mesmas disposições e inclinações para com um objeto, causando o aparecimento de obras próximas, isto porque o conhecimento não é particular. "Se uma tal idéia [apaixonante] se revela mais tarde analógica a um susposto estado de coisas real, essa é uma questão que não tem outra explicação senão a de que a descoberta (ou abdução, para usar o termo peirceano) tem pouco a ver com os poderes de uma subjetividade individual e pessoal" (Santaella, 1992:110).
O "erro" do escritor, seu estilo, por conseguinte, aparece no pensamento-signo, tanto na sua materialidade quanto na sua referencialidade. Seu sentimento com relação ao pensamento pode estar equivocado, porque, ao interpretar um signo, pode ter se desviado de sua relação com a interpretabilidade desse signo (já que todo signo significa, exatamente porque significa outro signo), para tentar fazer o signo equivaler apenas ao sentimento material de seu objeto. É a capacidade de não barrar a possibilidade de conhecimento, isto é, a intenção de comunicar um pensamento com sentido (sem relação com o sentido aristotélico) que busque outros signos como resultante da relação de equivalência entre o signo que busca a representação do objeto e o signo que busca a interpretação para si mesmo, que torna a literatura cognitiva. Sem essa equivalência, o conhecimento não chega a ser um geral, permanecendo na representação particularizada do objeto, como na acepção nominalista. Por outro lado, se o impulso for apenas para a interpretação, a cadeia gerará a busca da origem, do signo ou pensamento original, desconhecendo todas as premissas, que, embora não conclusivas, são propósitos inclinados para a busca do conhecimento. Como diz Weinsheimer (1983:243), "não há conhecimento, somente reconhecimento".
Porque nosso conhecimento é sempre o reconhecimento de uma aparência, aquilo que conhecemos, a substância manifestada de algo, é já representação; dado que a cognição é uma relação de três termos, o sujeito que conhece, o modo como aparece aquilo que é conhecido, a mediação (signo, linguagem) e o objeto do conhecimento, o real. Todos advindos da atividade mental, como pressupõe Peirce (CP 5.311): "não há nada que seja em si-mesmo no sentido de não estar em relação com a mente, embora as coisas que estejam em relação com a mente sem dúvida sejam, à parte dessa relação". O questionamento que Peirce faz do nominalismo, que não reconhece o impulso da mediação para a interpretação, acrescenta-se ao do intuicionismo cartesiano, que não reconhece a própria mediação. Mas como o absolutamente incognoscível não existe para nós, tudo é passível de cognoscibilidade.
Como nota Weinsheimer (cf. 1983), é no erro que descobrimos nossa individualidade, porque existe uma senda comum da verdade, que se impõe num processo público e, quando uma interpretação foge à possibilidade de interpretação pública, escapa da comunicação, é gerada a dúvida e descobre-se a particularidade daquela representação, que é de fato ou potencialmente pública. Isto não quer dizer, por exemplo, que Gertrude Stein, que foi mal aceita durante todos os quarenta e poucos anos em que trabalhou para dar veracidade à sua obra, tenha se equivocado com sua experimentação (embora algumas de suas peças sejam realmente um equívoco), pois o número de interpretantes potenciais que sua obra gerou prova que havia uma equivalência entre o seu pensamento particular, individual e a realidade que desejou representar. Os signos que equivaliam ao objeto que desejou representar eram signos equivalentes aos interpretantes que gerou. Por isso podemos reconhecer em sua obra a intencionalidade de seu trabalho. O real por ela representado levou algum tempo para se transformar em signo comunicável a outros pensamentos, comprovando-se publicamente. O steinês é hoje reconhecido e empresta muitas de suas qualidades para as tentativas de representação atuais. Isto quer dizer que Stein e seu pensamento se equivaliam numa relação verídica; se assim não fosse, seu pensamento jamais seria validado. "A palavra ou signo que o homem usa é o próprio homem. (...) Desse modo, minha linguagem é a soma total de mim mesmo, pois o homem é o pensamento", disse Peirce (CP 5.314, apud Weinsheimer, 1983:350).
Também nesse sentido, o escritor é signo do seu pensamento, para si mesmo, na forma pronominal "eu", como é signo de um pensamento comunal. Ele se encaixa em movimentos estéticos específicos, rendido às idéias, porque as idéias se procuram no tempo e no espaço, para se conjugarem. As idéias são potencialidades de uma razão que procura corporificar-se, chegar a uma causação final.
As idéias estéticas, os signos estéticos, são insistentes e quase perversos, não se contentam em ligar-se apenas ao movimento de significação do real, desejam objetivá-lo ao mesmo tempo que interpretá-lo. Querem ser uma qualidade em si, ao mesmo tempo que forcejam o reconhecimento de uma relação com o real que representam. São representações especiais, de propósito estético. "São as qualidades intrínsecas do signo que se colocam em primeiro plano, pois, se assim não fosse, ele não estaria apto a produzir o efeito de suspensão do sentido, ou desautomatização dos processos interpretativos entorpecidos pelo hábito, suspensão esta responsável pela regeneração perceptiva, mudança de hábito de sentimento na qual se consubstancia o efeito característico que faz desse signo o que ele é: estético" (Santaella, 1994: 180).
Na verdade, o movimento da criatividade, da descoberta, da produção de uma nova composição, da geração de uma nova obra é de equilíbrio e harmonização entre a qualidade do acaso (aquilo com que se defronta o autor, que vem ao seu encalço, que se projeta sobre ele em busca de re-conhecimento e que o submete), a relação com o inconsciente (o repertório de sua possibilidade de reconhecimento), e a representação do autocontrole sobre essa possibilidade, o esforço de formalizar a qualidade do acaso inicial.
Mas o pensamento de um escritor busca algo mais completo, busca revisar as crenças humanas, reordenando-as na medida em que as comunica, produzir hábitos que renovem o estoque ativo das comunidades e criar símbolos que se tornem interpretantes incentivadores de outros interpretantes conseqüentes, melhores, mais eficazes e mais belos. Porque os hábitos que o pensamento de um autor (na própria comunidade de seus pensamentos) deseja produzir são criar um sentimento (estético), uma primeira possibilidade de conhecimento que se processe como geradora de conduta (implicada na questão ética) e cause um impulso impelidor para o pensamento da verdade (ciência) . O que o autor quer é participar com sua obra do processo de crescimento da razoabilidade (cf. Weinsheimer, 1971; Merrel,1991; Santaella, 1992).
"Dizer que as pessoas dormem depois de tomar ópio porque ele tem um poder soporífero é dizer algo nesse mundo além de que as pessoas dormem depois de tomar ópio porque elas dormem depois de tomar ópio? (...) Afirmar que existem coisas externas que só podem ser conhecidas apenas enquanto exercem um poder sobre os nossos sentidos não é nada diferente de afirmar assertivamente que há um impulso geral na história do pensamento humano que o levará para um acordo geral, um sentido católico. Qualquer verdade mais perfeita do que esta conclusão designada, qualquer realidade mais absoluta do que aquilo que nela é pensado, é uma ficção da metafísica"(CP 8.12, apud Weisnheimer, 1973:254).
Um acordo para concordar ou discordar, essa é a realidade da obra estética — um sentimento que também quer gerar uma conduta e causar um pensamento. A boa literatura, podemos julgar por esse equilíbrio: o reconhecimento do hábito da verdade que tem a comunidade humana. A questão da literatura é a harmonia entre esses três termos do conhecimento, sendo ela uma ciência da psicognose, da vida mental criativa (porque pertence ao mundo das relações, que são todas mentais).
Na história da literatura (e da arte, em geral), houve o acontecimento de uma violência contra o conhecimento, criando uma elisão entre o verdadeiro e o belo, o real e a ficção. Mas, como mostra Weinsheimer (cf. 1983), a ficção não é o oposto do real. O oposto do real é o irreal, aquilo criado por uma mente particular e apenas dela dependente. A ficção, se não representa o fato verdadeiro (como, aliás, a ciência muitas vezes não o faz), representa um real em suas possibilidades e em sua generalidade (na potencialidade e generalidade da língua). Possibilidade e generalidade, diz-nos Weinsheimer (1983:256) são o objeto da ciência. Mas também da literatura, podemos confirmar. O belo pode ter implicações com o conhecimento, a literatura pode ser verdadeira. “O trabalho do poeta ou do novelista não é tão completamente diferente daquele do homem científico. O artista introduz uma ficção; mas não é uma arbitrária; ela exibe afinidades com as quais a mente acorda uma certa aprovação ao pronunciá-las belas, o que, se não é exatamente o mesmo que dizer que a síntese é verdadeira, é algo da mesma espécie geral" (CP 1.383, apud Weinsheimer, 1983:256).
Mas também a ciência nem sempre é verdadeira, também ela projeta ficções sobre a realidade. A ciência só é verdadeira quando está conectada àquilo que representa, quando representa algo além do que representa, pois "assim como a arte, a ciência não é a intuição da coisa em si, mas, pelo contrário, a procura de leis gerais por meio de hipóteses, as (potencialmente verdadeiras) ficções da ciência"(CP 5.543). Embora muitas vezes a ciência tenha se apresentado como realidade ou verdade, não representa completamente uma realidade nem, conseqüentemente, a verdade. A ciência que se representa como real, ou verdade, não é verdadeira, pois está ignorando nossa capacidade de conhecimento representativo: só pensamos com signos. "Não temos poder algum de Intuição, mas toda cognição é determinada logicamente por cognições prévias", afirmou Peirce (CP 5.265).
Assim também a literatura, quando não está envolvida com o real, não é verdadeira; e impossibilita todo o sistema literário de se realizar. Porque a representação literária (que é sempre representação de representação, já que não há uma representação original) deve dar prosseguimento à cadeia das obras anteriores, reavaliando-as. A imitação nada tem a ver com a originalidade. "Originalidade, como a certeza cartesiana, é meramente aquela inconsciência do precedente elevada ao status de um ideal — um ideal cuja percepção impossibilitará toda a literatura", diz-nos Weinsheimer (1983:256). Pois, conclui, "o contrário de imitação não é originalidade, mas a ignorância vazia da página em branco" (1983:257).
A originalidade verdadeira está em dar ordem potencial a outros trabalhos (interpretações, imitações), sendo um signo para as obras subseqüentes, que darão continuidade a esse sistema fundamentado por uma cognição de três termos: criar o sentimento estético que gera uma conduta ética e causa um pensamento científico.
Sendo uma ciência muito especial, a literatura vem edificando um pensamento sistemático (um sistema cognitivo, um corpus público em que testa seus novos conhecimentos) tanto como signo de qualidade meramente estética, quanto em sua relação inferencial com o objeto de seu conhecimento, através de sua referencialidade, quanto como efeito que causa na comunidade em que é recebida. A literatura é um conhecimento que não nega a inferencialidade, a concepção de que todo conhecimento depende de um conhecimento prévio.
Qual é, portanto, a medida de sua verdade? É o sentimento estético que, na arquitetura filosófica de Peirce, está disposto acima da ética. Como vimos, a mente apenas dá oportunidade a uma idéia, é chamada por ela (a decantada vocação dos poetas), já que o conhecimento não é particular, não pertence a uma mente em especial, mas está na possibilidade de interpretação decorrente de nossa característica cognosciva, de representação. Essa é a característica de todo discurso, tanto científico quanto literário ou filosófico. Onde estaria a diferença, senão no modo de produção desse conhecimento e na exaltação de um efeito específico de sua semiose? Para Peirce, "a ciência é um tipo específico de semiose, aquela em que se exacerba a revisão crítica e auto-correção, visando à modificação de hábitos de pensamento e de ação, através da reflexão e da experiência", explica Santaella. No entanto, "embora o fim último da ciência seja a verdade, o fim último da verdade não está na própria verdade, mas no admirável (kalos), ou seja, naquilo que guia a semiose estética", sendo a ética "a ponte onde o inteligível da ciência se direciona para seu encontro com o admirável da Estética" (1992:113-114).
A literatura sempre procurou ser verdadeira, embora tenha sido posta no lugar de uma falsidade quanto à sua relação com o real. Com as ciências da linguagem, neste século, e com a revisão filosófica (Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Derrida), houve a percepção de que a linguagem não é apenas um instrumento e a verdade não é diferente do processo de representação, pois só conhecemos a representação. A medida da verdade literária se verifica no seu modo de processar a representação, o modo poético, que acentua a criação de um sentimento na possibilidade deste gerar uma conduta e causar um pensamento. Na sua continuidade, fértil em gerar interpretantes, já tendo formalizado uma semiose ampla que funciona como sistema cognitivo, a literatura, ao se dirigir ao seu objeto, deseja conhecê-lo. Apesar de todas as barreiras que se interpuseram para negar essa livre geração de interpretantes (leituras, traduções, interpretações, críticas, comentários, ensaios, adaptações, cotejos, enfim, novas representações), a ciência especial que é a literatura tende a se organizar como um sistema pronto para aprender os saberes de todas as demais ciências (sem com isso querer tomar-lhes o lugar), reproduzi-los, questioná-los ou com eles criar jogos de significação. Porque a literatura tende a proteger seu direito de representar o real sem o compromisso com os limites de uma verdade conhecida e imposta. A literatura busca a verdade.
As obras literárias, bem como as demais obras de arte, são "o modo mais poderoso de crescimento da razoabilidade concreta". As obras de arte "fisgam nossa sensibilidade com vistas à mudança de hábitos estereotipados e deteriorados de sentir", continua Santaella (1994:150). Visto sob esse prisma, parece que o signo estético estaria ligado apenas à criação de hábitos de sentimento. Mas, na verdade, o signo estético tem a ambição (cada vez mais comprovada) de gerar hábitos de ação, orientando a conduta (ética) e causando um pensamento reflexivo (um sistema em que possa se reconhecer como um discurso cognitivo, uma psicognose, uma ciência especial), como afirma Santaella:
"Não há nada mais profundamente enraizado no espírito humano do que os hábitos de sentir. Enquanto o pensamento e a ação podem se modificar através de argumentos lógicos ou da força do bom senso, os hábitos de sentir só se modificam através do sofrimento ou da exposição constante do sentimento a objetos ou situações capazes de produzir sua regeneração" (1994:150).
BIBLIOGRAFIA
ANDERSON, Chester G. James Joyce. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1967; trad. Eduardo Francisco Alves.
BACHELARD, Gaston. A formação do espírito humano. Rio de Janeiro, Contraponto, 1996; trad. Estela dos Santos Abreu.
BARTHES, Roland. Novos ensaios críticos. O grau zero da escritura. São Paulo, Ed.Cultrix, 1974; trad. Heloysa de Lima Dantas e Anne Arnichand e Álvaro Lorencini.
——— Aula. São Paulo, Cultrix, 1979; trad. Leyla Perrone-Moisés.
BELO, Fernando. Epistemologia do sentido. Lisboa, Fundação Gulbenkian,1991.
BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. Magia, técnica, arte e política. São Paulo, Brasiliense, 1985; trad.Sergio Paulo Rouanet.
BEVERIDGE, W.I.B. Sementes da descoberta científica. São Paulo, T.A. Queiroz, 1981; trad.S.R.Barreto.
BLOOM, Harold. A angústia da Influência. Uma teoria da poesia. Rio de Janeiro, Imago, 1991; trad. Arthur Nestrovski.
——— O cânone ocidental. Ed.Objetiva, 1995; trad. Marcos Santarrita.
BOHR, Niels. Física atômica e conhecimento humano. Rio de Janeiro, Contraponto, 1995; trad.Vera Ribeiro.
BOLLÈME, Geneviéve. Parler d'écrire. Paris, Éditions du Seiul, 1993.
BOORSTIN, J.Daniel. Os criadores. Uma história da criatividade humana. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1995; tradução de José J. Veiga.
BORGES, Jorge Luis. Obras completas. Buenos Aires, Emecé Editores, 1974.
BOTTÉRO, Jean, MORRISON, Ken e outros. Cultura, pensamento e escrita. São Paulo, Ática, 1995; trad. Rosa Maria Boaventura e Valter Lellis Siqueira.
BOURDIEU, Pierre. Les régles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire. Paris, Éditions du Seuil, 1992.
——— As regras da arte. São Paulo, Companhia das Letras, 1996; trad.Maria Lucia Machado.
——— A economia das trocas lingüísticas. São Paulo, EDUSP, 1996; trad. Sérgio Miceli et alii.
CARRIÈRE, Jean-CLaude; AUDOUZE, Jean; CASSÉ, Michel. Conversas sobre o invisível. Especulações sobre o universo. São Paulo, Brasiliense, 1991; tradução de Maríllia Garcia e Manoel Paulo Ferreira.
CASSIN, Barbara. L'effet sophistique. Paris, Gallimard,1995.
——— Ensaios sofísticos. São Paulo, Siciliano, 1990; trad. Ana Lúcia de Oliveria e Lúcia Cláudia Leão.
Centre de Recherche sur L'Imaginaire. Ciência e Imaginário. Brasília, Ed.Universidade de Brasília, 1994; trad.Ivo Martinazzo.
CHALMERS, A.F. O que é ciência, afinal? São Paulo, Brasiliense, 1993; trad.Raul Fiker.
CHATELÊT, François. A filosofia pagã. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1981; trad. Maria José de Almeida.
COLLI, Giorgio. O nascimento da filosofia. São Paulo, UNICAMP, 1988; trad. Frederico Carotti.
DELEDALLE, Gerard. Lire Peirce aujourd'hui. Paris, Éditions Universitaires, 1990.
DERRIDA, Jacques. Gramatologia. São Paulo, Perspectiva, 1973; trad. Miriam Schnaiderman e Renato Janini Ribeiro.
——— A escritura e a diferença. São Paulo, Perspectiva,1971; trad. Maria Beatriz Marques Nizza da Silva.
——— La dissémination. Paris, Éditions du Seuil, 1972.
——— A farmácia de Platão. São Paulo, Iluminuras, 1991; trad. Rogério da Costa.
——— Margens da filosofia. São Paulo, Papirus, 1991; trad.Joaquim Torres Costa, António M.Magalhães.
——— La desconstrucción en las fronteras de la filosofía. Barcelona, Paidós, 1993; trad. Patricio Peñalver Gómez.
DERRIDA, J., KOFMAN, S. et alii. Mimesis des articulations. Paris, Flammarion, 1975.
DESBORDES, Françoise. Concepções sobre a escrita na Roma antiga. São Paulo, Ática, 1995; trad. Fulvia M.L.Moretto e Guacira Marcondes Machado.
DETIENNE, Marcel. Os mestres da verdade na Grécia arcaica. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1988; trad. Andréa Daher.
DUBARLE, Dominique. Logos et formalisation du langage. Paris, Klincksieck, 1977.
DUMMETT, Michael. La verdad y otros enigmas. México, Fondo de Cultura Económica, 1990; trad.Alfredo Herrera Patiño.
ECCLES, John. A evolução do cérebro. A criação do eu. Lisboa, Instituto Piaget, 1990; trad. Manuela Cardoso.
ECO, Umberto. La recherche de la langue parfaite. Paris, Éditions du Seuil, 1994; trad. Jean-Paul Manganaro.
ELIOT, T.S. Selected Prose of T.S.Eliot. Ed.Frank Kermode. London, Faber and Faber, 1975.
——— On poetry and poets. London, Faber and Faber, 1979.
ELMANN, Richard. James Joyce. São Paulo, Globo, 1989; trad.Lya Luft.
FISCH, Max H. Peirce, Semeiotic, and Pragmatism. Ed. Kenneth Laine Ketner e Christian J. W. Kloesel. Bloomengton, Inadiana University Press, 1986.
FREUD, Sigmund. Obras psicológicas completas. Rio de Janeiro, Imago, 1972; trad. Waldefredo Ismael de Oliveira.
GADAMER, Hans-Georg. L'actualité du beau. Paris, Alinea, 1992; trad.Elfie Poulain.
——— Langage et verité. Paris, Éditions Gallimard, 1995; trad.Jean-Claude Gens.
GARDNER, Howard. Creating minds. New York, HarperCollins Publishers, 1993.
——— Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad. Buenos Aires, Paidos, 1987; trad. Gloria G.M.de Vitale.
GIOVANNANGELI, Daniel. La fiction de l'être. Paris, Éditions Universitaires, 1990.
GRANGER, Gilles-Gaston. A ciência e as ciências. São Paulo, UNESP,1994; trad.Roberto Leal Ferreira.
GRASSI, Ernesto. Arte y mito. Buenos Aires, Nueva Visión, 1968; trad. Jorge Thieberberg.
GUTHRIE, W.K.C. Os sofistas. São Paulo, Paulus, 1995; trad. João Rezende Costa.
HABERMAS, Jürgen. La pensée postmétaphysique. Paris, Armand Colin, 1993; trad. Rainer, Rochlitz.
HAMBURGER, Michael. La verdad de la poesía. México, Fondo de Cultura Económica, 1993; trad. Patricio Peñalver Gómez.
HARRISON, Edward. A escuridão da noite. Um enigma do universo. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1996; tradução de Maria Luiza X. de A. Borges.
HAVELOCK, Eric A. Cultura orale e civiltà della scrittura. Da Omero a Platone. Roma, Editori Laterza, 1973.
——— A revolução da escrita na Grecia e suas conseqüências culturais. São Paulo, UNESP; Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1966; trad. Ordep José Serra.
HEIDEGGER, Martin. A origem da obra de arte. Lisboa, edições 70,1990; trad. Maria da Conceição Costa.
——— On the Way to Language. San Francisco, Harper & Row, 1971; trad. Peter D. Hertz. Discourse on thinking. New York, Harper & Row, 1969; trad. John M. Anderson e E. Hans Freund.
——— "Logos", Pré-Socráticos (Pensadores). São Paulo, Abril Cultural, 1978.
HERDER. Traité sur l'origine de la langue. Paris, Aubier/Flammarion, 1977; trad. Pierre Pénisson.
HESíODO. A origem dos deuses. São Paulo, Iluminuras, 1991;trad. de Jaa Torrano.
HÜBNER, Kurt. Crítica da razão científica. Lisboa, edições 70,1993; trad.Artur Morão.
JAKOBSON, Roman. Arte verbal, signo verbal, tiempo verbal. México, Fondo de Cultura, 1992; trad. Mónica Mansours.
——— Lingüística e comunicação. São Paulo, Ed. Cultrix, 1974; trad. Izidoro Blikstein e José Paulo Paes.
JAMES, William. São Paulo, Abril Cultural, Os pensadores,1979; trad. J.C.da Silva, P.R.Marioconda.
JOHANSEN, Jorgen Dines. "Literature: collective memory – collective fantasy". São Paulo. Face, N.1, agosto/1991.
JOYCE, James. Ulysses. New York, First International Edition, 1990.
KEARNEY, Richard. Poétique du possible. Paris, Beauchesne, 1984.
KOESTLER, Arthur. The act of creation. London, Penguin, 1989.
KIERKEGAARD, S.A. O conceito de ironia constantemente referido a Sócrates. Rio de Janeiro, Vozes, 1991; trad. Álvaro Luiz Montenegro Valls.
KOFMAN, Sarah. L'enfance de l'art. Une interprétation de l'ésthétique freudienne. Paris, Galilée, 1985.
——— El nacimiento del arte. Una interpretación de la estética freudiana. Buenos Aires, Siglo XXI, 1973.
——— A infância da arte. Uma interpretação da estética freudiana. Rio de Janeiro, Relume Dumará, 1996; trad. Maria Ignez Duque Estrada.
KOYRÉ, Alexandre. Estudos de história do pensamento científico. Rio de Janeiro, Forense Universitária; Brasília, Ed.Universidade de Brasília, 1982; trad. Márcio Ramalho.
KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo, Perspectiva, 1990; trad. Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira.
LARUELLE, François. Le déclin de l'écriture. Paris, Aubier Flammarion, 1977.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes trópicos. Lisboa, Portugália, 1955; trad.Jorge Constante Pereira.
LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. O futuro do pensamento na era da informática. Rio de Janeiro, Editora 34, 1993; trad.Carlos Irineu da Costa.
MACHEREY, Pierre. A quoi pense la littérature? Paris, Presses Universitaires de France, 1990.
MAGNUS, Bernd; STEWART, Stanley & MILEUR, Jean-Pierre. Nietzsche's Case. Philosophy as/and Literature. New York, Routledge, 1993.
MERRELL, Floyd. Unthinking Thinking. Jorge Luis Borges, Mathematics, and New Physics. Purdue University Press, West Lafayette, Indiana, 1991.
MOLES, Abraham A. Les sciences de l'imprécis. Paris, Seuil, 1990.
——— Com a colaboração de Elizabeth Rohmen. As ciências do impreciso. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1995; trad. Glória de Carvalho Lins.
NESTROVSKI, Arthur (org.) riverrun. Ensaios sobre James Joyce. Rio de Janeiro, Imago, 1992; trad. Jorge Wanderley et alii.
NICOL, Eduardo. Metafísica de la expresión. México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1989.
NIETZSCHE, Friedrich. La naissance de la tragédie. Aris, Gallimard, 1976; trad. Geneviève Bianquis.
OLSON, David R. E TORRANCE, Nancy. Cultura escrita e oralidade. São Paulo, Ática, 1995; trad. Valter Lellis Siqueira.
OMNÈS, Roland. Filosofia da ciência contemporânea. São Paulo, UNESP,1996; trad.Roberto Leal Ferreira.
PEIRCE, C.S. Collected Papers. C.Hartshone, P.Wiess e A.W.Burks (eds). Cambridge, Ma, Harvard University Press, 1958.
——— São Paulo, Abril Cultural (Os pensadores), 1974; trad. A. M. Oliveria e S. Pomerangblum.
——— Semiótica e filosofia. Textos escolhidos. São Paulo, Cultrix, 1993; trad. O.S.da Mota e L. Hegenberg.
——— Semiótica. São Paulo, Perspectiva, 1977; trad.José Teixeira Coelho Neto.
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Texto, crítica, escritura. São Paulo, Ática, 1978.
PIGNATARI, Décio. Semiótica & Literatura. São Paulo, Cultrix, 1987.
PLATÃO. Obras completas. Madrid, Aguilar, 1966; trad. Maria Araujo et alii.
POE, Edgar A. Eureka. São Paulo, Max Limonad,1986; tradução de Marilene Felinto.
——— Ficção completa, poesia & ensaios. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1986; trad.Oscar Mendes e Milton Amado.
POSNER, Roland. "What is culture? Toward a semiotic explication of anthropological concepts." The Nature of Culture. Bochum, Brockmeyer, 1989.
RICOEUR. Paul. A região dos filósofos. São Paulo, Loyola, 1966; trad.Marcelo Perine e Nicolás Nyime Campanário.
ROSENFIELD, Israel. A invenção da memória. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1994; trad. Vera Ribeiro.
ROSSI, Paolo. A ciência e a filosofia dos modernos. São Paulo, UNESP, 1992; trad. Álvaro Lorencini.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Essai sur l'origine des langues. Paris, Bibliothèque du Graphe, 1976.
SANTAELLA, Lúcia. A assinatura das coisas. Peirce e a Literatura. Rio de Janeiro, Imago, 1992.
——— Estética: de Platão a Peirce. São Paulo, Experimento, 1994.
SANTIAGO, Silviano (org.). Glossário de Derrida. Rio de Janeiro, Liv.Francisco Alves, 1976.
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Lingüística Geral. São Paulo, Cultrix, 1973; trad.Antônio Chelini, José Paulo Paes e Izidoro Blikstein.
SCHILLER, Friedrich. A educação estética do homem numa série de cartas. São Paulo, Iluminuras, 1989; trad.Roberto Swarz e Márcio Suzuki.
SHAKESPEARE, William. The Complete Works of William Shakespeare. London, Clarendon Press, 1907.
STEIN, Gertrude. Selected Writings. New York, The Moderm Library, 1962.
STEINER, George. After Babel. Aspects of language & translation. Oxford/New York, Oxford University Press, 1992.
STENGERS, Isabelle. La volonté de faire science. À propos de la psychanalyse. Paris, Lesempêcheurs de penser en rond, 1992.
——— Quem tem medo da ciência? São Paulo, Siciliano, 1990; trad. Eloísa de Araujo Ribeiro.
TIERCELIN, Claudine. La pensée-signe. Études sur C.S.Peirce. Nîmes, ed.Jacqueline Chambon, 1993.
THIS, Bernard. "Incesto, adultério, escrita". In Atualidade do mito. São Paulo, Duas Cidades, 1977; trad. Carlos Arthur R. do Nascimento.
TODOROV, Tzvetan. Littérature et signification. Paris, Librarie Larousse, 1967.
TORRANO, JAA. "O mundo como função de Musas". In A origem dos deuses. Hesíodo. São Paulo, Iluminuras, 1991.
TSCHUMI, Raymond. Genèse de l'expression littéraire et artistique. Fondation Bühler-Reindl/Université de Saint Gall/L'age d'homme, 1993.
VALÉRY, Paul. Oeuvres. Bibliothèque de la Pléiade. Éditions Gallimard, 1957.
VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e tragédia na Grécia antiga. São Paulo, Duas Cidades, 1977; trad. Anna Lia A. de Almeida Prado.
VIGOUROUX, Roger. La fabrique du beau. Paris, Édition Odile Jacob, 1992.
WEINSHEIMER, Joel. "The realism of C.S.Peirce, or How Homer and Nature can be the Same." American Journal of Semiotics, Vol.2, Nos.1-2 (1983),225-263.
WILLIAM, Bernard. L'éthique et les limites de la philosophie. Paris, Gallimard, 1985; trad. Marie-Anne Lescourret.
WHITE, Hayden. Meta-história. A imaginação histórica do século XIX. São Paulo, EDUSP, 1992; trad.José Laurênio de Melo.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Ultimos escritos sobre filosofía de la psicología. Madrid, Editorial Tecnos, 1987; trad. Edmundo Fernandez, Encarna Hidalgo e Pedro Mantas.
YOUNG, Robert. Untying the text. A post-structuralist Reader. Boston, Mass., Routledge & Kegan Paul, 1981.
Tese apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo como exercício parcial para obtenção do título de Doutora em Comunicação e Semiótica, sob a orientação da Profa. Dra. Maria Lúcia Santaella Braga.
Banca:
Prof. Dr. Silviano Santiago (UFRJ)
Prof. Sr. Fernando Segolin (PUC-SP)
Profa Dra Carmem Lúcia José (UNESP)
1996Esta tese pôde ser desenvolvida graças a uma bolsa para doutorado concedida pela CAPES e às atenciosas, desprendidas, generosas e constantes prestações de auxílio dos amigos Maria Lúcia Baltazar, Kil Young Park, Ingeborg Görler, Denise Stoklos, Gilda Wajnsztejn, Afonso do Carmo e Marcos de Vasconcelos, aos quais sou muito grata.
Versão para eBook
eBooksBrasil.org
—————————
Agosto 2000© 2000 - Sônia Régis
sregis@terra.com.br
Proibido todo e qualquer uso comercial.
Se você pagou por esse livro
VOCÊ FOI ROUBADO!
Você tem este e muitos outros títulos GRÁTIS
direto na fonte:
www.eBooksBrasil.org