A Cidade Perdida (1948)
Jeronymo Barbosa Monteiro (1908 – 1970)
Fontes digitais
Digitalização da edição em papel
Coleção Terramarear - Vol. 70
Companhia Editora Nacional - 1948
Versão para eBook
eBooksBrasil
© 2008 Jeronymo Monteiro
USO NÃO COMERCIAL * VEDADO USO COMERCIAL
Nota Editorial
Antes que qualquer relógio marque o último segundo adicional de 2008, assinalemos duas datas que não poderiam passar em brancas nuvens: os 100 anos de nascimento de Jeronymo Monteiro e os 60 da primeira edição de A Cidade Perdida, volume 70 da Coleção Terramarear.
Para os apreciadores de ficção científica, Jeronymo Monteiro é nome que dispensa apresentações. Para os que não o são, basta dizer que se trata do mais importante escritor do gênero no Brasil. Tão importante que, na década de 1990, a Isaac Asimov Magazine (edição brasileira da Asimov’s Science Fiction) criou um “Prêmio Jerônymo Monteiro” em homenagem ao escritor. É, simplesmente, considerado como o pai da ficção científica brasileira.
Quando publicou A Cidade Perdida, em 1948, Monteiro não era um novato, nem nas letras, nem no gênero literário que o consagrou. No volume constam, como “obras do mesmo autor”: No País das Fadas [1930 - Cia. Melhoramentos de São Paulo], O Irmão do Diabo (narrativa da aventura de Walter Baron) [1937 - Cia. Editora Nacional], O Homem da Perna-Só [1943 - Anchieta Editora], O Tesouro do Perneta [1943 - Anchieta Editora], A Ilha do Mistério [1943 - Anchieta Editora], Os Nazi na Ilha do Mistério [1943 - Anchieta Editora], O Palácio Subterrâneo nas Antilhas [1943 - Anchieta Editora] e 3 Meses no Século 81 [1947 - Livraria do Globo].
Em tempos de internet e da facilidade de buscas, que esta publicação seja um aperitivo e apresentação, ao eventual leitor que desconhecia o Autor, de um dos mais importantes escritores brasileiros... E que a curiosidade o leve a procurar mais sobre ele. E, creiam-me, há muito, muito mesmo a descobrir.
Só como aperitivo, registro a notícia sobre um de seus contos, O Copo de Cristal, incluído no livro Os Melhores Contos Brasileiros de Ficção Científica, organizado e editado por Roberto de Sousa Causo, lançado em 2008.
“...o conto foi escrito em maio de 1964, um mês após a tomada do poder pelos militares, e sua existência contesta o senso comum de que os autores da década de 1960 se abstiveram de criticar o golpe de Estado (....). Tendo sido adaptado para a televisão por Zbigniew Ziembinski em 1970 e veiculado pela Rede Globo, O Copo de Cristal apareceu primeiro na coletânea Tangentes da Realidade em 1969, um ano após o Ato Institucional Número 5.” - Fonte: Blog Insônia, de Tiago Castro.
Marco A. M. Bourguignon, em Um Pequeno Resgate da História da Ficção Científica Brasileira [www.scarium.com.br/artigos/hfc.html], registra:
“Foi com o paulista Jeronymo Monteiro (1908-1970) que a “ficção científica brasileira” passou a existir como universo literário à parte da literatura, criando regras e métodos próprios, além de formar um público específico. Em 1947, Monteiro publicou, “Três Meses no Século 81” e, em 1948, “A Cidade Perdida”. Antes disso, até o final da década de 30, não existia no Brasil um movimento literário em prol da ficção científica, envolvendo escritores e leitores. Antes havia surgido alguns textos casuais de autores da literatura, como: Gastão Cruls, Menotti del Picchia, Érico Veríssimo, Adazira Bittencourt e Monteiro Lobato. Mas ainda não havia uma tradição literária em ficção científica. Eram apenas ambientados em universos remotos habitados por seres fantásticos além, é claro, de ambientes utópicos e de aventuras.”
Jeronymo Monteiro travava uma batalha em várias frentes da literatura popular: seriados para rádios, novelas policiais e histórias infantis. Em 1964, fundou a “Sociedade Brasileira de Ficção Científica” e nos últimos anos de sua vida foi editor do “Magazine de Ficção Científica” (edição brasileira da conceituada revista estadunidense “The Magazine of Fantasy and Science Fiction”). Seu primeiro sucesso foi “Aventura de Dick Peter”, uma série de livros baseados em um dos seus seriados de rádio, eram histórias sobre um detetive novaiorquino. A partir de 1947, Monteiro publicou uma série de romances de FC, editou uma antologia: “O Conto Fantástico”, Civilização Brasileira, 1959 e manteve por muito tempo uma coluna crítica sobre Ficção Científica no jornal “A Tribuna”, de Santos (SP).
A Cidade Perdida, que me conste, teve três edições, a última, revista pelo Autor, em 1987, pela Editora Contexto, há muito esgotada. A presente, em eBook, comemorativa, apenas reproduz a 1ª edição.
Boa leitura!
Teotonio Simões
eBooksBrasil
NOTA DE COPYRIGHT
Esta edição é feita em “fair use”, em benefício de um direito moral do autor infelizmente não contemplado pela Lei 9.610 de 19/02/1998 [Lei dos Direitos Autorais].
Ela não menciona, entre os Direitos Morais do Autor (Artigo 24) o mais importante dentre eles, como qualquer autor sabe: o de ter sua obra divulgada, em vida e, principalmente, após sua morte.
Caso haja, nesta publicação, a violação de qualquer direito patrimonial (o que não acreditamos, visto a obra não ter sido reeditada recentemente e a presente edição estar sendo disponibilizada com cessão pública, que aqui fica declarada, de todo e qualquer direito patrimonial sobre ela), os detentores legítimos de tal direito, caso se sentiam lesados, estão cordialmente convidados a enviar e-mail para livros@ebooksbrasil.org para que o presente título seja prontamente retirado da apreciação pública e possamos informar aos apreciadores da obra de Jeronymo Monteiro onde poderão adquiri-lo.
Índice
Explicação Indispensável
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
DEDICATÓRIA
Ao Flávio Xavier de Toledo,
fiel companheiro na inefável
aventura...
EXPLICAÇÃO INDISPENSÁVEL
Tanto Salvio como eu estamos certos de que entre os ocasionais leitores deste livro há de se encontrar algum atlante. É a esse provável leitor que vão especialmente dedicadas estas linhas.
Nada devem recear os atlantes que habitam ainda o coração do Brasil. O que se revela de seu segredo neste livro será tomado pelo leitor comum como desbragada fantasia. Ninguém vai acreditar no que está escrito lá pelas últimas páginas, de tão inverossímil que parece, embora seja a perfeita expressão da verdade. Por isso, a nossa indiscrição não causará nenhum transtorno e nem instigará indesejáveis visitas a Atlantis-a-Eterna. Sabemos que nenhuma visita conseguiria se aproximar além do ponto permitido pelos guardas dos postos avançados. Sem a permissão do Grande Sacerdote, jamais conseguiriam chegar até onde chegamos.
Além disso, queremos dizer que, revelando o que descobrimos nesta maravilhosa viagem, estamos nos desincumbindo de uma clara imposição do Destino. Estamos certos de que o Primeiro Orientador espera que o façamos, embora tudo pareça indicar o contrário.
Ademais... gostaríamos de ter ficado para sempre em Atlantis-a-Eterna. Não pudemos. Mas pretendemos voltar e tudo faremos para o conseguir. É verdade que Salvio está muito mudado, dirigindo um jornal radiofônico e todo entregue a negócios de imóveis. Mas não importa. Qualquer coisa me diz que iremos terminar os nossos dias de vida naquele lugar maravilhoso, ao lado de Quincas e de Vanila. Salvio tem-me dito que não conseguiremos nem chegar ao primeiro Posto Avançado. Mas não importa. Tentaremos. Eu sei que vale a pena!
CAPÍTULO 1
“PARTIREMOS AMANHÔ
Acordei com aquelas batidas fortes na janela. Liguei a luz. Não eram ainda cinco horas! Tive intenção de não fazer caso, mas como as batidas continuassem, tive mesmo que abrir a porta e dei com a reluzente careca cor de rosa de Salvio.
— Partiremos amanhã! — cumprimentou ele. E sem dúvida, era esse um esquisito começo de dia.
— Entre. Vamos ver... Como é que disse? Partiremos amanhã? Mas para onde?
— Aqui está o roteiro. Tudo calculado, tudo em ordem.
— Espere. Sente-se aí, enquanto me arrumo.
A irrupção de Salvio àquela hora da manhã e a esmagadora notícia de que iríamos partir no dia seguinte, alteraram, de certo modo, o meu ponto de vista.
Quando voltei à sala, ele comparava um roteiro feito a lápis, com o grande mapa do Brasil que está pendurado à parede por cima da minha mesa. Olhei também.
E subitamente tudo aquilo — a viagem, as inscrições rupestres, os símbolos, a kabala hebraica, o Templo do Sol, o imenso sertão — tudo aquilo se me afigurou tão inatingível, tão problemático, tão remoto, que me invadiu uma onda de desânimo.
— Salvio... você não acha que é asneira?
— O que? Este mapa?
— O mapa, não. Tudo. A viagem, o Templo do Sol... Salvio olhou-me com espanto e dúvida.
— Que é isso? Que houve com você?
— Nada. Mas raciocine. Pense um pouco... Esse imenso sertão!... Florestas, pântanos, rios, perigos de toda espécie!
— Venceremos tudo, Jeremias!
— Bem... Vamos que seja assim. E você espera seriamente encontrar, lá no inferno, o Templo do Sol?
— Tenho certeza absoluta. Há um Templo do Sol situado entre os rios Xingu e Tapajós, entre os paralelos 5 e 10 e quase sobre o meridiano 55 Oeste de Greenwich. Tenho certeza!
— Espere... Se houvesse qualquer coisa realmente notável lá onde você diz, já a teriam descoberto. Centenas de exploradores têm percorrido o nosso sertão em todos os sentidos.
— Não é bem assim. Os exploradores têm apenas percorrido alguns dos grandes rios do interior do Brasil, sem jamais penetrar muito longe pelas margens. E entre o Tapajós e o Xingu há um mundo, onde caberiam folgadamente vários Estados europeus. Nenhum explorador percorreu essa imensa extensão de terra. Ou você pensa que sim?
— Então, você me está ajudando. Se exploradores experimentados, habituados aos rigores das selvas, não puderam explorar esse mundo, como iremos nós fazê-lo? E, ainda mais, como poderemos ir dar com o Templo perdido nessa vastidão?
— Nós o faremos. Porque vamos com roteiro certo e indicações seguras.
— Ora! Você tem a coragem de chamar “indicações seguras” a esses arabescos que encontramos e sobre cuja origem ignoramos tudo?
— Perfeitamente. Eu creio. Tenho confiança absoluta nas indicações que possuímos.
— Você está entusiasmado demais.
— Não estou. Tenho sérios motivos para crer, e, além disso, você sabe que possuo certos conhecimentos...
— Ora... Que conhecimentos?
Pareceu-me que Salvio ia perder a paciência Mas controlou-se, e, depois de rápido suspiro, prosseguiu:
— Jeremias não posso entrar em detalhes. Sou depositário de segredos que a posição que ocupo me impede de revelar. Mas você precisa ter confiança em mim. Afinal, eu participarei da sua sorte, você não irá sozinho. Por que, então, eu haveria de o induzir a praticar loucuras? Ouça: A tradição das religiões ocultas de que os iniciados têm conhecimento ensina que existe um Templo oculto no mais recôndito recesso da América do Sul... Eu não queria e não devia dizer-lhe isto, mas enfim... — depois de longa pausa, e como que impelido por uma força interior, Salvio continuou: — Nesse templo estão guardados os tesouros dos antigos sacerdotes do Culto Solar. Até os enfeites sagrados usados por eles na hora do sacrifício, como braceletes, peitorais, cintos e vários apetrechos, a maioria em oricalco, aí estão. Não se esqueça de que, logo após a descoberta do Brasil, foram vistos alguns aborígenes com enfeites desse gênero, segundo afirma Clemente Branderburger na sua “Nova Gazeta da Terra do Brasil”, em 1515.
— Ora, Salvio. Você...
— Espere. A mesma tradição, que conheço muito bem, e que é o meu principal ponto de apoio, afirma o seguinte: “O CAMINHO PARA O TEMPLO SÓ SERÁ ENCONTRADO POR AQUELE QUE DECIFRAR O MISTÉRIO.”
— Não. É por isso mesmo. Francamente, é muito mistério. Não vejo nada claro. É só isso: triângulos, círculos, “runas”, “mamtrams” “lótus de mil pétalas”, decifrações... Não!
Foi então que, pela segunda vez, vi Salvio exaltar-se.
— Cale a boca, ignorante! Você nada vê, nada sente, nada entende e nada sabe. Mas tem que acreditar em mim, porque eu entendo, vejo e sei.
— Pois então, vá sozinho. Eu, positivamente, não vou!
Salvio ergueu-se dum pulo. Sua careca estava violácea e seus olhos pareciam querer saltar sobre mim. Fulminou-me com um olhar e uma palavra:
— IDIOTA!
Recostei a cabeça no espaldar da poltrona e fechei os olhos. Ouvi seus passos pesados afastarem-se. A porta bateu com força. Depois, foi o portão que bateu e se abriu novamente, em recuo, rangendo.
Eram seis horas.
***
O dia estava lindo, e a lembrança de ir até à cidade não era má. Na praça do Patriarca era convidativa a escadaria da galeria subterrânea. E, quando eu chegava em baixo, coincidia estar chegando, também, o ônibus de Santo Amaro. Ia partir vazio. Pulei dentro dele. Parece aventura andar num ônibus vazio em São Paulo.
O meu pensamento era ir até Santo Amaro e almoçar junto à represa, mas quando passava por Brooklin, lembrei-me do Mateus, e saltei. Era gostoso caminhar sem pressa pela estrada em direção do Morumbi. O ar da manhã estava fresco. Da terra subia agradável cheiro inclassificável. Os pássaros piavam, e operários cruzavam comigo, apressados. Eles decerto não tinham, como eu, um problema idiota na cabeça. Não pensavam em penetrar sertões desconhecidos à procura de incríveis Templos do Sol...
As poças de água lamacenta eram lindas na sua tranqüilidade de expectativa. O matagal que marginava a estrada, intrincado e sujo, era ridícula sugestão das matas virgens que me acenavam de longe. Apanhei morangos silvestres que me souberam maravilhosamente bem, e olhei admirado os joás cor de fogo que enfeitavam o verde escuro da folhagem.
Quando apareceu a ponte que atravessa o rio, a casa de Mateus estava perto. A sebe que a rodeia é baixa. As janelas estão todas abertas, o que indica que ninguém mais dorme lá dentro. Dois garotos, sujos, brincam no monte de areia que sobrou da construção, e lá no fundo do quintal, Mateus, com calças velhas e rasgadas e calçando tamancos, está arrumando o arame de estender roupa.
Decerto, Mateus também não se preocupa com misteriosos Templos do Sol, e não pensa em impossíveis viagens pelo sertão central do Brasil.
Dei um berro:
— Olá! Mateus!
Ele voltou-se vivamente e sua cara riu toda.
— Jeremias! A esta hora! Entre! — E para dentro: — Mariquinha, arrume um café para o compadre Jeremias!
E depois, limpando as mãos nas calças esfarrapadas:
— Mas que diabo foi isso? Você às sete da manhã aqui neste fim de mundo! Que é que anda fazendo pelo mato a uma hora destas?
— Passei uma noite atribulada. Queria me distrair um pouco, respirar ar puro... Acho que estou envenenado.
— Álcool, já sei...
— Não, meu caro. Pior do que isso. Idéias!
— Ah... então, fez muito bem. Depois do café vamos ao rio pescar uns acarás para o almoço. Venha.
D. Mariquinha, mineira bonita, um tanto estragada pela vida, acabava de preparar o café na pequena cozinha, com os quatro filhos menores embaraçando-lhe os passos, reclamando e discutindo. Tomamos o café em canequinhas de lata. Na casa de Mateus tudo é de lata. As panelas são de latas de banha; as canecas, latas de leite condensado; os pratos, latas de marmelada. É um paraíso primitivo e bom, com a natureza emboscada em todos os cantos: nele próprio, na sua boa companheira, nos cinco irrequietos filhos, nos escassos móveis e na alegria saudável que polvilha tudo. Mateus é um rapaz que aprendeu a viver a vida com simplicidade e sem desejos desmedidos — como esse de procurar Templos do Sol...
Do degrau da soleira só se viam as árvores do terreno vizinho, o grande céu azul e o morro do Morumbi, que cansava a vista numa subida estafante.
— Mateus, me diga uma coisa. Você acredita que haja no centro do Brasil algum vestígio de civilizações antigas?
A pergunta estava tão fora de qualquer cogitação do velho amigo, que ele não a entendeu bem.
— Como é? Civilizações de onde?
— Pergunto se você acredita que possa haver vestígios de um passado grandioso, com civilizações e grandes povos lá no meio das matas do Brasil.
— Ah! Naturalmente! Decerto que os índios que foram encontrados aqui devem ter um passado.
— Sei. Mas que espécie de passado?
— Um passado civilizado, é claro. Se eles não tivessem possuído uma grande civilização não estariam no estado em que foram encontrados.
— Ora essa! Que idéia absurda a sua!
— Mas é claro! Só quem já teve uma civilização muito grande e artificial é que pode acabar sendo o que são os nossos índios. É preciso cansar-se de tudo na vida, do luxo, das festas, dos artifícios, para se chegar a compreender bem as delícias da vida simples junto à Natureza... E os nossos índios já passaram por tudo isso. Eis porque eles não “topam” a nossa civilização, por mais que a gente os queira “civilizar”. Nós estamos é arruinando a vida deles, matando-os, destruindo-os. Se fôssemos humanos e inteligentes; se soubéssemos respeitar os direitos alheios — deixaríamos esses homens viver em paz a vida que melhor lhes aprouvesse. Mas não. Teimamos em obrigá-los a adotar o nosso artificial e deletério sistema de vida...
Interrompi-o, espantado:
— É assim que você pensa, Mateus?
— Naturalmente. Quem compreende a vida, tem que pensar assim. Você não vai me dizer que esta sordidez em que vivemos, esta trama intrincada de maldade, inveja, injustiça, crueldade e ódios — é a vida para que fomos criados...
— Está bem, Mateus. Vamos pescar.
O rio Pinheiros foi desviado do seu antigo curso. Agora, o braço, meio estagnado, move-se lentamente demais para merecer o nome de rio, e está preso entre profundos barrancos. Na água serena e turva há grande quantidade de acarás, e o acará torradinho é muito gostoso.
CAPÍTULO 2
“ESTE MUNDO NÃO É DO MEU CONHECIMENTO!”
Pescar é, com certeza, a mais agradável das ocupações. Talvez por ser o melhor pretexto para se permanecer à margem de um rio, embebido o pescador no suave fluido da natureza. Quanto a mim, não há estado de irritação capaz de resistir a duas ou três horas de pescaria em manhã ensolarada. Já tínhamos duas dúzias de acarás enfiadas no cipó, quando Mateus voltou ao assunto:
— Mas o que é que houve, Jeremias?
— Você conhece o Salvio?
— Aquele seu amigo careca que anda metido numa religião esquisita?
— Esse mesmo. Ele quer que eu o acompanhe não sei para onde, a fim de descobrir um Templo do Sol, e os restos de antiga civilização, que, diz ele, deve ter existido no Brasil em séculos passados.
— Maravilhoso! E você não quer ir?
— Nem sei... E o pior é que eu é que tenho a culpa de tudo... Esta madrugada, ele foi me acordar para dizer que devemos partir amanhã, que já tem o roteiro pronto e não sei que mais...
— E você...
Não respondi. Um galho que derivava girando, levou-me o olhar para longe. Só quando ele desapareceu na curva é que voltei ao assunto:
— Você se recorda de um tio meu, chamado Adolfo, que foi para as Guianas há uns dez anos?
— Sim. Você me falou dele. Que é que tem com isso?
— Bem... é uma história muito longa. Tio Adolfo morreu na Venezuela, há um ano, e eu recebi uma velha mala que ele deixou. Dentro dela, com outras bugigangas, vinha um pedaço de grade de ferro batido, muito antiga, e de desenho realmente curioso. Nunca fiz conta daquilo. Ao contrário, sem compreender que motivo poderia ter levado meu tio a guardar pedaços de ferro velho, por várias vezes estive tentado a atirar fora a grade. Um dia, porém, tudo mudou com respeito ao “ferro velho”. Foi o seguinte: encontrei-me com Salvio na cidade, depois de muito tempo sem nos vermos. Você sabe. Conversa vai, conversa vem, falamos no tempo em que trabalhamos juntos na Sorocabana, recordamos os companheiros que nos deixaram saudades e, afinal, Salvio carregou-me para o quarto onde mora, lá para os lados do Paraíso. No quarto dele só havia livros. Livros por todos os cantos, nas estantes, dentro do guarda-roupa, em cima das mesas e empilhados no chão. E o interessante é que os livros dele são daqueles que a gente vê, pega, apalpa, folheia e não quer largar mais. Todos estavam indicando que Salvio tem espírito investigador, dedicado a estudos pitorescos, apaixonantes e talvez... estranhos. Bem sei que nem todos aprovam o gênero de especulações a que Salvio se entrega, mas ele é sincero. Alguns espíritos menos arejados talvez até nutram certo receio perante suas preocupações e suas idéias. Mas esses são tolos. Na verdade, não há nada de misterioso ou perigoso na especialidade que Salvio abraçou. Eu sabia, já, certas coisas, mas só nesse dia é que pude compreender melhor o nosso amigo, e percebi, então, quão totalmente alheios a tudo quanto eu já pensara eram os estudos a que ele se dedicava. É incrível como neste mundo há coisas importantes das quais nunca suspeitamos sequer e que, no entanto, enchem a vida de multidões!
Mateus ouvira o meu longo discurso sem se manifestar, mas, nesse momento, deu um aparte bem ilustrativo.
— Bem sei. Suponhamos uma pessoa que goste de flores. Ela ficará encantada diante de um lindo jardim florido. Um dia, alguém lhe apresenta um exemplar de “cattleya labiata”. Com certeza, essa pessoa ficará espantada diante das magníficas flores de vinte centímetros de diâmetro. Depois, esse alguém lhe dirá: isto é uma orquídea, uma “cattleya labiata” do Norte do Brasil. As orquídeas são plantas extraordinárias, que muita gente chama, erradamente, de parasitas. Elas não sugam a seiva das árvores onde vivem. Podem prosperar sobre pedras, ou em vasos de xaxim, que, evidentemente, não têm seiva alguma para oferecer. Vivem graças aos microrganismos que em suas raízes transformam os elementos do ar e da água em matéria assimilável. Têm um gênero de vida completamente diferente do de todos os outros vegetais conhecidos e armazenam nos pseudobulbos reservas de energia para resistir aos maus períodos. Não é um mundo novo para aquela pessoa que ama as rosas e os cravos?
— Evidentemente, Mateus. É exatamente o que quero dizer a respeito de Salvio e dos seus livros e estudos. Eu, positivamente, não conhecia aquilo. Ele possuía, dentro de seu quarto, um mundo completamente novo para mim. Algumas horas de convivência no seu quarto sossegado fizeram com que o conhecesse melhor do que em vinte anos de coleguismo e conversa de mesas de bar. Mas você quer ver o mais interessante? Apanhei, de entre os seus livros, um volume não sei de que autor, que tratava dos selvagens do Brasil. Era fartamente ilustrado. Ora, os nossos indígenas sempre mereceram a minha mais comovida simpatia, embora eu não tivesse tido oportunidade de os conhecer melhor. Examinando, muito interessado, as gravuras, parei diante de uma delas e disse:
— Veja, Salvio! É evidente! Não pode haver dúvida alguma! Os nossos índios são descendentes dos orientais, dos mongóis... veja! Veja isto!
Em vez de olhar a página do livro, Salvio olhou-me sorrindo paternalmente e disse:
— E por que não podia ser o contrário, Jeremias?
Essas poucas palavras, ditas por uns lábios sorridentes, na quietude silenciosa do quarto, enquanto a chuva caía insistente lá fora — foram como uma catapulta que se põe em movimento.
— O contrário? O contrário? Como?
— Sim. Simplesmente o contrário. Por que não hão de os mongóis, os orientais e o resto dos homens ser descendentes dos nossos indígenas, ou melhor, um ramo colateral da raça ameríndia?
— Ora, Salvio... parece brincadeira. Eu tenho lido alguma coisa a esse respeito. Sei que os chineses são bem mais antigos do que os guaranis...
— Mas por que são mais antigos?
— Porque tudo o prova. A sua história milenar, a sua tradição...
— Mas é que os nossos índios podem ter uma história que, de tão milenar, se perdeu na noite dos tempos. A dos chineses, é tão nova que ainda pode ser perfeitamente lembrada...
— Ora... e as inscrições rupestres... você sabe que nas rochas do interior do Brasil se encontraram inscrições que indicam a visita feita ao Brasil por povos de outras terras, antes de 1500. Decerto, alguns desses visitantes é que deram origem aos nossos indígenas...
— E, se assim fosse, por que não teriam eles continuado as civilizações de suas pátrias, civilizações tão grandes que permitiram a travessia do oceano e deram origem a uma escrita...?
— Bem... Quer dizer que eles regrediram, e esqueceram tudo... com exceção de alguns, que, fixando-se na orla do Pacífico, conseguiram progredir, como os Aztecas, Toltecas, Incas, etc.
Durante minha fala, Salvio conservara o sorriso nos lábios e me olhava com ar de paternal condescendência, como quem olha um menino que, com um canivete e uma tora de peroba, trabalha na certeza de que vai fabricar um violino.
Protestei:
— De que ri? Não foi isso mesmo?
— Jeremias — começou Salvio pausadamente, sem alterar a voz, como era seu costume falar — você vai ouvir umas coisas que lhe quero dizer. Talvez seja maçante, mas você precisa ouvir para não tornar a dizer tolices e para ajudar a repor as coisas nos seus devidos lugares. Você acaba de dizer o que todo mundo diz e todo mundo aceita, porque foi divulgado com foros de veracidade científica. Mas, como todos os que repetem o que ouvem, não usou o cérebro, não tentou raciocinar. Diga uma coisa: você sabe, por acaso, que o nosso Brasil está situado no “continente mais antigo do mundo”?
— Sim... tanto que Conan Doyle, quando quis arranjar um cenário adequado para a sua história do “Mundo Perdido”, com animais antediluvianos ainda vivos, escolheu o planalto central do Brasil.
— Isso é fantasia, Jeremias. É claro que Conan Doyle sabia de alguma coisa, mas a verdade científica, meu caro Jeremias, é que o planalto central do Brasil é formado pelas rochas pertencentes ao período chamado, em geologia, “de transição”; rochas que não foram cobertas por nenhuma formação mais recente.
— Mas... isso...
— Espere. Não há, em nenhum outro ponto do nosso planeta, tão grande extensão de terreno que ofereça igual aspecto. E essas rochas de transição assim, à flor da terra, provam, simplesmente, que o planalto central do Brasil já emergira das águas havia muitos e muitos séculos quando outras partes começaram a surgir e secar ao ar. Decerto, você sabe que as rochas se formam pelos depósitos sedimentares que se vão acumulando no fundo das águas...
— Bem. Mas...
— Cale-se! Agora, está falando a Ciência! O solo da maior parte do nosso país é constituído de rocha primitiva, arcaica. No planalto central aflora, por todos os cantos, o “cristalino”, rocha que constitui os legítimos alicerces do globo. No Amazonas afloram rochas do período permeano e até o siluriano, o mais antigo dos terrenos paleozóicos, foi assinalado nos saltos de vários rios do Amazonas e do Pará. Isto confirma o que eu já disse: que esta parte do globo estava já exposta ao ar, e, talvez, coberta de vegetação primitiva, enquanto as outras partes, ainda mergulhadas na água, continuavam recebendo novas camadas de sedimento e que, milênios mais tarde, emergindo, formariam os outros continentes, o “velho mundo” etc, mas, na verdade, os novos continentes, de constituição geológica mais recente do que a do solo brasileiro. Pense bem sobre isto, e não esqueça nunca: se a nossa terra surgiu das águas milênios antes das outras, deve, também, ter recebido a semente da vida milênios antes delas. Foi um adiantamento que tomamos e que ninguém nos poderá mais tirar.
— Espere. Isso é história antiga demais. Que é que tem que ver com os chineses e os mongóis?
— Chegaremos lá. Como vê, o “novo mundo” que Colombo e Cabral descobriram era, precisamente, o mais antigo dos mundos e, como o demonstrou Le Plongeon, depois de onze anos de conscienciosas pesquisas — era também o berço da raça humana e, portanto, o berço da civilização, pois que, nascendo primeiro aqui o homem aqui deve ter evoluído primeiro.
— Bem...
— Isso, Jeremias. Bem! Muito bem, até! Você compreenderá tudo claramente, dentro em breve. Até poucos anos atrás, os cientistas acreditavam que o “homo” tivesse aparecido só no período quaternário, enquanto desapareciam os animais monstruosos que se convencionou chamar “antediluvianos”, e que seriam próprios do terciário. Eles teriam morrido durante a Idade Glacial que aniquilara todos os vegetais de que se nutriam. Pois bem, você sabe que os períodos geológicos se contam por milhões de anos.
— Mas o aparecimento do homem no quaternário é um fato provado. Quatrefages...
— Provado, não. É, apenas, um fato “sustentado”. Ouça isto: Homens de reconhecida probidade científica, como Peter Lund, Anibal Matos, Pedberg, Morton, Ameghino, Hrdlicka, e outros, pesquisando com critério em diferentes pontos da América do Sul, encontraram vestígios insofismáveis da existência de uma civilização muito, mas muito, anterior às famosas civilizações chinesa, egípcia, persa, romana ou qualquer outra das já estudadas e pesquisadas pelo homem. E, o que é mais significativo, provaram que o homem já existia na América do Sul pelo menos ao fim do período terciário. Isto é: o homem já vivia no nosso continente alguns milhões de anos antes da época em que se acreditava tivesse ele surgido. Compreende isso, Jeremias? É muitíssimo importante! Na Lagoa Santa, nas Furnas de São Leopoldo, no Estado de Minas Gerais, encontraram-se oitenta esqueletos do “homo americanus” de mistura com ossadas de grandes herbívoros que só existiram pela época Terciária. Quer dizer, até que se prove o contrário, que esses homens e esses animais foram contemporâneos e, portanto, o “homo americanus” é terciário! Mas há mais, ainda, ouça: o gliptodonte viveu na era Terciária e era um monstruoso animal, couraçado como o tatu dos nossos dias. Pois foram encontradas, aqui, na América do Sul, carapaças de gliptodontes cobertas com traços e arabescos evidentemente feitos por mão humana, e embaixo de uma dessas carapaças encontraram o esqueleto de um dos primitivos habitantes da América. Isto tudo, em terrenos da era Terciária. É concludente, indiscutível.
Como você pode imaginar, eu estava esmagado com essas revelações. Exclamei:
— Isso é que é sabedoria! Estou positivamente aturdido. Esse mundo não é do meu conhecimento!
— Acredito, É natural. E, agora, raciocinemos um pouco. Se o homem apareceu na América antes de aparecer em qualquer outro lugar, porque aqui se encontravam as condições necessárias ao seu aparecimento, temos que em outros continentes apareceram as condições necessárias à vida humana. É lógico, portanto, que o homem seguiu com o tempo. Só milhares de anos mais tarde é que acreditar que o seu processo evolutivo normal pros-americano se passasse para esses lugares, e que, aqui no seu berço natal, mercê da evolução cumprida, já estivesse a caminho da civilização, enquanto raças diferentes, inteiramente selvagens, apareciam nos diversos pontos do mundo...
— Tem razão. Isto é bastante claro...
— Mas ainda há mais. Nas camadas inferiores do quaternário, aqui na América, foram encontradas cabeças de javali artisticamente lavradas, como cita Perez Verdía. É fácil tirar a conclusão. Se nos primeiros tempos do quaternário o homem era capaz de se entregar a manifestações artísticas, é que já possuía milhares de anos de evolução, não é claro?
— Sim. É bem claro. Estou compreendendo admiravelmente. Como se abrem novos horizontes!
— Agora, vejamos outro aspecto da mesma questão. Todos os pesquisadores da arqueologia sul-americana verificaram que existem, de norte a sul do continente, testemunhos de todo gênero, deixados por uma civilização desaparecida, como sejam: ruínas de templos, palácios, pirâmides, hipogeus, túmulos, monumentos de estilo original, cujas linhas arquitetônicas não se parecem com as dos monumentos egípcios ou greco-romanos. Aqui em São Paulo, no antigo município de Batalha, fizeram-se ricas descobertas arqueológicas. É conhecida a célebre “esfinge” do Paraná. Em Boa Vista, no Rio Grande do Sul, foram descobertas as bases de uma construção monumental. Há ídolos zoomorfos e antropomorfos na Serra de Sincorá. Há ruínas de uma cidade monumental na Bahia. E há, além de tudo, inscrições rupestres, petróglifos, símbolos e sinais antiquíssimos gravados em milhares de rochas, por todo o interior do Brasil.
— Mas, espere! Se tudo isso é verdade, por que a ciência oficial teima em considerar o Oriente como berço do homem e das civilizações?
— Ora... Porque, para o comodismo nacional é mais fácil declarar que uma forma estranha na pedra é simples “capricho da Natureza”, do que organizar exaustivas e custosas pesquisas bem dirigidas. E porque, uma vez estabelecido que o Oriente, a Ásia, foi o berço da humanidade, a ciência dificilmente quererá voltar atrás, e será preciso imenso trabalho para induzi-la a isso. Ora, como aqui não nos incomodamos absolutamente com tais problemas, vai tudo no melhor dos mundos e se afasta a trabalheira enfadonha de abandonar o que está feito para se recomeçar sobre novas bases. Acredito, no entanto, que apesar de toda a resistência e do profundo letargo do interesse nacional, a verdade vai abrindo caminho, porque as provas se acumulam de tal maneira que, dentro de alguns anos, todo o mundo terá que se curvar à evidência. Talvez os nossos sábios resolvam, também, tomar a coisa mais a sério...
Durante alguns minutos nos mantivemos em silêncio. Eu pensava naquilo tudo — um mundo novo, vibrante, apaixonante, repleto do perfume místico do passado, de um passado longínquo, tão longínquo que a imaginação vacila em localizá-lo em qualquer época ao longo do tempo. Depois, reatei o fio da conversa:
— Salvio, você falou, ainda há pouco, em inscrições rupestres, petróglifos e símbolos...
— É verdade. Pelo interior do Brasil, especialmente no Nordeste, nos arredores de Natal, encontram-se pedras gravadas com símbolos estranhos. O interessante é que muitos desses símbolos, embora feitos há milênios — os nossos selvagens não só não os sabem decifrar, como não têm memória alguma sobre eles e também não fazem nada semelhante — são muito parecidos com os que se encontram nas escritas sagradas de vários povos dos chamados “antigos”, da Ásia, da África; e muitos deles se assemelham, mesmo extraordinariamente, a signos de kabala hebraica. São comuns, por exemplo, nas inscrições rupestres do Brasil, os caracteres rúnicos.
— Rúnicos? Que quer dizer?
— “Runa” é o vocábulo que significa “homem”, e a kabala o inclui até hoje.
— Isto traz em si possibilidades grandiosas! — exclamei, percebendo, num relance, a tremenda importância daquela observação.
— Sem dúvida. E vejo que você está começando a apreender o fundo da coisa...
— Sim. Estou entrevendo algo de grande importância, muito empolgante, mas sinto-me incapaz de pensar sozinho... Você... que é que pensa de tudo isso, afinal?
— O que eu penso é muito simples, Jeremias, mas, no atual estado dos conhecimentos estabelecidos, poderá parecer loucura. Só o conto a você porque somos amigos, e, mesmo que lhe pareça absurdo, você não vai me matar...
— Diga logo. Esse preâmbulo me faz esperar algo muito importante.
— Você ouvirá e julgará. Penso que no planalto central do Brasil deve ter-se desenvolvido, em épocas muito primitivas, uma civilização, que seria o ponto de partida para todas as decantadas civilizações do mundo. Daqui teriam saído os homens que, fundando a Atlântida, se tornariam os mais famosos e misteriosos seres da nossa raça. Da Atlântida eles se teriam passado para a África, com os elementos que deram nascimento à decantada civilização egípcia. A civilização sul-americana, como todas as outras, devia ter-se baseado num princípio religioso, e este só podia ser o culto solar, porque nada impressionou tão profundamente o homem primitivo como o sol, porque bem logo ele aprendeu a reconhecer que é do sol que nos vem toda a vida. E a tradição nos ensina que os templos do sol eram, comumente, subterrâneos... Afinal, o melhor é parar por aqui. Isto não passa de imaginação.
Eu estava ficando perturbado, porque me lembrava de uma coisa.
— Estou me lembrando...
— De quê?
— É a respeito de símbolos. Tenho algo que talvez seja importante.
— Você tem?
— Tenho.
— Mas tem o quê?
— É um trabalho em ferro batido que recebi da Venezuela, numa mala que meu tio me mandou, um tio que foi para as Guianas há muitos anos.
Salvio mexeu-se nervosamente na cadeira.
— Espere. Você diz que tem um trabalho em ferro batido... que espécie de trabalho? Que tem que ver com o que estivemos conversando?
— Não sei precisamente. Mas são uns desenhos... Um círculo, uma cruz... creio que tem também um sol e meia lua...
Salvio quase pulou. Mas tratou de se dominar e, já sereno, falou:
— Pode ser que você esteja enganado, Jeremias, e que esse trabalho não tenha valor algum. Mas também pode ser que suceda exatamente o contrário. Preciso ver isso. Preciso ver com urgência!
***
Mateus ouvira a minha longa narração em silêncio e pescando conscienciosamente. Era como se eu tivesse estado falando sozinho e, na realidade, falara para mim mesmo como num sonho, recordando com prazer as minúcias daquele primeiro encontro com Salvio depois de dez anos de ausência.
— E depois? — perguntou ele quando viu que o meu silêncio se tornara longo demais.
— Depois? Salvio fez questão de ver a grade de ferro naquela noite mesmo. Já era madrugada quando chegamos à minha casa. Logo que viu o pedaço de ferro ficou louco. Atirou-se a ele e, até romper o dia, esteve debruçado sobre a mesa, interpretando, estudando, falando sozinho. Eu adormeci de cansaço, mas ele me acordou, quase às nove horas, dizendo:
— Jeremias. Isto é o maior achado de todos os tempos. Posso levar comigo, para estudar melhor?
Concordei logo. Eu queria era deitar-me, descansar. Isso foi há dois dias. E hoje pela manhã ele me apareceu em casa, ás cinco horas, berrando: “Partiremos amanhã!”
— Partirão para onde?
— Sei lá! Quantos peixes você pescou?
— Perdi a conta. Mas já temos demais. Vamos embora, que a Mariquinha ainda tem que prepará-los para o nosso almoço.
Os acarás estavam deliciosos.
Depois do almoço, voltamos para a cidade. Mateus dirigiu-se para a Repartição onde trabalha e eu, em singular disposição de espírito, dirigi-me à casa de Salvio.
CAPÍTULO 3
DA DISCUSSÃO... NASCE A LUZ
Este capítulo trata ainda de arqueologia e opiniões científicas. O leitor poderá pulá-lo, se quiser, passando logo ao 4, onde começa a ação. Mas, como é um capítulo curto, se puder lê-lo, melhor. Sempre se esclarecem algumas coisas nele.
***
Salvio recebeu-me em seu quarto como se nada de anormal se tivesse passado. Conversamos, nos primeiros minutos, sobre coisas sem importância. Depois, intencionalmente, ele perguntou:
— E então?
— Não estou muito convencido ainda. Acho absurdo que uma grade de ferro que não se sabe de onde veio tenha uma inscrição capaz de levar dois homens a fazer uma viagem como essa. E há alguns pontos obscuros, que desejo ainda discutir com você.
— Está certo. Mas ouça: Quando Champollion descobriu a célebre pedra “Rosetta” e com ela encontrou a chave para decifração dos hieróglifos, todos acharam que ele estava maluco. Não quero fazer analogias, mas é evidente: associo todos os elementos de que dispomos sobre a pré-história do Brasil e as tradições religiosas do passado, para chegar a uma conclusão lógica — e você vem me dizer que é loucura o que estou fazendo...
— Mas, escute...
— Espere! Você não compreende, então, que é necessário fazer concessões às lendas e à tradição para chegar a alguma Verdade que tem raízes muito fundas no Passado? Você não sabe que todas as lendas assentam sobre fatos verídicos? Alteram, modificam ou deturpam a verdade inicial, mas a essência dos fatos primitivos lá está, intacta no fundo da versão fantasista. E, se não sabia, fique sabendo agora do seguinte: a arqueologia brasileira registra enorme quantidade de inscrições rupestres de caráter mágico. Mesmo os colecionadores dessas inscrições podem ignorar isso. Mas eu, como muitas outras pessoas, sei-o perfeitamente. A magia e a história dos povos primitivos estão tão intimamente ligadas que é impossível estabelecer-se as suas fronteiras...
— Ora! E você teimando! O Angyone Costa, que é autoridade em arquelogia, diz que as inscrições rupestres do Brasil não têm significação alguma. Segundo ele, não passam de divertimento dos índios, ou marcações dos bandeirantes.
— A opinião dele, da qual eu, e muitos outros comigo, discordamos. Considere que as inscrições estão gravadas em rochas duríssimas, que têm resistido à ação dos séculos. Para se gravarem traços e figuras nestas rochas, foi preciso aos indígenas usar de outras pedras que o atrito ia gastando. Há inscrições que devem ter levado muitos meses para se completarem. Você acha, acaso, que isso é divertimento? A verdade é que elas eram feitas por uma seita especial de sacerdotes, ou “sábios”, que só faziam isso, com um fim determinado. Qualquer um percebe que há algo mais sério aí. Além disso, não se pode aceitar um dilema disparatado como esse: “de índios, ou de bandeirantes”. E por que não há referência alguma, nas histórias das bandeiras, a essas inscrições? Por que os bandeirantes que voltavam não falaram, jamais, dessa prática?
Eu começava a vacilar, mas, como para justificar a minha atitude da madrugada, teimei:
— Bem. Mas não e só Angyone. O Anibal Matos também acha que as nossas inscrições não têm significação alguma, a não ser quando indicam fontes, pouso de caça, grutas e outras coisas de utilidade imediata nos matos.
— Não é bem assim. Anibal Matos admite que as inscrições possam ter significado diferente e diz que algumas podem ser apenas isso que você referiu. Ele aceita as conclusões da pré-história no pé em que elas se apresentam porque, como Ladislau Neto, não quer se antecipar às descobertas que só explorações estafantes e bem orientadas, com estudos minuciosos, podem realizar. Quando a arqueologia for tomada a sério em nossa terra, e todos os pontos de prováveis jazidas pré-históricas forem investigados com a atenção que merecem — então saberemos coisas que agora nos parecem absurdas, mas que, à medida que forem surgindo, nos parecerão, então, perfeitamente normais. Além disso, note que as pedras gravadas com inscrições não se encontram só nas matas. Também se encontram nas praias, nos campos, nas margens dos rios. E outra coisa: os bandeirantes teriam a preocupação de indicar pontos de caçadas e de pouso mais especialmente lá pelos lados da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, esquecendo-se disso em outros lugares?
— Pois sim. Tudo isso é bonito. Mas a verdade é que muitos sábios se interessam pela pré-história brasileira e nada do que você diz ficou provado até agora.
— Muitos sábios? Ora essa! Diga “poucos”. E bem poucos, até! Peter Lund, por exemplo, interessou-se pela nossa pré-história e recolheu material de grande valor, imenso mesmo, para um só homem. Ele estabeleceu, por exemplo, a existência do “Homem Lagosantense” e levantou o véu de um passado muito mais remoto para o homem americano, do que ninguém ousaria esperar. Anibal Matos e seus continuadores descobriram o “Homem de Confins”, também de veneranda antiguidade. No Baixo Amazonas foi descoberta essa preciosa cerâmica marajoara, que é indício indiscutível de grandiosa civilização...
— Civilização que só produziu cerâmica?
— Você não gosta mesmo de usar o cérebro, Jeremias! Tudo tem que lhe ser explicado minuciosamente! Havia, ao longo do baixo Amazonas, até a sua imensa foz, uma grande civilização. Enchentes catastróficas do rio, ou outras coisas tão sérias quanto essa, destruíram tudo. Os que se salvaram do desastre não tinham, decerto, meios para reconstruir a civilização desaparecida, mas podiam reproduzir a arte da cerâmica, cuja matéria-prima não faltava. Considere que quando um povo começa a se preocupar com a arte, a beleza, o enfeite dos seus objetos de uso — já avançou muito em civilização material. Concorda comigo?
— Concordo. Mas, quanto às inscrições, nenhum sábio achou ainda relação entre elas e as passadas civilizações de que você fala.
— Claro. Não se encontrou a chave ainda. E nem se fez empenho em encontrá-la. Os sábios da Europa não nos dão ouvidos. Os especialistas na matéria não nos dão importância. Não querem examinar os elementos constantemente renovados que se apresentam para provar que o nosso continente é o mais antigo e que os amerígenas, os homens de raça vermelha da América, vêm da Era Terciária e são, portanto, os primeiros habitantes humanos do globo terrestre.
— Isso é pouco positivo. É matéria demasiado discutível. Não existem provas insofismáveis. O crânio de Neanderthal...
Salvio interrompeu-me bruscamente.
— Qual crânio de Neanderthal, qual nada! Você é que está impossível! Até ontem, não discutia coisa alguma. Aceitava o que eu lhe dizia e parecia disposto a ir ao fim do mundo! Agora, de repente, deu para duvidar até do que está entrando pelos olhos! Pois fique sabendo que, queira-o ou não o queira a ciência oficial, o “homo americanus” foi o mais antigo do globo, e que, por isso mesmo, pouco se está incomodando com as opiniões em contrário do sr. de Quatrefages, ou de quem quer que seja!
É fácil ver que Salvio ia se exaltando, e se eu opunha resistência era apenas para continuar coerente com o arroubamento daquela madrugada. Em verdade, acreditava no deslumbrante passado da América, e estava de acordo com o meu amigo. Ia ceder, portanto, quando me lembrei de levantar mais uma dúvida:
— Está bem, Salvio. Concordo. Mas responda a mais uma coisa só: os petróglifos brasileiros têm realmente um significado oculto?
— Não. Absolutamente, não têm.
— Não!?
— Claro que não. Têm significado “desconhecido” para nós. Mas quem os fez não teve a intenção de ocultar coisa alguma, muito ao contrário. Quando descobrirmos a chave, a nossa “pedra de Rosetta” — tudo ficará claro.
— E por que ainda não se descobriu a chave?
— Bem... É preciso notar que a escrita pré-histórica brasileira não se assemelha a nenhuma das outras já estudadas. Se tivesse semelhança, a sua significação não seria mais segredo.
— É claro.
— Isto é extremamente importante, e devia apaixonar todos os criptógrafos do mundo. Sabe a que conclusões já chegaram os que se dedicaram ao assunto? Que a escrita pré-histórica brasileira deve ser considerada a mãe de todas as outras escritas do mundo, porque todas estas apresentam certos caracteres quase-fixos da nossa...
— Claro. Continue.
— Entre as escritas mais antigas estudadas — os caracteres sabeanos, cretenses, megalíticos, etruscos, pré-históricos do Egito, berberes, sumerianos, bem como os antigos alfabetos gregos, fenícios, hebraicos e ibéricos — encontram-se inúmeros sinais, uns idênticos e outros semelhantes aos 75 caracteres pré-históricos do Brasil, referidos e estudados por Alfredo Brandão. Veja, agora, a conclusão lógica a que isto conduz: “Em todos os alfabetos e caracteres escritos do mundo antigo, embora não sendo eles iguais entre si, encontram-se muitos iguais aos caracteres pré-históricos brasileiros”.
— É assombroso! Positivamente assombroso!
— É a pura verdade, verificada. Aliás, o confronto não traz grandes dificuldades. Qualquer um o pode fazer. É evidente, pois, que a escrita-mãe, de onde todas as outras derivaram e que gerou todos os alfabetos do mundo — é aquela que foi usada pelos antigos habitantes da América do Sul, e cujos vestígios até hoje podem ser encontrados. Daqui saíam os grupos que, fixando-se em outros pontos da Terra, levavam consigo esse importante conhecimento que, depois, evoluía e se modificava segundo as necessidades e contingências peculiares a cada região. Alguns desses grupos, forçados por circunstâncias que não conhecemos, regrediriam e se tornaram selvagens, perdendo o conhecimento da escrita. Outros, defrontando condições favoráveis, progrediram, evoluíram, fundaram grandes civilizações, aperfeiçoaram o sistema de escrita até o transformarem na forma atualmente usada. No entanto...
— Chega! Chega! — interrompi. — Não fale mais! Esqueça a minha atitude desta manhã. Estou de acordo com você. Deixe ver o roteiro e...
— E o que, Jeremias?
— E partiremos amanhã, Salvio!
CAPÍTULO 4
QUINCAS CONTA UMA HISTÓRIA INTERESSANTE
No mapa, a gente corre o dedo e diz:
— Até aqui, vamos de trem. Depois, vamos de jardineira até ali. Em seguida, vamos a cavalo até...
Mas quando a gente entra numa segunda classe (não havia dinheiro para “luxos”) e se põe a rodar dia e noite sobre trilhos mal ajustados — então começa a encarar as coisas de maneira um tanto diversa.
Nas primeiras doze horas, inda passa. O entusiasmo é sempre maior que o cansaço. Admira-se a paisagem, conversa-se e tudo distrai. Depois, começa o inferno. O sacolejar do trem, que a princípio não se notava, martiriza os ossos. A trepidação, ininterrupta, abala os nervos. A poeira irrita os olhos e a garganta. A imundície, que se acumula por todos os cantos, e a fedentina enojam. A economia não deixou espaços entre os bancos, para se estender as pernas. A madeira é rude como o diabo, e vai esfolando a espinha. Um verdadeiro inferno. E a gente, de todo o coração, concorda com Monteiro Lobato: “O único melhoramento que falta nas estradas de ferro nacionais é canalizar a fumaça da locomotiva para dentro dos carros de segunda classe.” Aí, ficaria o conforto atingido, de acordo com a idéia que dele fazem os dirigentes das estradas com relação aos passageiros que não têm meios para viajar de primeira.
Depois de infinitas horas de suplício, chegamos a Anápolis, no Estado de Goiás, uma cidade sem conforto. Pelo que nos disseram, Goiânia, que não é longe, está ficando uma beleza de cidade, moderna, e com todos os melhoramentos.
Levávamos de São Paulo uma recomendação para o Quincas, que logo encontramos. Era um rapaz moreno, curtido pelo ar livre, homem de poucas palavras e de poucas carnes — todo músculos. A nossa conversa com ele não teve dificuldades.
— Pois é, seu Quincas. Disseram-nos que você conhece tudo por aí a fora, os matos, os rios, o sertão...
— É... a gente conhece. Nasci em Palma, e a minha vida tem sido sempre andar por aí.
— Quererá ir conosco?
— Quero, como não?
— Mas se você nem sabe para onde vamos, nem o que vamos fazer...
— Não m’importa. Já estou parado aqui há seis meses. Preciso andar um pouco, para desenferrujar, e o que vão fazer, isso é com os senhores.
— Você já tem guiado exploradores?
— Várias vezes.
— E quanto costuma ganhar?
— Conforme. Qual vai ser o serviço? Diamantes, ou ouro?
— Nem diamantes, nem ouro.
Quincas olhou-nos com ar sabido, sorridente.
— Todos dizem o mesmo. Depois, passamos dias e dias revirando areia, lavando cascalho, enterrados na lama até à cintura.
— Você não precisa acreditar em nós — disse eu. — Mas a verdade é essa. É claro, porém, que se apresentar uma boa oportunidade, não deixaremos de tentar a sorte para aumentar a nossa fortuna...
— Que é pequena demais — completou Salvio. — Não poderemos desprezar oportunidade alguma. Mas garantimos que nossa intenção não é essa.
Devia haver em nossos rostos algum elemento de franqueza evidente que faltava às palavras.
Quincas abriu o rosto num sorriso franco e apertou-nos as mãos, dizendo:
— Gosto assim. Não me agradam esses estrangeiros que vivem atrás de ouro e diamantes e que até parecem ficar loucos. Todos os anos surgem alguns por aqui e pagam muito bem. Tive viagens de ganhar cinco contos limpinhos.
— Não lhe poderemos pagar isso, Quincas.
— Já percebi. Não faz mal.
— Poderemos, quando muito, pagar-lhe, pelo fim da viagem, uns dois mil cruzeiros. Mas se encontrarmos ouro, ou pedras preciosas, você terá a metade de tudo.
— Combinado. Que vamos fazer?
Consultei Salvio com o olhar.
— Não sei se você vai compreender — disse ele.
— Mas temos obrigação de ser sinceros com você —. continuei. — Embora não acredite em nós, diremos a verdade. Vamos ao centro do Brasil, procurar os restos de uma antiga civilização.
A expressão de Quincas modificou-se de tal modo que Salvio indagou:
— Que há? Parece que você se assustou, Quincas...
— Não. Não me assustei, não. Podem contar comigo.
— Mas há qualquer coisa...
— Bem... É que já passou por aqui um moço que partiu para o sertão com o mesmo fim.
Salvio sobressaltou-se. Sua careca empalideceu.
— Um moço? Quando? Quem era ele? E que conseguiu?
— Chamava-se Leandro, e falava mal a nossa língua. Usava óculos escuros, capacete branco e umas roupas complicadas. Quando via pedras com riscos ficava alucinado. Acho que era louco, mas, meu pai...
Salvio interrompeu-o de maneira violenta, como jamais o vi fazer. Agarrou os ombros de Quincas e perguntou, olhando-o firmemente nos olhos:
— Que fim levou esse moço, Quincas? Quando foi isso?
— Vai fazer dez anos. Eu tinha 15 e acompanhei a expedição. Meu pai era o guia. Ele sim, conhecia tudo, todo esse mundo de Deus! Mas ele e Leandro sumiram. Nunca mais voltaram!
Aquele esboço da história de Quincas nos deixou fascinados. Pedimos que continuasse. A noite estava quente, mas começava a soprar uma brisa agradável. Nós estávamos sentados sob o alpendre do bar — um puxado coberto de folhas de palmeira, e bebíamos uma espécie de cerveja de fabricação local, nada desagradável. Vinte metros além começava a mata, cerrada, misteriosa, sombria — e dela chegavam até nós cricris, pios, guinchos e coaxos estranhos. Quincas, com sua camisa de meia através de cujos rasgões se via a pele bronzeada desenhando músculos possantes — era uma figura bem colocada no cenário semi-selvagem. Salvio, a careca brilhando à luz do lampião de querosene, era a figura da impaciência. Ele teimara em vir sem chapéu, apesar de tudo o que lhe falei sobre insolações e cefaléias. Pensei até que esperava conseguir, com o crânio assim exposto ao tempo, uma nova produção de cabelos. Já eu, não. A longa exposição da cabeça ao sol dava-me horríveis dores, e, por isso, viera munido de um “colonial” de palha, fresco e leve.
— Não sei como explicar — continuou Quincas enquanto eu pensava na careca de Salvio. — Eu andava pelos 15 anos. Meu pai era homem seco, duro como cerne de palmeira. Para ele não havia dificuldades nem perigos. Construía uma canoa sozinho; varava sertão durante um mês inteiro, sem parar. Era um homem! Morávamos em Palma, onde tínhamos um sítio. O sr. Leandro apareceu por lá no começo da estação das águas. Vinha de Cavalcanti à procura de meu pai. Nós tínhamos uma mata de castanheiras, e beneficiávamos a castanha no engenho que construíramos. Naquele tempo, vendia-se o óleo muito bem, e a nossa vida era folgada. Meu pai não precisava se meter em explorações... Mas que querem? Ele era assim! Trocava tudo por uma viagem nas matas virgens! — Quincas interrompeu-se, com os olhos perdidos na escuridão da mata próxima. Emborcou um copo de cerveja, limpou os lábios com o pulso e as costas da mão, e continuou: — Leandro apareceu e disse uma porção de coisas, como isso que os senhores disseram: que ia procurar uma cidade não sei onde, um templo... Parece que falou em Manôa, ou não sei que... Pois isso entusiasmou meu pai de tal maneira que ele não quis saber de mais nada. Lembro-me de que, quando consegui que meu pai prometesse que me levaria, também fiquei louco de contente. Eu era como ele, doido pelo mato, e até agora sou assim. Minha mãe sempre dizia que nunca vira um filho tão parecido com o pai: “os dois malucos”... Coitada! Quando partimos, meu pai deixou o irmão dele tomando conta de minha mãe, do sítio e da fábrica de óleo... e esse canalha nos roubou. Ficou com tudo! Infelizmente, ele foi pr’a Bahia...
Depois de emborcar outro copo de cerveja, com olhar sombrio, Quincas continuou:
— Leandro esteve em nossa casa durante um mês. Ele e meu pai ficaram tão amigos como se fossem parentes. Comprou três grandes canoas, ajustou cinco “cabras” escolhidos, e partimos: Ele, meu pai, eu e os cinco “cabras”. Descemos o Tocantins. Numa parada que fizemos, uns oitenta quilômetros para baixo da embocadura do rio Arinos, Leandro quase ficou louco. Ali, no córgo da Pedra Riscada, existe uma laje com sinais. Durante três dias Leandro andou em volta da pedra, olhando, falando sozinho. Depois, resolveu abandonar o rio. Um camarada ficou tomando conta das canoas, com ordem de voltar a Palma se não aparecêssemos dentro de três meses. Seguíamos, então, por terra. Eh mundão! Barbaridade! Era andar, andar toda vida! Levamos mais de um mês para chegar ao rio Araguaia, em frente à ilha do Bananal.
Arranjamos duas canoas de índios e descemos o rio, guiados por um xambió que fizera camaradagem conosco. Chegando ao fim da ilha, desembarcamos na outra margem e entramos a caminhar pela vertente entre as serras do Roncador e dos Gradaús. Varamos mato durante três meses, até chegar ao rio Xingu. No dia seguinte, Leandro, meu pai e Ernesto, um dos camaradas, seguiram sozinhos, para atravessar o rio e continuar para diante. Eu e os outros camaradas ficamos ali, para esperar a volta deles. Não lhes digo nada!... Naquela zona há índios caiapós, jurunas e suiás. Até mesmo os tapirapés costumam descer até ali. Muitas e muitas vezes tivemos que nos esconder deles. Sofremos dois ataques, e Mano, um dos meus companheiros, ficou gravemente ferido com uma flechada. Estivemos nessa agonia dois meses. No fim desse prazo, resolvemos ir procurar os três que tinham partido e chegamos até ao rio Iriri, em cuja margem encontramos sinais de acampamento que só poderia ter sido feito por eles. Mas fomos atacados por um bando de índios ferozes, nus e com o corpo todo pintado. Creio que eram mundurucus. Tivemos que voltar.
— E eles?
— Nunca mais deram notícias.
Calado, de sobrecenho carregado e olhar perdido nas tristes lembranças longínquas, Quincas emborcou dois copos de cerveja.
Eu e Salvio estávamos espantados com aquela história, que nos dava indícios muito seguros do que iríamos passar, mas que também nos dizia que estávamos no bom caminho.
— Você chegou até ao Iriri? — perguntei.
— Cheguei.
— Não há de ser fácil, hein?
— É uma viagem terrível! Precisa muita coragem.
— Que aspecto tem a margem de lá? — perguntou Salvio.
— É uma morraria que não acaba mais.
Os olhos de Salvio tiveram um lampejo na escuridão e seus lábios mal se entreabriram quando ele disse:
— É isso. Temos que chegar aí.
Quincas olhou-o de lado, e seus olhos negros se animaram.
— É aí que desejam ir? — perguntou.
— Mais para diante ainda, Quincas. Mais para diante...
— Até onde?
— Não sabemos. Você não está animado?
Quincas pôs-se em pé. Seus músculos apareciam, túrgidos, sob os buracos da camiseta. Havia uma certa nobreza em seu porte.
— Quando querem partir?
— Logo que for possível. E queríamos que você se encarregasse de tudo.
— Não tenham cuidado.
— De quantos camaradas precisaremos?
— Quatro ou cinco mateiros decididos, bem escolhidos, serão suficientes. Será preciso deixar provisões em abundância e algum dinheiro com as famílias deles.
— Sem dúvida. Temos cinco mil cruzeiros, Quincas. Veja o que se pode fazer com isso.
— Não vai chegar. Mas falem com o coronel Marcondes, e expliquem do que se trata. Ele é louco por essas coisas. E, a propósito... ele tem uns objetos que decerto interessarão aos senhores.
— Que objetos são?
— Não sei bem. É um vaso e outros “trecos”.
— Amanhã procuraremos o coronel. E vamos deixar tudo nas suas mãos, porque, na verdade, não entendemos disto. Queremos que você trate de tudo, como se fosse o chefe.
— Podem ficar sossegados. Dentro de uma semana estará tudo pronto.
Quincas apertou-nos as mãos e saiu. Nós ficamos ainda sob o alpendre, tomando mais uns goles de cerveja, conversando e ouvindo os misteriosos ruídos noturnos da mata próxima. Quando pelas onze horas nos recolhemos ao quartinho de madeira que alugáramos ali mesmo no botequim, ninguém mais estava acordado em Anápolis.
CAPÍTULO 5
A PLACA DE BARRO E O “MUIRAKITÔ
O coronel Marcondes foi mais útil e gentil do que esperávamos. Quando lhe expusemos os nossos projetos, entusiasmou-se tanto que nos sentimos na obrigação de o convidar para ir conosco.
— Infelizmente não me é possível. Tenho que fazer outras viagens. Mas é uma das coisas de que mais gostaria. Não queria morrer sem ver com os meus olhos alguns restos das antigas civilizações de nossa terra. Mas um dia! Ah... Porque, como vocês, eu acredito que houve no Brasil uma civilização para sempre perdida! Conheço mais ou menos o assunto e creio que um dia se há de fazer justiça à nossa terra, reconhecendo que daqui partiram os civilizadores do mundo....
— É o que pensamos também, coronel. E por isso é que resolvemos mergulhar nesse sertão.
— Fazem bem. É um trabalho útil à pátria e próprio para a mocidade. Já sabem que tenho umas coisas curiosas?
O coronel levou-nos a um quartinho, rigorosamente trancado, como se guardasse um tesouro. E não seria realmente um tesouro?
A primeira peça que nos mostrou era um vaso antropomorfo, cerâmica delicada, trabalhada com evidente gosto artístico.
Do seu formato geral de ânfora, destacava-se a figura humana estilizada que lembrava, remotamente, a escultura egípcia clássica. Mas os traços do rosto denunciavam o tipo mongolóide: face larga, maçãs do rosto salientes, olhos bem separados. O coronel explicou que o vaso lhe fora trazido por um homem vindo das margens do Araguaia. Mas, infelizmente, ele chegara horrivelmente mutilado, sem língua, e sem orelhas. O vaso estava partido em cinco pedaços e o coronel o reconstituíra.
Não sei porque, não acreditei muito na história do viajante mutilado, e soube, depois, que Salvio também não lhe dera crédito. Decerto, o velho coronel tinha motivos para ocultar a verdadeira origem do vaso, e nós não íamos indagar que motivos eram esses.
Havia na caixa de ferro vários outros objetos curiosos. Um era um pedaço de cachimbo de barro cozido que tivera, sem dúvida, a forma de homem de grande cabeça e corpo caricaturalmente pequeno. A cabeça, escavada por dentro, era o fornilho e estava requeimada, o que indicava uso. A figura estava de joelhos e entre os pés juntos situava-se o furo onde se introduzia o canudo. Os olhos da figura eram estranhamente saltados, enormes, em desproporção com o rosto. Fazia lembrar certas esculturas incaicas. Havia, ainda, uma dessas figurinhas de barro que nos museus aparecem como “bonecas dos índios”. Salvio, que já estudara o assunto, afirmou que não eram absolutamente bonecas, mas sim ídolos, remanescentes de cultos que se perderam na noite dos tempos.
— É preciso notar — explicou ele — que estas figuras, tenham a origem que tiverem, obedecem sempre à mesma forma e têm todas quase o mesmo tamanho. Não há “bonecas” sem pernas, e não é de se crer que todos os índios, de todas as latitudes, fizessem, para seus filhos, “bonecas” de barro, todas iguais e tão pequenas.
Entre todos, porém, o objeto que mais impressionou Salvio foi uma grande placa de barro cozido, moldada em forma de bandeja em cruz. O centro da cruz era liso e bem no meio via-se um cubo, talvez altar, com a letra “S” perto. Nos quatro braços, arredondados, eram evidentes degraus de arquibancadas. A um canto havia uma porta de entrada, à qual se chegava por escadaria. Procuramos reproduzir, em desenho, essa curiosa peça, para que o leitor possa formar melhor idéia dela.
Salvio, que estudou essa placa durante muitas horas, disse que era, simplesmente, a reprodução de um templo, ou local de adoração do Sol. No altar do centro ficava o sacerdote, e nas arquibancadas, o povo. E declarou, afinal, que a placa tinha grande importância para os nossos trabalhos — o que o futuro demonstrou ser certo.
Havia, ainda, alguns pequenos objetos que Salvio apenas olhou, considerando-os sem valor. O coronel, porém, apanhou entre os dedos uma nefrite, o “muirakitã” dos amazonenses, e exibiu-a ao meu amigo, com olhar interrogador.
— Lindo — disse Salvio. — Um “muirakitã”...
— Examine-o bem.
Era, realmente, uma peça maravilhosa. A linda pedra verde estava talhada em forma de homem nu “de pé, com os braços erguidos” — o que figurava a célebre “runa” que significava riqueza e poder. Quando Salvio percebeu isso, ficou impressionado, e nem sabia o que dizer. Olhava espantado para o coronel que, agora, assumia, a seus olhos, importância muito maior do que se esperaria.
— Leve-a — disse o coronel. — Leve-a, não a perca, que lhe será muito útil. Posso lhe repetir a célebre frase: “In hoc signo vinces”.
Salvio estremeceu, e, apanhando o cordão de prata que o coronel lhe estendia, passou-o pelo buraco que havia na pedra, pendurando-a em seguida ao pescoço.
— Não sei como lhe agradecer, coronel. O senhor foi providencial. Agora, tenho certeza de que atingiremos o nosso fim. Na volta lhe devolveremos o “muirakitã”.
O coronel sorriu misteriosamente. E nós não compreendemos o seu sorriso. Mas o certo é que nunca mais passaríamos por Anápolis, tendo voltado por outro caminho, e o coronel morreu no mês passado, sem tornar a ver a sua pedra verde, que Salvio traz consigo até hoje.
O coronel foi um tesouro para nós. Sem ele, jamais teríamos realizado a temerosa aventura. Patrocinou-nos a viagem, providenciando tudo o que precisávamos. Entregou-nos dez mil cruzeiros; deu-nos seis mulas arreadas; e ofereceu-nos conselhos de inestimável valor.
À noite, no alpendre do botequim, diante das cervejas, comentávamos com espanto a atitude daquele velho respeitável e Salvio disse, antes de nos retirarmos para dormir:
— É melhor não falar. Nem podemos fazer idéia de quem seja esse homem, mas garanto que não é absolutamente o que parece.
— Que quer dizer, Salvio? Eu também o achei misterioso.
— Só lhe digo isto: o bom êxito de nossa viagem está absolutamente seguro.
— Por que pensa assim?
— Nem eu sei. Mas, ou é verdade, ou estou redondamente enganado. E creio que não me engano. Não se esqueça: “Com este sinal, vencerás”!
* * *
Numa quinta-feira de madrugada, bem antes de nascer o sol, as seis mulas, carregadas, estavam alinhadas no terreiro, diante do botequim. Perto delas, via-se o coronel Marcondes, sorridente e amigo. Quincas contratara dois homens apenas, “que valiam por dez cada um”, dizia ele. Eram sertanejos magros, fortes, requeimados, cobertos com largos chapeirões de palha. Usavam calças e paletós de brim sobre camisas rasgadas e cada um tinha uma garrucha e um facão à cintura. Estavam descalços. Não infundiam muita confiança quanto à valentia, mas Quincas respondia por eles e era o bastante. O mais alto atendia por Lalau, e o outro chamava-se Tobias. Os petrechos que carregavam as mulas tinham sido reduzidos por Quincas, com raro tino, ao mínimo indispensável, e uma delas, que não levaria carga humana, trazia os volumes mais pesados.
Quando o sol começou a dourar o cume de Santa Rita, muito cedo ainda, abraçamos o coronel e nos pusemos a caminho na seguinte ordem: Quincas, Salvio, eu, Lalau e Tobias, que puxava a sexta mula pela corda.
Partíamos para Formosa, primeira etapa de nossa viagem pelo interior de Goiás, rumo à incrível aventura. E de longe ouvíamos ainda os augúrios de boa viagem que nos fazia o coronel Marcondes.
CAPÍTULO 6
A MENSAGEM DE FERRO
Depos de algumas horas de marcha sob o sol, paramos à sombra de frondosas árvores, à beira de um regato, para preparar o almoço e descansar um pouco.
E, enquanto Salvio dormia calmamente, a luzidia careca exposta ao ar, Quincas e eu mantivemos longa palestra. Quincas, apesar de rústico e sem cultura, possuía espírito lúcido e, habilidosamente, me levou a contar como havíamos resolvido fazer tal viagem.
— Por acaso. A última coisa que eu esperava em minha vida era vir meter-me nestes sertões. Salvio, tampouco, jamais pensou nisso. Ele sabia que existe, no interior do Brasil, qualquer coisa que se prende às antigas civilizações, mas eu nem sequer suspeitava disso. No entanto, é a mim que se deve a realização da viagem, ou melhor, deve-se a um tio meu, chamado Adolfo, que morreu na Venezuela há mais de um ano...
— Já sei. Seu tio deixou documentos e mapas...
— Não. Deixou-me uma arca, e, dentro dela, estava guardado um trabalho em ferro batido, pedaço de grade que não sei onde ele arranjou. Decerto foi lá pelas Guianas. Quando Salvio viu a grade de ferro, ficou como louco.
— Por quê? Que é que havia na grade?
— Para mim não havia senão desenhos de ferro, como os de todas as outras grades. Mas para Salvio havia uma significação de extraordinária importância. Basta dizer que ele passou uma noite inteira, até às nove horas da manhã seguinte, em minha casa, examinando a grade e fazendo cuidadoso desenho dela. Eu estava até ficando com medo. Quando ele me falava naquelas coisas eu sentia que meu espírito vacilava e que sombras se estendiam sobre os meus sentidos.
Quando entramos no quarto dele, com o desenho no bolso, estávamos naquele estado de espírito que muito se assemelha ao cansaço, e evitámos falar no assunto que nos trazia juntos. Falávamos de coisas diferentes. Eu é que, reatando os raciocínios a que me vinha entregando depois do curso de paleogeografia que Salvio fizera na noite anterior, comecei:
— Pensei muito, Salvio. Estou convencido de que o nosso continente foi o berço da humanidade e da civilização. Realmente, se o homem apareceu neste continente durante o período mioceno — que foi o primeiro da Era Terciária — durante os milhões de anos que decorreram até a Era Quaternária deve ter progredido constantemente. E nessa época pôde emigrar, surgindo em outros pontos do globo e dando origem às aglomerações humanas que mais tarde formariam as sociedades africanas e asiáticas.
É o que tenho dito — apoiou Salvio.
— É evidente. O homem não poderia ter ficado estacionário durante milhares de anos para progredir de um salto mais tarde. Uma coisa, no entanto, não compreendo. Como é que os nossos antepassados americanos regrediram até chegar ao estado em que se encontravam na época do descobrimento?
— Pode ser que depois de ter atingido o auge, a civilização sul-americana tivesse decaído, até ao desaparecimento, enquanto, em outros pontos, florescia a civilização dos atlantes que, por sua vez, decaiu, dando lugar à dos egípcios e à dos maias, aztecas e incas...
— Sim. Pode ser.
— Pode ser, também, que partindo daqui, devido a causas que ignoramos, os homens tenham se passado a outro continente, deixando pequenos grupos inferiores, incapazes de continuar a civilização. E pode ser ainda que grupos saídos desta parte se localizassem em outros pontos deste mesmo continente, sem se preocupar com nenhuma espécie de progresso e, tornados selvagens, voltassem, muitos anos depois, a atacar os que tinham ficado entregues à sua pacífica tarefa de progresso.
— Sim. Podem-se formar inúmeras hipóteses.
— Quer ver uma coisa? O idioma tupi-guarani deve ter sido perfeito, pois que, apesar de longa decadência que naturalmente o veio mutilando durante séculos, é ainda hoje uma língua falada não apenas por sábios e estudiosos como sucede com o grego e o latim, mas corretamente por muitos milhares, talvez milhões de pessoas no Paraguai, na Bolívia e nas fronteiras do Brasil. Só uma língua com grandes recursos e capacidade de resistência poderia permanecer, como essa, através do tempo, apesar da infiltração dominante das línguas castelhana, portuguesa e inglesa.
— Tem razão. Só um grande povo poderia ter manejado e aperfeiçoado uma língua assim. Mas tenho ainda uma dúvida: por que é que, em todas as regiões onde florescem grandes civilizações, sempre se encontram vestígios e aqui isso não acontece?
— Já falamos disso. Primeiro, podemos imaginar que a civilização que floresceu aqui foi muito anterior às mais antigas de que temos conhecimento na Ásia e na África. Segundo, há engano de sua parte, como também já falamos. Os vestígios abundam por todos os lados, e de tão antigos se confundem com os acidentes naturais. Mas o principal é o seguinte: o nosso povo não tem educação suficiente para se interessar peio assunto e para avaliar qualquer encontro fortuito. Um lavrador que em qualquer canto da Europa encontre um pedaço de louça de forma estranha sabe logo a quem se dirigir, sabe que convém guardá-lo para comunicar o fato a alguma instituição científica. Se for o caso, logo depois se fazem escavações no local. Mas, aqui... ninguém se incomoda com essas ninharias... e nem mesmo com coisas mais importantes.
— A propósito, lembro-me de ter visto, há alguns meses, numa casa da Praça do Patriarca, exposição de peças arquitetônicas, ou coisa parecida, antigas, encontradas numa escavação no interior de São Paulo. Que fim levou aquilo?
— Não sei. Mas, fosse ou não coisa importante, decerto está esquecido. Entre nós o normal é não fazer caso. Sabe o que é? Sofremos de “doutoria” aguda. Aqui todo mundo é autoridade, todos sabem demais e são superiores. Se algum trabalhador encontrar no campo uma preciosidade arqueológica, em 99 por cento dos casos meterá a enxada e destruirá tudo. Mas, se por espírito curioso resolver conservar o achado, consultará o primeiro “doutor” que encontrar — o delegado, o prefeito ou qualquer outro. Este, por sua vez, sentado sobre a Sabedoria, dará uma olhada, fará um trejeito, e exclamará: “Bobagem! Isso é uma pedra comum. Os efeitos da erosão nas pedras friáveis são caprichosos! Os veios arenosos desagregando-se produzem pedaços assim às vezes com a forma de cachimbo. Puro acaso. Isso é bobagem sem valor.” Ou então, dizem: “Ora... isso é um pedaço de vaso de barro que caiu por aí...” E assim se lavram as sentenças! Suponha que o lugar onde se fez um achado daqueles é rico em peças arqueológicas... estará tudo perdido, porque o “doutor” já explicou que é bobagem!
— E as grandes construções?
— É a mesma coisa. As que se encontram são logo identificadas como “caprichos na natureza”. Além disso, a parte mais interessante do Brasil está ainda coberta de matas, e despovoada. Há banhados intermináveis, matas virgens, serras imensas inexploradas, que podem guardar surpresas. O fato é que não se procedeu a nenhuma exploração sistemática em nossa terra, afora as pesquisas de Peter Lund e Anibal Matos, nas cavernas do Rio das Velhas em Minas Gerais. E devemos salientar que estas únicas deram grandes e proveitosos resultados. O melhor, porém, está por fazer. Não nos esqueçamos de que na Índia os templos dos misteriosos cultos antigos são todos escavados no interior de montanhas. O mesmo se dá na África e em vários pontos do Egito.
— Você quer dizer que aqui na América do Sul...
— É uma simples hipótese, bem entendido. Mas, falando seriamente, acredito que nesses imensos sertões do Brasil deve haver templos dessa espécie, que qualquer dia serão descobertos.
— Por nós?
— Nós descobriremos um, pelo menos.
— Como é que o pode afirmar?
— Por esta mensagem de ferro.
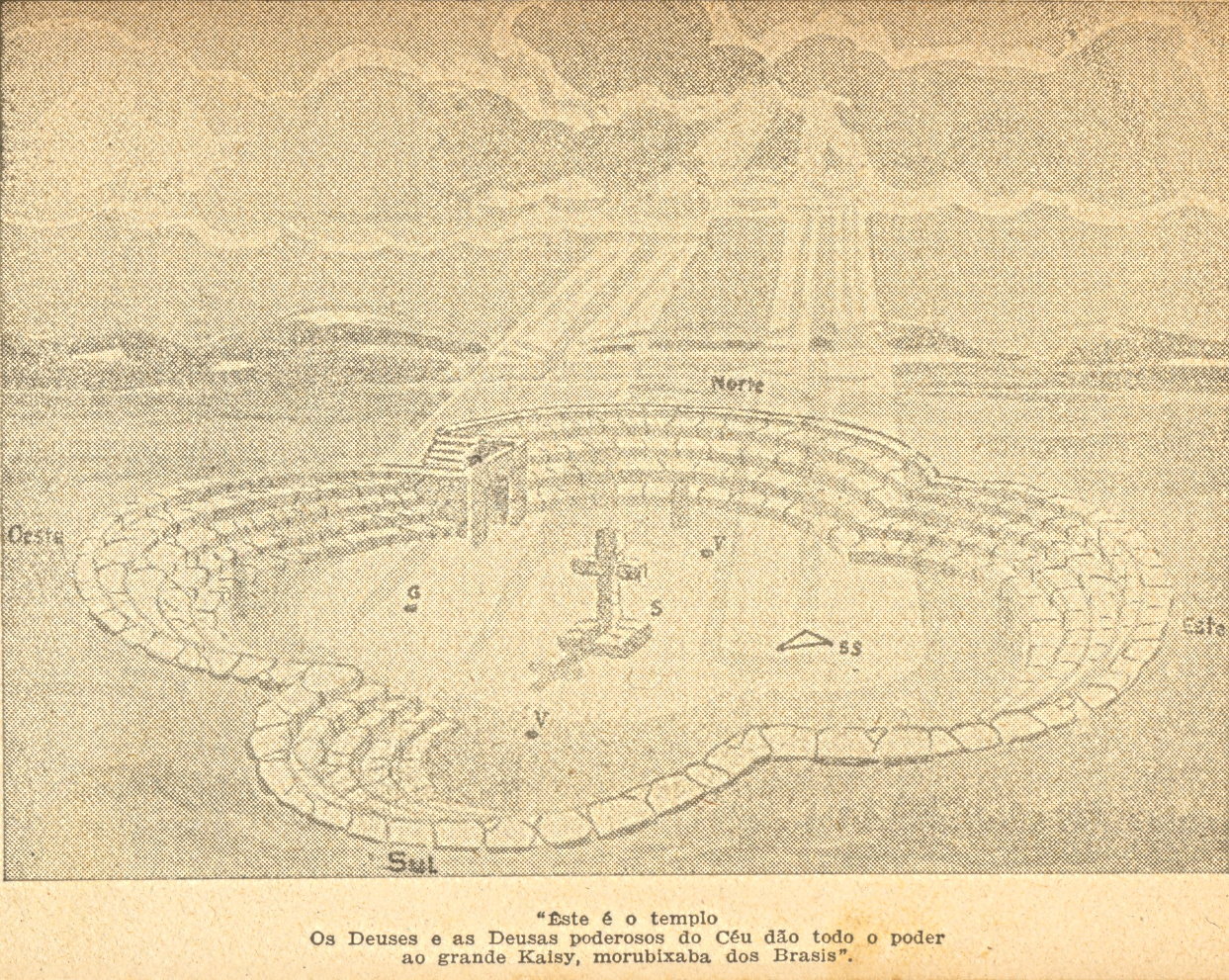
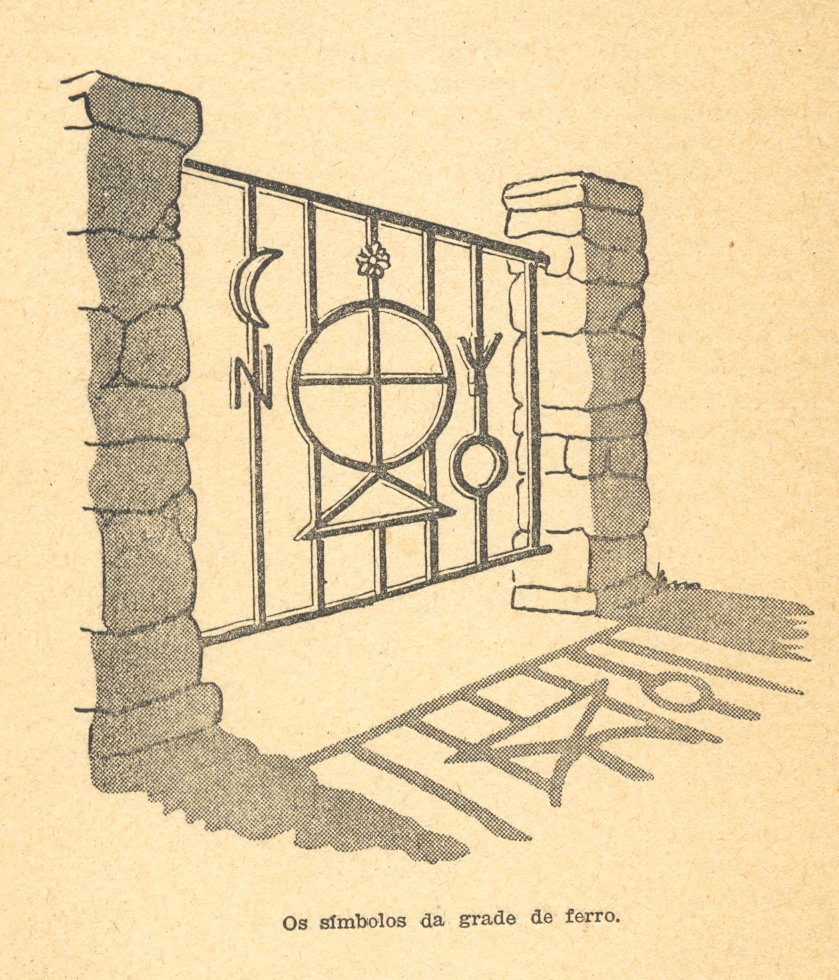
CAPÍTULO 7
DECIFRAÇÃO DA MENSAGEM DE FERRO
— Mas estou aborrecendo você com esta história toda, Quincas.
— Nada disso! Estou gostando muito! O senhor nem imagina como é interessante!
— Pois não parece. Isto é; eu gosto. Por mim, falaria nisso o dia todo, mas, para os outros... a gente nunca sabe.
— Ora... Eu acho lindo. Continue. Que é que dizia aquele pedaço de grade? Estou querendo saber.
— Como eu já disse, Salvio tinha estudado profundamente aqueles ferros velhos, e, quando estendemos o desenho sobre a mesa, comecei a sentir uma certa inibição, prevendo que alguma coisa de muito estranho me ia ser revelado. Haveria, em verdade, isso a que se chama “Ciência Oculta”? Haveria, em verdade, uma seita científico-religiosa cujos membros, através dos tempos, desprezando o padrão comum de vida, desprezando os apetites e prazeres vulgares, se haviam dedicado ao estudo das misteriosas forças que residem dentro e em redor de nós para chegarem a resultados positivos que a ciência exotérica teima em ignorar e que haviam criado símbolos para se exprimir de tal modo que só os iniciados, em qualquer tempo, os possam entender? Meu espírito, pouco afeito a lidar com mistérios e coisas sobrenaturais, resistia em admitir tal tese. Mas, por outro lado, parecia haver, lá bem no fundo do meu ser, uma tendência, um impulso que me convidava a abrir os braços para estreitar esse conhecimento, esse contacto estranho que tão vagamente se anunciava. Nestes assuntos, não se trata de compreender ou não compreender. Trata-se, sim, de crer ou não crer, e eu não saberia dizer honestamente se acreditava ou não, mas, examinando-me, julgava-me mais propenso a admitir do que a repudiar.
O desenho estava sobre a mesa. Salvio o havia refeito; não era mais aquela primeira cópia em papel comum, mas um cuidadoso desenho a nanquim, feito em ótimo papel de linho, pelo qual eu podia acompanhar perfeitamente as explicações.
Aquelas linhas negras tomavam corpo diante dos meus olhos. Pareciam animar-se na estranheza, na desusada composição geométrica. Agora, aquilo ia adquirir vida, ia falar, através das palavras do meu amigo. Olhei para ele. Passeava de um lado para outro, de cabeça baixa, olhos pregados no chão, pensativo, a calva violácea reluzindo à luz da lâmpada. De repente, parou. Fixou em mim seus olhos castanhos e falou:
— Comecemos pela cruz que está dentro do grande círculo. O traço vertical da cruz, segundo a tradição da kabala hebraica, como de todas as cosmogonias, significa o “língan sagrado”, símbolo eterno do fogo e da origem solar, o próprio sol, que é considerado a energia inicial e criadora. O traço horizontal significa o “cteis”, a própria vida manifestada. Assim, a cruz é o templo do Deus-Sol. Como vê, ela está inscrita dentro de um grande círculo.
— E que quer dizer o círculo?
— É o equivalente gráfico do Absoluto — o que não tem princípio nem fim.
— E o triângulo?
Salvio deteve-se um momento a pensar. Depois, debruçou-se sobre o desenho, como se quisesse palpá-lo com os olhos.
— Esse triângulo é quase desnorteante, porque, representando a divindade nos ritos maçônicos, é, também, a forma consagrada dos altares da magia...
— Espero entender isso mais tarde, Salvio. E a flor?
— A flor é o “lótus de mil pétalas” e assim colocado no topo da cruz torna ainda mais difícil a interpretação geral do símbolo, uma vez que ela significa “o perfeito iniciado”, o alto sacerdote. Talvez signifique que a penetração total do segredo esteja reservada unicamente ao mais perfeito conhecedor dos sagrados mistérios.
— Entendo. Continue.
— Observe, agora, estas duas runas, uma à direita e outra à esquerda do grande círculo. A primeira representa o “homem de pé com os braços erguidos”, e a outra representa o “homem sentado”. — E Salvio exemplificou, primeiro erguendo os braços, depois acocorando-se — o que reproduzia, realmente, os dois pequenos desenhos. Depois, continuou:
— O “homem de pé com os braços erguidos” significa riqueza e poder; o “homem sentado” significa paz e tranqüilidade. Observe, agora, que elas estão colocadas na direção leste-oeste, ou seja, na direção em que flui a corrente das forças cósmicas, e a própria trajetoria do sol. Não se esqueça disto, que será importante.
— Não me esquecerei. Continue.
— Veja agora: a lua, assim localizada no canto superior esquerdo, está em oposição ao sol, que se encontra no canto inferior direito. Se tomarmos o grande círculo como o globo terrestre, veremos que sol e lua simbolizam uma posição astrológica perfeita: o equinócio de outono. Não se esqueça disto, também. O mais importante, porém, é estar o símbolo inscrito sobre uma “pedra”.
— Que pedra?
— Chamamos “pedra” a esse friso quadrangular que envolve todo o símbolo. É preciso desbastá-la até chegar à verdade.
— Ah... agora compreendo. Continue.
— Creio que você se recorda de nossas conversas anteriores. Falamos que teria havido, na América do Sul, uma civilização muitas vezes milenar, e concluímos, por força dos testemunhos acumulados, que essa civilização não é mera fantasia, mas existiu realmente. Pois bem. Se existiu, como temos que admitir, teve por base uma religião, como, aliás, todas as civilizações — e essa religião só poderia ter sido o Culto do Sol, porque o Sol foi a primeira e máxima divindade para todos os povos. Foi o primeiro Poder, o mais real e sensível, e por isso, o que primeiro logrou os agradecimentos e a adoração do homem. Chegados a este ponto, temos que reconhecer um fato centenas de vezes comprovado pelos arqueólogos e historiadores da antiguidade: Quase todos os templos dedicados ao Deus-Sol eram subterrâneos.
— E, assim sendo...
— Assim sendo, podemos dar mais um passo na interpretação do nosso símbolo: o Templo do Sol representado pela cruz dentro do círculo está num morro, aqui representado pelo triângulo, que é, também, a forma consagrada dos altares da magia. Agora tudo se torna mais claro, não é?
— É o que espero. Vejamos.
— Se no Brasil existe, ou existiu, um templo onde se adorou o Deus-Sol, é fora de dúvida que se localiza no interior de uma montanha e que, para o encontrar, teremos que seguir as claras indicações do símbolo.
— Chegou o momento solene, Salvio!
— Por que?
— Porque agora é que não entendo mais nada. Você disse que está tudo claro, mas a minha impressão é que fizemos uma baralhada inextricável.
— Não há perigo. A ponta da meada está na nossa mão. Siga as minhas palavras: O equinócio do outono, aqui indicado pelas posições relativas do sol e da lua, deve se dar no ponto central do círculo, na intersecção dos dois braços da cruz. Encontraremos esse ponto seguindo a própria trajetória do sol indicada pelas runas, isto é, leste-oeste.
— Não entendo. Equinócio do outono, direção das runas, trajetória do sol, ponto central do círculo... tudo isso é muito impreciso. O que desejamos é um ponto visível, tangível, colocado nalgum lugar sobre a superfície da terra. Como o encontraremos?
— Seguindo as indicações do símbolo; fazendo cálculos astrológicos e astronômicos, localizaremos geograficamente o ponto que nos interessa.
— Bem. Isso é com você. Fale mais sobre a tal “pedra”. Tropecei nela.
— Ela é muito importante, porque será o nosso ponto de referência. Todas as mensagens que nos foram legadas pelas tradições ocultas, são metódicas. Se os símbolos explicativos que estudamos estão inscritos na pedra, quer dizer que ela é o nosso marco, o ponto inicial e final das pesquisas.
— Estou começando a entender. Continue.
— Estamos avançando seriamente, Jeremias. Não só apreendemos o sentido oculto do símbolo, como chegamos quase à solução. E digo mais...
— Um momento — interrompi. — Você está falando com tal entusiasmo que parece já ter encontrado uma barrica cheia de ouro e pedrarias, como nos bons tempos em que se encontravam tesouros de piratas.
— Você está enganado! — E pela primeira vez vi Salvio zangar-se. — O que me interessa é simplesmente a verificação arqueológica, o encontro do templo ou de seus vestígios, para poder provar, irrefutavelmente, a todos os descrentes do mundo, que em nossa terra já floresceu, em tempos idos, grandiosa civilização. E se, quando chegarmos, houver barricas de ouro ou pedrarias — juro que elas pertencerão exclusivamente a você!
— Combinado! Mas você está falando como quem já resolveu a viagem por aí a fora à procura do Templo.
— Ora essa! Sempre pensei que não houvesse dúvida quanto a isso. Faremos a viagem, não faremos?
— Claro! E por que não a faríamos?
— Naturalmente! Não poderemos perder esta oportunidade, a mais rara que já se apresentou a qualquer mortal, exclusive a que fez com que Colombo e Cabral viessem à América. Foram, também, revelações semelhantes que os trouxeram.
— Tem razão, Salvio. Seremos novos Colombos e Cabrais. E iremos, nem que seja só pela aventura, e para descansar um pouco desta vida imbecil que levamos na cidade. Iremos. Continue.
— Como você disse, precisamos encontrar o ponto geográfico, o que faremos por meio de cálculos. Além disso, temos outra referência: uma lenda de origem tupi, conhecida em vários pontos do Brasil. Mas começarei pelos cálculos.
— Ótimo! Quero ver o mago em ação! Quero vê-lo riscando os arabescos cabalísticos, e acabar extraindo dos sinaizinhos mágicos a grande revelação!
— Usarei sinaizinhos mágicos, mesmo, e você os conhece. São mágicos, mas o seu uso universal, comum e contínuo, tirou-lhes todo o valor de magia... Sabe quais são?
— Sei. São hieróglifos, petróglifos e runas.
— Não. Usarei os descendentes deles. Os nossos conhecidíssimos algarismos árabes.
— Eu bem vi que era só “papo”... E a tal lenda de que você falou há pouco?
— Você conhece-a. É a lenda da Mãe do Ouro.
— Conheço, sim. Em Iguape, até hoje essa lenda tem foros de realidade.
— E como contam a lenda em Iguape?
— É mais ou menos isto: em certas noites de verão, uma bola de fogo sai de um monte de cujo nome não me lembro, descreve uma curva no céu e vai cair sobre o Morro da Paixão. Dizem que aquele que se encontrar sôbre o morro, no momento da queda da bola de fogo, ficará rico e feliz para o resto da vida. Por isso é que a bola de fogo é conhecida como a “mãe do ouro”.
— Com pequenas variantes é a mesma lenda que corre em todo o Brasil. Dizem que no Rio o fenômeno já foi observado na Pedra da Gávea. Certos conhecimentos que tenho e que não quero revelar afirmam que essa bola de fogo assinala o local onde existe ou existiu um Templo do Sol.
— Se é assim, podemos ir ao Rio, ou a Iguape. Para que ir ao centro do Brasil?
— Seria interessante, se não tivéssemos esta “mensagem de ferro” que devemos respeitar.
— Está bem. Afinal, você monopolizou o assunto. Quando vai fazer os seus cálculos?
— Hoje mesmo. Esta noite estarão prontos e então saberemos qual o ponto exato que devemos alcançar.
Salvio começava a acordar. Quincas parecia inteiramente alheio a tudo ouvindo a minha narrativa. Quando parei, ele me interrogou com os olhos.
— No dia seguinte pela madrugada — continuei — Salvio foi me acordar dizendo que partiríamos dentro de 24 horas...
— E esse louco quase me bateu! — protestou Salvio sentando-se. — Não sei que diabo lhe deu nesse dia!
— Ora, é natural, Salvio! Você vem me tirar da cama às cinco horas para dizer aquilo! Tenha dó! O que me valeu foi o Mateus e um passeio que fiz em seguida pelo campo. Se não fosse isso creio que não teria vindo!
Salvio levantou-se e veio me dar um sonoro tapa nas costas enquanto ria gostosamente. — Acho que é hora de prosseguir, não é, Quincas?
— Não é cedo para isso, seu Salvio. Temos uns trezentos quilômetros até Formosa...
CAPÍTULO 8
UM ESTIRÃO PITORESCO
Nós dois queríamos que as mulas andassem mais depressa. Achávamos a sua andadura demasiado lenta.
— Vão muito bem assim — dizia Quincas. — Não se esqueçam de que o tempo para nós não pode existir.
— Mas temos trezentos quilômetros até Formosa, Quincas!
— Mais ou menos isso.
— E quando iremos chegar, assim?
— Quem sabe? Tudo depende do caminho e do estado do tempo. Poderemos fazer 40 ou 50 quilômetros num dia, ou poderemos fazer apenas 10. Haverá dias em que não faremos nem um.
— Que massada! Nunca chegaremos!
— Chegaremos, sim! O essencial aqui, para chegar logo, é não ter pressa!
O sol caiu sobre nós quando entrávamos num trecho de mata cerrada, ficando para trás a extensa campina.
Os pássaros que gritavam ao longe iam emudecendo à nossa passagem.
Dava-se àquele caminho o nome de “estrada”. Por ali passavam os cargueiros, o gado e os veículos que de tempos em tempos demandavam Formosa ou de lá vinham. Mas a semelhança daquela picada com as estradas estava só no fato de não haver árvores plantadas no leito.
Durante quatro horas trotamos sob o docel da mata, com pequenas interrupções de clareiras mais ou menos grandes. Depois, subimos uma encosta bastante íngreme, quase despida de vegetação. Na outra vertente, a planície perdia-se de vista. Buritis apareciam em pequenos capões, figurando ilhotas verdes na campina acinzentada. Alguns embiruçus engalanados de amarelo pintalgavam alegremente a paisagem, e uma ou outra sucupira começava a fazer desabrochar as suas alvas flores.
A noite caiu agradável e não armamos as tendas. Dormimos sob o céu estrelado, depois de forrado o chão com os pelegos. Pelo meio da noite começou a esfriar, e Lalau levantou-se para acender a fogueira que deixara preparada. Depois disso dormi como uma pedra, contando-me Salvio no dia seguinte que com ele se dera o mesmo. Quando Quincas nos acordou, a Salvio e a mim, ainda não eram cinco horas. Mas ele e os dois camaradas já estavam em atividade, e tudo pronto para a continuação da viagem: mulas arreadas e carregadas e o café pronto. Na noite anterior eles haviam peado as mulas. Sem isso, pela manhã haveria um enorme trabalho para as apanhar. Pouco depois estávamos novamente a caminho, pela fresca admirável da madrugada.
Não há o que dizer dos oito dias que se seguiram. Caminhávamos o dia todo, descansando após o almoço, pelas horas mais quentes, dormindo ao relento, e acordando de madrugada para cavalgar de novo. Quincas caçara dois veados campeiros. Salvio e eu gastamos inúmeras horas procurando vestígios de pré-história; parando junto de todas as pedras à procura de inscrições, penetrando nas cavernas que apareciam e escavando os montículos com que deparávamos. Mas essas nossas pesquisas, talvez um tanto infantis, não deram resultado algum.
Durante a longa caminhada atravessamos algumas “fazendas”, o que descobríamos pelas cercas caindo aos pedaços e por algumas cabeças de gado quase selvagens que pastavam livremente na vastidão das campinas. Quanto a casas, não vimos mais que choças.
É incrível que depois de tão ermos caminhos apareça uma cidade como Formosa, com boas casas de tijolo, cobertas de telhas, quase todas rodeadas de frondosos pomares. O edifício da usina elétrica, de quatro andares, recém-terminado, todo de concreto, é suficiente para se fazer idéia do que é o resto.
A nossa empoeirada caravana foi recebida com certo espanto e logo rodeada de crianças, as quais, passado o primeiro momento, se puseram a fazer intermináveis perguntas. Alguns marmanjos nos rodearam também, mas limitaram-se a olhar e não perguntaram nada.
Eram quatro horas e do vale soprava vento frio que nada prenunciava de bom. A altura de 900 metros em que se encontra a cidade contribuía para aumentar o frio.
Em Formosa encontramos, afinal, bom pouso, em boas camas, e pudemos tomar alimentação decente, embora pagando tudo muito caro.
No dia seguinte fomos visitar a Lagoa Feia, que fica do outro lado, junto à cidade. Apesar do nome, é uma bela lagoa, grande e pitoresca. A prefeitura de Formosa mandou arumar à sua margem um recanto para piqueniques, instalando, à sombra das árvores, mesas e bancos rústicos. Ali descansamos por algum tempo, observando os jacarés que boiavam, sossegadamente como troncos de árvores rodadas. Mais longe, um pescador, acocorado, ia tirando, regularmente, seus peixes da água silenciosa e quieta.
Enquanto isso, Quincas dava um repasse no material e, com os dois camaradas, fazia consertos urgentes. Quando deixei a margem da lagoa encontrei um velhote pitoresco que me ofereceu excelente bússola, por preço de pechincha. Dizia-se marinheiro aposentado, e, quando lhe comprei a bússola, agarrou-se a mim como carrapato. Queria à viva força incorporar-se à expedição, afirmando que sabia onde encontrar ouro e pedras preciosas em abundância. Deixou-nos, afinal, em paz, depois de ter tomado uma respeitável quantidade de cachaça ordinária e foi fazer incompreensível discurso para os jacarés ancorados no lodo da margem.
Dormimos ainda essa noite em Formosa. Mas tanto Salvio como eu estávamos ansiosos por reencetar a caminhada para o sertão. Conforto e boa cama era muito bom, mas se estivéssemos à procura dessas coisas teríamos ficado em São Paulo.
Refeitos e alegres deixamos Formosa às cinco horas da manhã seguinte rumo ao nosso próximo pouso, que seria em Olhos D’Água, cerca de 50 quilômetros distante segundo os cálculos de Quincas. Creio que não era tanto, porque chegamos com o sol ainda acima do horizonte.
Olhos D’Água consta, apenas, de uma rua empoeirada. A pensão que nos indicaram era tão suja e pouco convidativa que preferimos passar a noite numa tapera abandonada, ao fim da rua, já fora da povoação. Pelo menos, ali não havia à nossa espera, como na pensão, um exército de baratas, pulgas e percevejos. Comemos bem na casa de um conhecido do Quincas, goiano gorducho e folgazão que nos divertiu com inocentes piadas que contava piscando picarescamente os olhinhos pequenos. Quincas comprou dele grande quantidade de corda de fabricação local, resistente e leve.
Pela madrugada, ao deixarmos a vila, passamos pelo pântano onde nasce o rio Pirapetinga. Daí em diante começávamos a viajar pela bacia do Tocantins, o que nos dava certa sensação de alívio. Era que, de algum modo, começávamos a “entrar no elemento”.
A “estrada” era sempre igual, mas distínguiam-se nela, onde havia lama endurecida, sinais de pneumáticos. Devem ser autênticos heróis os motoristas que se metem por estes atoleiros!
Teríamos agora, até Cavalcante, um longo e fastidioso estirão.
Dois dias depois atravessamos a vau o Tocantinzinho e entramos na Chapada dos Veadeiros. Uma caminhada ininterrupta de seis horas levou-nos ao rio Pissarrão, em cuja margem fizemos pouso. Os arredores já estavam tomando aspecto mais bárbaro e selvagem. Só de longe em longe atravessávamos alguma fazenda de criação e de vez em quando encontrávamos uma tapera hesitante, sem saber se havia ou não de desabar sobre a estrada.
Só no dia seguinte é que vimos como são bonitos os morros que circundam a Chapada, mas não nos detivemos para apreciar o espetáculo. Rumamos corajosamente para Veadeiros, onde chegamos à tardinha. Não conta, essa vila, com mais de uma dezena de casas, todas cobertas com folhas de palmeira indaiá. Muito interessante é o Morro da Balísa, a cuja sombra descansa o povoado. Prosseguimos, e as dificuldades da marcha cresceram pelo centro da Chapada, coalhada de pedras soltas, numa subida difícil. Atravessamos o Rio Preto na nascente e, pela noitinha, chegávamos ao cimo, indo descansar à beira do ribeirão Pouso Alto.
No dia seguinte contornamos a várzea de Sant’Ana e fomos acampar na margem do rio do mesmo nome, numa lapa que não pudemos examinar direito por falta de claridade, o que nos fez, a Salvio e a mim, esperar ansiosos pelo romper da aurora. Antes de adormecer, Quincas contou-nos que essa lapa tem nome. Chamam-na a “Casa de Pedra”. Os caminhantes todos se abrigam ali para dormir ou fugir aos temporais, que são freqüentes e terríveis na Chapada, e os caçadores fazem dela seu quartel-general nas grandes temporadas.
Não dormi bem. Sonhos agitados me faziam acordar constantemente e só o clarão da fogueira acesa à entrada é que me animava a tentar o sono de novo.
Determináramos permanecer ali o dia seguinte, por dois motivos: Quincas precisava passar em revista as seis mulas e curar uma delas, ferida pela má colocação da carga e tomar outras providências; e nós dois queríamos realizar completo exame dessa gruta, que nos parecia muito interessante.
CAPÍTULO 9
A “CASA DE PEDRA”
Assim que a luz do dia o permitiu, pusemo-nos em atividade. Lalau e Tobias limparam uma antiga picada que ia até a margem do rio Sant’Ana e levaram os animais para a água.
Salvio, eu e Quincas dispusemo-nos a iniciar a pesquisa na “Casa de Pedra”. Vimos, à entrada, em vários lugares, vestígios de fogueiras, sinal, naturalmente, da passagem de viajantes que ali pernoitavam. A caverna era um salão de pedra, em abóbada, com uns quatro metros de largura e outros tantos de altura. O solo, de areia avermelhada e seca. Depois de cuidadosa observação pareceu-nos que em uma das paredes havia alguns traços. Limpamo-la com grande trabalho e distinguimos numerosas inscrições fundamente talhadas na parede lisa.
Infelizmente não pudemos determinar se eram antigas ou modernas, e o livro de Alfredo Brandão “A Escrita Pré-histórica do Brasil”, que levávamos, não nos ajudou a decifrar tudo. Distinguimos o Ra duplo, ou “o fogo da terra e o fogo do céu”, a terrível divindade brasílica, também conhecida e adorada em Creta, onde simbolizava a divindade da destruição. Distinguimos, igualmente, Théta, que era a Athenê dos gregos, a Pallas de Homero e a Minerva dos latinos, e que foi, ainda, deusa da Atlântida. Distinguimos em seguida outros símbolos, mas não conseguimos ligá-los para formar sentido. Gozamos, no entanto, dessa estranha e profunda sensação de estar contemplando traços feitos por mãos humanas há milênios, mãos que obedeciam a um cérebro pensante e que desejavam transmitir a alguém um significado, uma idéia, uma noção qualquer. Quem teria sido esse gravador de símbolos? Em que época teria vivido? Qual seria o seu credo, a sua religião? Como se chamaria o seu povo? E que desejaria dizer com aqueles traços? Estaria anunciando alguma catástrofe que se aproximava? Quem sabe se não seria um sobrevivente dessa catástrofe, deixando para os homens do futuro a última mensagem do seu povo?
No canto superior da gravação havia o que parecia representar um lagarto por cima de um sol coroado de raios, e lá estava, também, por baixo do sol, o triângulo a que Salvio emprestava enorme importância. Nada pudemos, porém, concluir daí. Na realidade, não é fácil conjugar, para conclusão inteligível, um sol, um lagarto e um “altar da magia”. Fartos dos signos, continuamos o exame da caverna e, ao chegar à parede do fundo, vimos que ela não era de pedra, como as laterais, mas sim de terra desmoronada, de certo, um bloco desabado de cima. Pusemo-nos a cavar com singular coragem nessa parede, e, quando Lalau nos veio chamar para o almoço, encontrou-nos enlameados de suor e barro, mas viu, também, que tínhamos aberto um buraco por onde se avistava o interior negro de outra caverna...
Tomamos um banho confortável no ribeirão de Sant’Ana ,e depois atacamos com voraz apetite o almoço de carne de tatu e os restos de um veado. Tobias, o cozinheiro, recebeu desusados cumprimentos pela excelência do almoço. Talvez nos parecesse mais delicioso graças à fome que tínhamos e também pela satisfação que nos dava o encontro dos signos e da segunda caverna da “casa de pedra”.
No fim da refeição, Salvio inquiriu Quincas a respeito da caverna:
— Você conhece essa gruta há muito tempo, Quincas?
— Conheço, desde menino. É o pouso forçado dos que vêm caçar veados por estas bandas, e serve de pouso aos que vão de viagem pela estrada.
— E ela foi sempre assim?
— Sempre. Nunca ouvi dizer que fosse maior...
— Isso quer dizer que o bloco caiu do teto há já muitos anos — disse-me Salvio. Depois, para Quincas:
— Talvez tenhamos que nos demorar aqui mais algum tempo.
— Pois demoraremos quanto for necessário. Por isso é que eu disse que não podemos contar com o tempo.
— Então, enquanto os animais descansam e se alimentam, nós faremos a exploração da caverna. Você sabe, não, Jeremias? Foi em cavernas como esta que Peter Lund descobriu, no Rio das Velhas, ossadas fósseis de homens e animais.
— Lá dentro deve ser escuro, Salvio. Teremos que providenciar luzes.
— O Quincas nos arranjará algumas tochas; hein, Quincas?
— Arranjam-se, sim.
Não foi fácil encontrar galhos que servissem para archotes. Quincas percorreu o mato próximo durante muito tempo. Afinal, arranjou. Um indivíduo notável, aquele. Cerca de duas horas da tarde, penetramos os cinco, munidos de archotes acesos e outros de reserva, na nova caverna que se abrira ao fundo da primeira.
Quincas e os dois camaradas surpreenderam-se logo com o seu fantástico aspecto.
— Estalactites! — exclamou Salvio.
Realmente, milhares de estalactites pendiam do teto, escorrendo ao encontro das estalagmites que subiam do solo. O salão, muito grande, estava cheio de colunas brancas, do mais estranho aspecto. À claridade vacilante dos archotes, as colunas se multiplicavam a perder de vista, e as sombras se movimentavam pelos mil meandros dançando em formas fantásticas nas paredes longínquas. Nem todas as colunas estavam terminadas. Em seu trabalho paciente, a Natureza não se importa com os dias, os meses, os anos ou os séculos. A Eternidade está à sua disposição, e as colunas que se formam mediante finas camadas de água calcificada, marchando nos dois sentidos, uma de baixo e outra de cima, caminham sem pressa. Um dia estarão unidas. Algumas, já terminadas, grossas, atestavam o trabalho milenar da paciente gota de água. Outras, pendiam do teto, a ponta aguda parada a meio caminho, e apontando para pontas que do solo subiam lentamente, para o encontro que se realizaria, quem sabe quantos séculos mais tarde. Algumas, recém-ajustadas, eram maravilhosas, muito finas no meio, e engrossando regularmente até às extremidades inferior e superior.
Desde a infância ouvíramos falar em palácios encantados... Estávamos agora dentro de um deles, autêntico, maravilhosamente autêntico!
O silêncio solene, quase aterrador, era pontilhado pelo gotejar constante, lento, aqui e ali. E nós cinco estávamos tão imóveis como as próprias estalactites, olhando maravilhados, emudecidos. Apesar de ter lido muitas vezes descrições de tais grutas, eu jamais esperava que o espetáculo tivesse essa solene grandeza — tão imperfeito é o vocabulário humano! E como o meu é mais pobre ainda do que o do comum dos escritores, sei que ninguém vai compreender a impressão que recebi. Desisto, mesmo, de procurar transmiti-la. Acrescentarei, apenas, que sonhar um sonho maravilhoso e estar naquela caverna, era a mesma coisa.
Afinal, depois de longos momentos de estupefação, conseguimos nos desprender do lugar em que havíamos parado e demos mais alguns passos. Salvio abaixou-se subitamente e apanhou do solo algo parecido com um osso. Verificamos logo, porém, que se tratava de um pedaço de coluna, e em poucos minutos de exame nos convencemos de que fora partido violentamente.
— Alguém andou por aqui — disse Salvio. — Isto é obra do homem. A destruição num certo grau sempre indica a presença desse bicho infeliz. Quincas, vamos cavar um pouco aqui, com cuidado.
Era fácil cavar naquele solo de terra macia, e sob a direção de Salvio, Lalau e Tobias iam abrindo lentamente um grande buraco de três metros de diâmetro.
Meio metro abaixo da superfície, mais ou menos, apareceram quatro pedras grandes, roliças, enegrecidas pelo fogo. Foram postas de lado e a escavação continuou, alargando-se o buraco. Interrompemos o trabalho cerca de sete horas, quando Tobias preparou um ligeiro jantar, na outra parte da caverna.
Foi no dia seguinte que encontramos a tíbia fossilizada. Aumentando o campo de exploração, desenterramos um crânio partido e um maxilar que podia pertencer a esse ou a outro crânio — tudo no mesmo estado da tíbia: fossilizado, com incrustações calcárias e muita terra aderente.
Ao anoitecer demos com a gamela de barro cozido, ornamentada com desenhos que só mais tarde havíamos de compreender. Infelizmente a gamela partiu-se em três pedaços quando a limpávamos. O entusiasmo daqueles achados levou-nos a trabalhar até tarde da noite e durante todo o dia seguinte, até nos convencermos de que nada mais havia ali. Quando lavamos no riacho as peças encontradas, a nossa falta de prática nos levou a inutilizar o crânio e a tíbia. Restava-nos intacto apenas o maxilar, sem dente algum, as quatro pedras negras de fumaça e a gamela partida em três pedaços. Depois de unidos esses pedaços, verificamos que o desenho da gamela não era marajoara, como esperávamos que fosse. No centro havia um rosto humano, em traços ligeiros, grosseiramente representado. Os traços ornamentais, partindo dos olhos e da boca, afastavam-se em círculos concêntricos até às bordas da peça. Eu jamais me atreveria a chamar aquilo de “artístico”. Mas, bem consideradas as coisas, e levando em conta o número de anos que aquela gamela estivera assim enterrada, — Salvio disse que devia passar de mil anos — ela era, certamente, notável.
Salvio deu mais de mil anos para todas as peças ali encontradas, e não sei em que se baseou para dizer isso. Sei que o processo de fossilização dos ossos é muito lento, e mil anos são um prazo mínimo. Mas sei, também, que, conforme a qualidade do terreno, a profundidade, o teor calcário, o grau de umidade e outros fatores, o processo pode ser retardado ou acelerado. No entanto, não posso aceitar a opinião de Salvio sem reservas. Somente um perito poderia avaliar a idade daquele material.
Na madrugada seguinte continuamos a viagem, descendo a Chapada em direção a Cavalcante, que fica no grotão, lá em baixo. Foi essa uma das jornadas mais penosas que fizemos, pelas dificuldades do terreno pedregoso, íngreme e cansativo em demasia. O rio Sant’Ana despenhava-se em várias cascatas até chegar à pequena cidade escondida entre folhagens de frondosas árvores.
Chegando a Cavalcante, fomos recebidos... a tiros! Os disparos pipocavam por todos os cantos, e eu, num movimento instintivo, preparei-me para fugir. Quincas me fez sinal para que ficasse quieto. Puxou a sua garrucha e disparou os dois tiros para o ar. Lalau e Tobias fizeram o mesmo. Seguiu-se uma grande fuzilaria, e homens e crianças apareceram correndo, gritando, alegres.
— É costume da terra — explicou-me Quincas ao ouvido, para dominar o barulhão.
— Creio que é esse o único lugar do mundo onde os amigos se recebem a tiros — gracejou Salvio, quando compreendeu.
Quincas era conhecido de todo mundo ali. Aceitou o convite do seu Nicolau, e, assim, tivemos ótimo jantar e bom pouso naquela noite. Na manhã seguinte Nicolau levou-nos para ver a curiosidade de Cavalcante, cidade antigamente rica e movimentada, com grandes jazidas de ouro e pedras preciosas — o “buraco do ouro”. Era um grande poço, com água. Contou-nos Nicolau que aquele poço fora feito pelos escravos, para extração de ouro. Um dia estavam oito deles trabalhando lá em baixo quando, subitamente, rebentou um olho d’água, que começou a encher o buraco. Ninguém se importou muito, mas afinal os pobres homens morreram afogados ali dentro. Disse ele, ainda, que há cerca de cinqüenta minas abandonadas, de ouro e pedrarias, espalhadas pelos arredores. Isso, porém, não nos interessava. O que queríamos eram informações de outro gênero, que, afinal, não conseguimos. Assim, logo depois do almoço, que foi servido às dez horas, partimos. Atravessamos o rio Bananal e começamos a subir os 700 metros da Serra da Ave-Maria, o que tivemos que fazer a pé, por uma picada de pedras soltas, e puxando os animais pelas rédeas. Paramos por várias vezes, para recuperar as forças. A subida era terrível! Chegamos ao cimo pela tardinha — e vimos que valera a pena o sacrifício. O panorama que se descortina é magnífico. As árvores mais abundantes são enormes óleos, o que dá ao mato um tom geral avermelhado. Aparecem, depois, ipês cobertos de flores amarelas. O espetáculo cromático é interessante, pois inclui várias tonalidades, indo do avermelhado dos óleos, serra abaixo, com os ipês amarelos de permeio — até ao branco dos paus-terra que crescem na planície, lá em baixo. Interessante ainda observar-se que esta vertente da serra é totalmente diferente da outra. Ela é coberta de vegetação luxuriante, ao passo que a outra, que subimos desde Cavalcante, é nua e escalavrada.
Na descida, passamos pelas fazendas “Piteira” e “Pedra Branca”, indo acampar num bosque de buritis, à margem do Cotia.
No dia seguinte almoçamos no Pouso Buraco Frio, à margem do São Félix, e fomos pernoitar nas faldas do morro do Pote, junto ao Rio do Morro. A região é infestada de onças, e, por isso, rodeamos o acampamento com cinco fogueiras que mantivemos acesas durante toda a noite. Aliás, dormimos bem, não tendo outro incômodo senão o de alimentar as fogueiras de vez em quando. Não ouvimos onça alguma, nem outro bicho.
Mais um dia, e chegamos ao sopé da Serra de Ouro Fino. Almoçamos à margem do rio das Lages, afluente do das Almas. Estávamos terminando o almoço, quando vimos passar uma canoa com três índios nus, ostentando magníficos cocares de penas brancas e vermelhas.
— São índios Gaviões! — exclamou Quincas. E pôs-se a gritar, chamando-os, na “lingua geral”. Os índios, porém, deviam estar com pressa, porque aceleraram as resmadas e, sem olhar para trás, desapareceram dentro em pouco.
Três dias depois, o aspecto da paisagem começou a mudar. Desde Veadeiros vínhamos palmilhando quase apenas desertos, com pequenos trechos de mato, e, nos últimos cinco dias, unicamente terrenos desertos e pedregosos. Agora, da charneca começavam a erguer-se árvores, que mais para diante se foram amiudando até se tornarem a mata luxuriante que anuncia as proximidades do rio Paranã.
Chegamos ao Paranã, afinal. Do outro lado, um amontoado de casinhas rebrilhando ao sol: Palma, que está situada na confluência do Paranã com o rio da Palma. O rio Paranã e o das Almas, que nele desemboca uns cinqüenta quilômetros abaixo de Palma, são os maiores formadores do Tocantins, com cujas águas ansiávamos travar conhecimento. Em frente a Palma, o Paranã tem uns quinhentos metros de largura — um lindo rio, manso e silencioso. À margem, estava atracada a velhíssima barca que se aluga para a travessia. Entramos nela, com toda a nossa, carga. Os animais atravessariam a nado.
O barqueiro é um velho, muito velho, alquebrado, de longas barbas brancas e faz o serviço há mais de 40 anos. Tem um maravilhoso cabelo de neve, revolto e emaranhado — verdadeiro tipo bíblico. Procurei descobrir em sua cabeça ninhos de pássaros. Mas não havia nenhum,...
Ajudamos a impelir a velha barca, que tínhamos que esvaziar continuamente com uma lata de banha, também furada.
Do ponto em que aportamos, na margem fronteira, três quilômetros nos separavam de Palma.
CAPÍTULO 10
VESTÍGIOS DE UM MUNDO MORTO
Em Palma, Quincas teve de visitar muita gente e responder a inúmeras perguntas. Todos queriam saber por onde andara, que fizera, se ganhara muito dinheiro, que ia fazer agora, e mais uma porção de coisas desse gênero. Estivemos na cidade durante três dias, descansando. Os animais precisavam de trato e Lalau tinha que curar a ferida que fizera num pé, logo ao sair de Veadeiros, e que vinha piorando dia a dia.
Palma não tem mais que meia dúzia de ruas. As casas são quase todas de tijolo e nós nos admiramos dos imensos quintais que possuem, cheios de jaqueiras, mangueiras e abacateiros — mas são todas muito antigas, o que dá à cidade o triste aspecto de ruína. No rio Paranã, que serve de banheiro à população, há dois lugares reservados: um para os homens e outro para as mulheres, este um pouco acima do primeiro. As águas são mornas. É um gosto a gente alcançar a nado os baixios de areia cobertos de seixos que pontilham o leito do grande rio.
À partida, a nossa pequena expedição se dividiu em duas. Salvio, Quincas e eu iríamos pelo rio, em canoa, conduzindo alguns fardos de coisas necessárias. Lalau e Tobias iriam por terra. Devíamos reencontrar-nos no córrego da “Pedra Riscada” — aquele tal que deixou Leandro “louco” — ficando combinado que quem chegasse primeiro esperaria pelos outros. A distância a percorrer até ao córrego da Pedra Riscada era, mais ou menos, de 250 quilômetros, o que seria fácil, rio abaixo.
Nós três nos revezávamos nos remos, dos quais nos servíamos mais para dirigir a embarcação do que para a impelir. Um quilômetro mais ou menos para baixo (as distâncias têm que ser todas “mais ou menos”, porque esta gente não tem muita noção de distância, e “quilômetro” nada significa para ela, que mede tudo em léguas e estas mesmo são “mais ou menos” elásticas...) passamos pela embocadura do rio da Palma, que entra violentamente pelo Paranã, formando rebojos perigosos. Daí em diante, o Paranã muda de nome: passa a chamar-se Paranatinga. Mais cinco quilômetros e começaram as corredeiras. Apertado entre altas margens de rocha, o rio espuma, espadana e esbraveja, estourando como animal enfurecido. Suei frio. Não esperava atravessar inteiro aquele inferno, e mil vezes me arrependi de não ter ido por terra, com Lalau e Tobias. Felizmente, a canoa não foi “torpedeada”, como eles diziam, referindo-se ao encontro com as pedras que é quase sempre fatal. Graças à perícia de Quincas, atravessamos incólumes o perigoso passo, e chegamos a Porto Feliciano ao anoitecer. Estávamos esgotados de cansaço e comoção, mas inteiros.
Na madrugada seguinte continuamos a viagem, rio abaixo, encontrando freqüentes corredeiras, sempre perigosas. Mais abaixo, na margem esquerda, desemboca o Maranhão, e, daí em diante, viajamos em pleno Tocantins.
As margens do Tocantins têm grandes extensões de praia de areia branca onde, segundo diz o Quincas, há abundância de tartarugas.
Ao fim desse segundo dia de viagem chegamos à embocadura do córrego de Santa Cruz.
— Aí para dentro — disse Quincas, apontando para o córrego — há uma pedra com sinais gravados.
— Você sabe onde ela fica? — perguntou Salvio, já entusiasmado.
— Fica lá para cima. Eu nunca a vi. Só ouvi falar. Nem sei se existe, mesmo.
— Temos que ver isso de perto, Quincas.
— Pois vamos. Mas só amanhã cedo. Hoje já é muito tarde.
Na manhã seguinte, assim que clareou o dia, começamos a subir o córrego. Deteve-nos uma cachoeira, uns cinco quilômetros acima da embocadura. O rio despenhava-se lá de cima com grande estrondo. Amarramos o barco e pulamos para terra.
O terreno é de rocha eruptiva, e a vegetação raquítica. As rochas assumem aspecto inesperado, formas caprichosas e fantásticas em torno do platô de onde o rio se lança para baixo. As águas do córrego se espraiam no leito de pedra, sem chegar aos joelhos da gente. Seguimo-las algum tempo e chegamos assim a um local curioso, formação rochosa que seria alarmante para espíritos desprevenidos. Era um semi-círculo, vasto anfiteatro que, embora arruinado pelo tempo, parecia preparado para receber grande assembléia. Quando examinamos a estranha estrutura, nosso espanto cresceu. Numerosos assentos estavam escavados no anfiteatro de rocha! E pareceu-nos, ainda, que aquela concha crivada de assentos fizera parte, primitivamente, de uma estrutura maior, talvez circular. Ao centro abria-se um túnel, pelo qual passava o regato que se ia despenhar mais adiante. Apesar dos estragos do tempo, podiam-se perceber sinais de trabalho na pedra. Aquilo devia ter sido uma obra grandiosa. Depois de percorrer o monumento, afastando as ervas que o cobriam, olhando tudo curiosamente, estremecendo, lançando exclamações, Salvio parou diante de mim e disse com voz trêmula:
— Jeremias! Estamos pisando um lugar sagrado!
— Você está certo disso?
— Sem dúvida. Esse é o lugar onde o povo se reunia para realizar alguma cerimônia religiosa! Por aqui deve ter havido um altar!
Foi só lançar um olhar em redor para encontrar os vestígios do altar. A certa distância do anfiteatro, bem em frente ao centro dele, vimos, no leito do rio, os restos de um grande pilar em forma de cruz, de pedra e solidamente fixado à rocha. Que haveria, antigamente, sobre aquele sólido pilar? Um altar, uma plataforma, ou um púlpito? Quem o poderia saber? E como teria sido destruído? Por alguma violenta enchente? Por mãos humanas? Por algum cataclismo? Jamais encontraríamos a resposta para essas perguntas e para muitas outras que surgiam a cada instante.
Mas ali estava ele, solidamente cimentado ao solo com a água rumorejando em torno... Que seres teriam talhado, ajustado e cimentado aquelas pedras? E em que época? Para que fim? Quantos séculos havia que a água rolava assim sobre o pilar, indiferente, corroendo-o lentamente?
Perguntas... Só perguntas! Tudo aquilo era um imenso ponto de interrogação suspenso sobre a História da América. E por onde andariam as respostas?
Do lugar onde estávamos, com os pés mergulhados na água, junto ao alicerce derruído, olhamos o anfiteatro. O aspecto majestoso fez-nos perceber que somente um povo dotado de singular sentimento de grandeza poderia ter realizado semelhante obra. O riacho, passando pelo túnel de pedra, vinha em linha reta até ao pilar, e continuava, indo despenhar-se, lá adiante.
Examinando novamente o anfiteatro, compreendemos que os seus construtores haviam aproveitado uma singular formação rochosa (ocorreu-nos que poderia ter sido uma cratera) para talhá-la em forma de arquibancadas. A parte posterior do anfiteatro era de rocha bruta, sem trabalho algum a não ser ao centro, sobre o túnel que dava passagem ao riacho. Haviam polido aí um grande retângulo de rocha, de uns três metros quadrados, como uma folha de livro; esse retângulo estava coberto de inscrições em caracteres brasílicos e, aparentemente, em desordem. Encimava a inscrição um triângulo, tendo uma cruz no vértice superior. Tanto eu como Salvio fomos tomados de angústia olhando aquilo. Não podíamos decifrar a inscrição, mas sentíamos que ela nos daria a explicação de todo o mistério. Copiamos cuidadosamente todos os sinais, na ordem em que estavam e respeitando as distâncias relativas. Mais tarde, conseguimos decifrá-los, ou assim pensamos. Reproduzimos aqui os signos, tais como os vimos, e a significação que tão trabalhosamente lhes demos. Os leitores poderão avaliar, por aí, como teríamos ficado impressionados diante deles, lá longe, no seio da mata, sob o grande céu azul, diante daquele paredão de rochade imemorável idade...
Custava-nos imenso deixar o local. Ele exercia sobre o nosso espírito estranha fascinação. Evolava-se dali uma atmosfera de tão vetusta solenidade que estávamos como que magnetizados.
E Salvio teve uma idéia:
— Se sobre este pilar havia uma construção que foi arrastada pela correnteza, os pedaços devem estar atirados lá embaixo, sob a cachoeira.
Compreendemos. Demos a volta e descemos do platô, chegando, pouco depois, ao local onde caía a água que se despenhava do alto. Envolvidos pela poeira líquida, tiramos a roupa e metemo-nos, os três, na água, começando as pesquisas junto à margem. Em baixo da queda havia um buraco profundo e perigoso. Mesmo Quincas, que era um grande nadador, não se atreveu a meter-se ali. Mas foi se aproximando o mais possível do poço que ele fez um achado. Chamou-nos, e forcejou, meio enfiado na água. Salvio, querendo correr para perto dele, caiu; já ia sendo arrastado, quando o segurei por um braço. Firmando-se novamente, perguntou:
— Que é, Quincas?
— Alguma coisa. É pesado.
Pusemo-nos os dois a ajudá-lo e, depois de imenso trabalho, extraímos do lodo do fundo uma curiosa peça de pedra. Era um frontão, cuidadosamente lavrado, pesadíssimo. Para o colocar na margem fizemos esforços quase sobrehumanos. Vimos, afinal, um pedaço de frontão, mutilado, corroído, coberto de limo. E depois de o limpar cuidadosamente, ficamos mais que pagos pelo grande trabalho. Ao centro, entre delicadas aplicações de pedra, havia uma placa de metal que, pela conservação e o brilho que logo adquiriu, nos pareceu à primeira vista ouro. Mais tarde concluímos que devia ser oricalco, o misterioso metal tão usado na América, ainda ao tempo da descoberta. Nessa placa, gravada em caracteres que Salvio pôde interpretar com facilidade, havia esta inscrição:
“CRONOS, DE ATLANTIS”
Meu amigo quase desfaleceu. Desmesuradamente abertos, seus olhos ficaram fixos na placa durante alguns minutos. Depois, murmurou, com cara de louco:
— Vejam! Olhem! Cronos! Cronos de Atlantis! Estou ficando doido!
— Eu também acho — opinei.
Salvio pronunciava palavras desarticuladas, dava uns passos, acariciava a placa com as pontas dos dedos e passava as mãos pela calva arroxeada.
— Esperem! Tenho medo de enlouquecer!... Tudo se poderá esclarecer!
Parecia desvairado. Quincas assustou-se. Segurou-o pelos braços fortemente e berrou:
— Sr. Salvio! Sr. Salvio! Que é isso!? Que é que está sentindo?
— Largue-me!... berrou ele arrancando-se brutalmente das mãos de Quincas. — Largue-me! — E, imediatamente, mais calmo, começou a falar com maior clareza: — Cronos de Atlantis... já estou me recordando... Foi Henrique Schliemann, no século passado... Ele descobriu, na Ásia Menor, junto aos Dardanelos, quando fazia escavações para encontrar Tróia, um vaso com essa mesma inscrição: “Cronos, de Atlantis!” Depois, encontraram-se medalhas e moedas, com a inscrição mais completa: “Do Rei Cronos, de Atlantis”. E mais tarde, aqui na América, creio que foi no Chile, encontraram-se vasos, estatuetas, medalhas e moedas exatamente iguais àquelas da Ásia Menor. E, agora, subitamente, aqui, em pleno coração do Brasil... Isto! Esta maravilha! E nós! Nós, justamente, entre milhões de homens, é que viemos dar com isto! É de enlouquecer!
Calou-se, e, durante alguns momentos, permaneceu imóvel, de olhos semi-cerrados, fitando a placa, com um sorriso parado nos lábios. De repente, agarrou-me brutalmente pelos braços e exclamou:
— Cronos, Jeremias! Cronos foi um rei de Atlantis que viveu há, pelo menos, 100 mil anos! 100 mil! Sabe o que quer dizer isto? Sabe?
* * *
A tarde ia morrendo. O vento deixara de soprar. Estava tudo tão perfeitamente imóvel que a gente sentia a pausa pesar sobre a própria vida. E nós três, nus, na margem do regato, imóveis também, diante do frontão partido, diante da placa de oricalco que continha a estranha inscrição... Pedra lavrada havia cem milhares de anos, por dedos humanos há cem mil anos desaparecidos, e que assim vinha do fundo das idades acenar-nos com a ponta de um mistério decerto para sempre indecifrável!
A natureza, quieta, indiferente, contemplava-nos. E a placa de oricalco, velha de mil séculos, bradava: CRONOS, DE ATLANTIS!
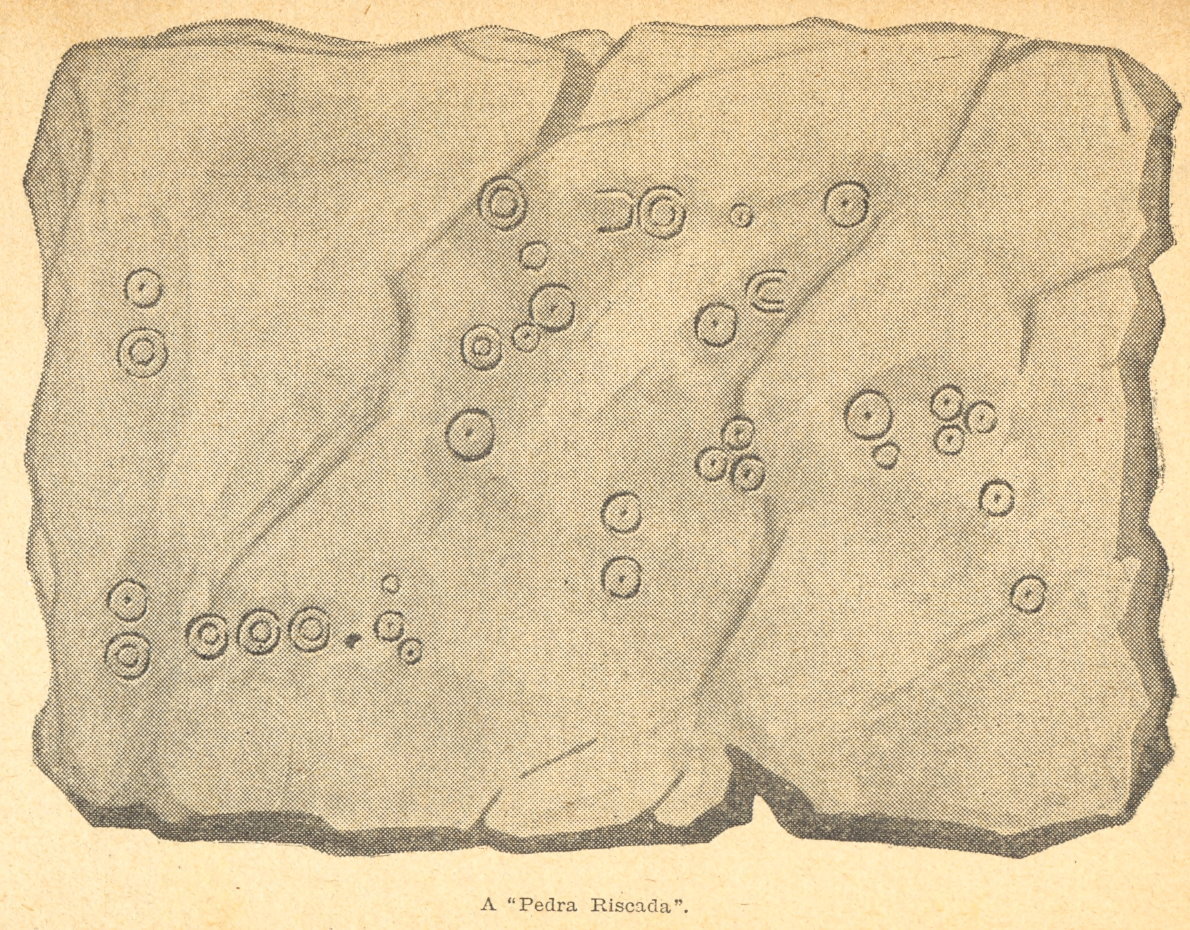
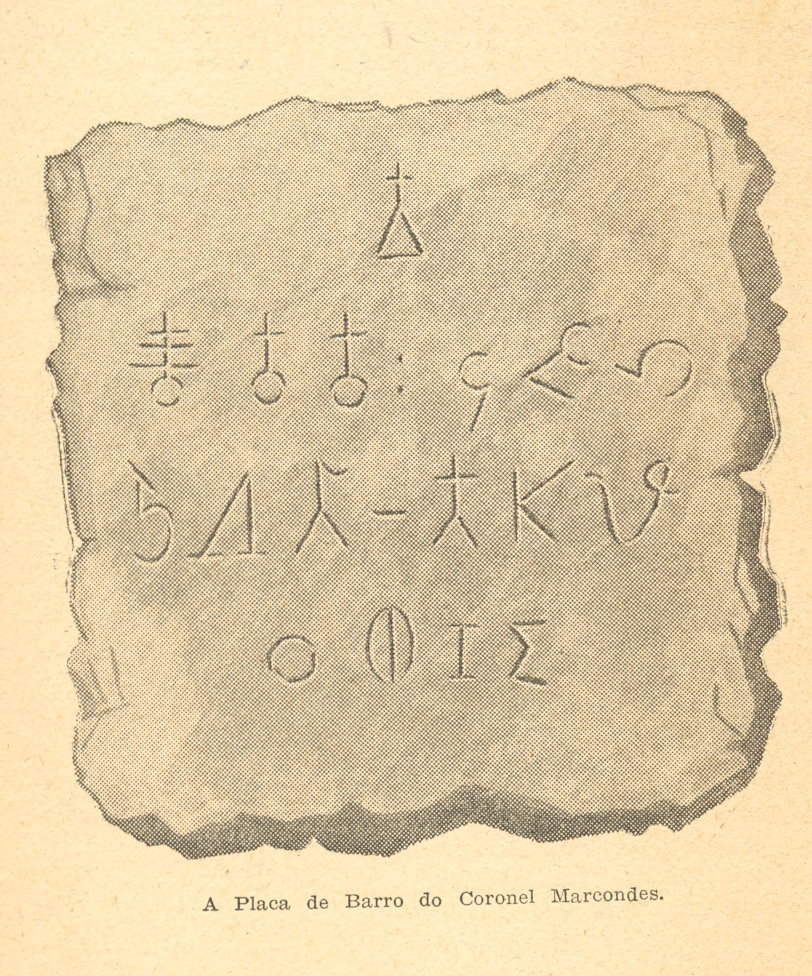
CAPÍTULO 11
OS SELVAGENS LOUROS
Nossa canoa desceu o rio Santa Cruz rapidamente e foi logo agarrada pela correnteza do Tocantins. O achado daquele frontão nos deixara positivamente esmagados. Mesmo Quincas, que decerto não podia avaliar perfeitamente o que significava aquela placa de oricalco — estava em deplorável estado de nervos, como se tivesse levado uma surra. Nenhum de nós tinha vontade d© falar. Salvio, ao meu lado, estava com o queixo apoiado na mão e o olhar fixo. Os remos moviam-se compassadamente e o seu chapinhar na água era o único som de vida que nos chegava aos ouvidos. Eu contemplava as águas serenas do rio, mas não as via. Via um estranho povo, envolvido em amplas túnicas, calçado de sandálias, movendo-se pela plataforma de rocha, subindo para os assentos de pedra do anfiteatro... As figuras nunca terminavam de subir, e meu espírito rodava em volta da cena como falena em volta da luz, refazendo sempre o mesmo círculo.
Quando, pelo meio-dia, a voz de Quincas ressoou, pareceu-me estranha e longínqua:
— Este é o córrego da Pedra Riscada.
Ninguém lhe respondeu. Quincas apontava um riacho que desembocava no Tocantins. Riacho que, em São Paulo, seria um rio respeitável... Quincas parou a canoa na praia.
— A Pedra Riscada é logo ali — acrescentou.
— Vamos vê-la — murmurou Salvio, erguendo-se lentamente.
Amarrado o barco, saltamos e subimos pela margem do regato. Íamos por ir, como se nada mais tivesse importância, depois daquele achado miraculoso que por si só valeria a viagem.
A Pedra Riscada era uma grande laje, ligeiramente inclinada, e gravada em toda a sua extensão, com desenhos geométricos, círculos e sinais que reproduzimos integralmente para que o leitor possa fazer idéia exata da mesma.
Não fosse Salvio quem é e, certamente, o nosso trabalho estaria perdido daí por diante. Para mim, a inscrição não tinha valor algum. Não se tratava de petróglifos, nem ideogramas, e tampouco de hieróglifos. Eram simplesmente sinais, grande série de círculos de vários tamanhos, dispostos em aparente desordem. Que poderia ser aquilo? Por mim, teria simplesmente seguido a viagem, sem lhes dar importância. Enquanto contemplávamos a laje, Quincas falou:
— O Sr. Leandro esteve um dia inteiro aqui.
— E esteve também onde estivemos ontem? — perguntou Salvio.
— Não, nem eu nunca ouvi falar daquilo. Mas aqui, paramos, e o sr. Leandro ficou muito interessado, fez uma porção de cálculos, e resolveu mudar o rumo da viagem. Quando saímos de Palma, a intenção dele era seguir até Porto Nacional. Mas, depois de estudar esta pedra, ele mudou de idéia. Deixamos a canoa aqui e seguimos por terra.
Durante o silêncio que se seguia, Salvio estudou atentamente a “pedra riscada”. Depois, murmurou, começando a interessar-se:
— Dir-se-ia um rumo indicado por meio de estrelas... mas parece que falta qualquer coisa... Quincas!
— Pronto.
— Que é que o sr. Leandro fez, depois de estudar esta pedra?
— Não sei. Ficou muito contente. Depois, resolveu abandonar o Tocantins e ir por terra direito ao Araguaia.
— Sim. Mas eu sinto que isto não está certo. Falta qualquer coisa. Vejo dois sinais que não têm razão de estar ao lado das estrelas... a não ser que tenham significação especial. Não há dúvida de que esses sinais representam estrelas, e, se não me engano, trata-se do signo de Áries, ou Carneiro. Poderia interpretá-lo como querendo nos aconselhar brandura, teimosia, força de vontade, persistência. Mas, para que são aqueles dois sinais em forma de ferradura, junto àquelas duas estrelas?
— Parecem poltronas — sugeri eu.
Salvio deu-me uma palmada nas costas, já animado.
— Eureka! Justamente, Jeremias! Poltronas! Vamos interpretá-los, então, como “assentos”, ou “lugar onde se descansa”...
— E daí?
— Bem... poderíamos imaginar que quando essas duas estrelas passarem por determinado lugar do firmamento, algo se deve fazer...
— Obscuro, Salvio.
— Nada obscuro, Jeremias. Creio que deveríamos saber em que momento essas duas estrelas passam pela casa respectiva, no Zodíaco. Você sabe que o Zodíaco é dividido em 12 casas...
— Não sabia. Mas quando será isso?
— Já direi. Depende de alguns cálculos simples.
— Bem. E depois?
— Acredito que, descoberto isso, deveremos esperar a passagem das estrelas pela casa, e, então, seguiremos no rumo indicado.
— Ora! Leandro não esperou nada disso!
— Quem sabe? Poderemos imaginar várias hipóteses: ou ele não se lembrou de interpretar assim estes sinais, e não ligou o Zodíaco a eles; ou fez isto mesmo que eu fiz, e se encontrava exatamente no momento adequado e prosseguiu; ou interpretou tudo corretamente, e, impaciente, partiu sem esperar o momento oportuno. Não se esqueça de que ele não regressou. Não sabemos o que conseguiu, nem se vive ou está morto.
— Você quererá dizer que ele não conseguiu bom êxito por ter desprezado estes sinais?
— Quem sabe? Não podemos desprezar coisa alguma nesta aventura. Lidamos com conhecimentos que estão fora do nosso controle. Os nossos antepassados dispunham de sabedoria e de forças com as quais nem sonhamos. Para quase todos nós a magia é agora objeto de desprezo, mas nem sempre foi assim. No passado, ela era algo muito importante e exerceu influência decisiva sobre os destinos da humanidade. Na maioria, os sábios do passado longínquo não eram senão magos, e da magia derivaram as ciências modernas, através da Alquimia, da Astrologia... Se houve progresso por parte da ciência, isso se deve exclusivamente à magia dos nossos antepassados. E nem sequer podemos dizer que a magia não era ciência, pois que desconhecemos tudo a seu respeito, e sabemos somente o que a lenda nos transmitiu.
Eu tinha que me curvar. Salvio entendia dessas coisas e eu não entendia. O melhor era deixá-lo fazer.
Acampamos ao lado da Pedra Riscada, onde armamos a grande tenda. Enquanto Salvio se engolfava nos seus cálculos, eu e Quincas resolvemos bater o mato em volta, caçando. Quando voltamos, com um veado e uma capivara, ao anoitecer, Salvio declarou:
— Teremos que ficar aqui acampados durante doze dias.
— Doze dias, Salvio?! É muito!
Salvio pôs-se a explicar a razão da espera. Mas era complicada demais, e desisti de entender. Lembro-me só de que ele achou ainda que estávamos com muita sorte.
— Chegamos aqui na época apropriada, por pura sorte. Se demorássemos mais 15 dias a chegar, teríamos que esperar durante um ano, até que os astros se achassem novamente em conjunção.
— E Leandro, Salvio?
— Talvez ele tenha chegado atrasado, ou adiantado, ou também, no momento exato. Quem sabe?
— Pode ser, ainda, que não tenha interpretado os símbolos, não é?
— Quem sabe, Jeremias! Quanto a nós, para fazermos as coisas bem feitas, devemos sair deste ponto daqui a doze dias.
Portanto, dispusemos tudo para o longo acampamento.
Três dias mais tarde chegaram Tobias e Lalau com as seis mulas. Vinha com eles o estafeta do correio, que haviam encontrado na estrada. É um pobre diabo que caminha duzentos quilômetros a pé e outros duzentos para regressar, conduzindo a correspondência. Ele passou o resto do dia e toda a noite conosco, contando-nos a sua miserável vida. No dia seguinte, bem cedo, partiu. Levava a tiracolo a mala de correspondência ao lado do bornal, onde transporta pedaços de carne seca e farinha — único alimento para um mês de viagem a pé.
Nos dias seguintes caçamos ainda e fizemos uma boa provisão de carne que Tobias preparou no fumeiro. As mulas fartaram-se de comer e descansar.
Passaram-se os doze dias. Os astros cumpriram o seu dever e pela madrugada do décimo terceiro, partimos atravessando para a margem oeste do Tocantins. Ali deixamos a canoa, bem abrigada, e recomeçamos a palmilhar a floresta. Havíamos modificado o plano inicial da viagem, pois Sálvío dizia que devíamos obedecer às indicações da Pedra Riscada. Tínhamos, agora, que marchar mais de seiscentos quilômetros para noroeste, até alcançar o Araguaia cerca da ponta norte da Ilha do Bananal. Nossa intenção era atravessar o Araguaia nesse ponto e penetrar no Estado do Pará, seguindo pela fronteira desse Estado com o de Mato Grosso. Sem Quincas, estaríamos todos perdidos. Quincas era um camarada realmente extraordinário, mateiro até às últimas fibras do seu ser. Conhecia o mato, era inteligente, tinha presença de espírito e nenhum segredo da selva lhe era desconhecido. Seu instinto de orientação, infalível. Quando eu não sabia absolutamente em que direção ficava o morro que acabava de deixar, ele o sabia sempre com exata precisão. Aliás, Salvio se orientava igualmente bem, outro tanto sucedendo com Lalau e Tobias, velhos viajantes daqueles ermos. As mulas caminhavam com segurança, evitando atoleiros e lugares perigosos. Só eu me sentia miseravelmente desorientado naquele inferno verde. Se me deixassem sozinho, daria mil voltas em torno do mesmo ponto. Também, não sei me orientar nem num edifício. Depois de entrar nele, nunca sei de que lado é a frente...
***
Marchávamos, agora, ao encontro da Serra dos Chavantes, por um terreno coberto de luxuriante vegetação. Numerosos pântanos se estendiam à nossa frente, sob a floresta espessa, o que nos obrigava a freqüentes rodeios. Atravessávamos constantemente, a vau, córregos, riachos e lagoas. Encontrávamos, também, largos trechos de terreno descoberto, seco e pedregoso.
Foi no oitavo dia de viagem depois de deixarmos o Tocantins, que nos defrontamos com uma imensa lagoa de leito semeado de ilhotas. Pareceu que nas margens e nas ilhas, alguém estabelecera viveiros de aves de todas as espécies. Víamos, de onde estávamos, milhares de asas agitando-se. Se um ornitologista fizesse parte do nosso grupo, teria a maior emoção de sua vida, vendo reunidas ao alcance da mão dezenas de espécies de aves diferentes — grandes pernaltas brancos, juburus pensativos, garças graciosas, pelicanos papudos, siriemas cismarentas, galinholas, patos, e tantas outras! Era um espetáculo maravilhoso! Por longo tempo, ficamos embevecidos na contemplação daquele viveiro natural no seio da mata. Despertou-nos um súbito bater de asas à nossa direita. Um bando de aves levantou vôo com gritos estridentes. Pouco depois, milhares de aves subiam aos ares, batendo as asas, gritando, grasnando, voando em círculos sobre a lagoa.
— Índios! — murmurou Quincas.
Estremeci. Salvio volveu para mim os olhos inquietos. Quincas, Lalau e Tobias apertaram as coronhas das espingardas que haviam retirado dos fardos, e firmaram-se melhor nas selas.
— Não elevemos atirar — disse Quincas. — Não devemos atirar em hipótese alguma, a não ser que sejamos atacados violentamente. Se formos prudentes, não haverá perigo.
E, desmontando, Quincas encaminhou-se resolutamente para o ponto de onde havia levantado vôo o primeiro grupo de aves. Seguimo-lo, depois de prender as mulas em árvores próximas. Antes que alcançássemos o grupo de palmeiras onde ele se internara, Quincas reapareceu, seguido de perto por três estranhas personagens. Duas vinham armadas de arco e flecha, e a terceira arrastava respeitável massa de madeira que, como vimos depois, trazia encaixada na extremidade aguda pedra. Quincas falava com eles e apontava-nos. Os três pararam e fitaram-nos de sobrecenho carregado, soltando monossílabos e sacudindo a cabeça. Eram grotescos esses três selvagens nus, de pele bronzeo-avermelhada. Davam impressão de estupidez e ferocidade, de força bruta, mas não de agilidade e destreza. Pouco depois, formavam, selvagens e exploradores, um só grupo. Eu desconfiava e temia. Quincas, porém, falou:
— Está tudo em ordem. Eles moram na Ilha do Bananal. irão conosco até lá. Em troca, daremos um facão a cada um.
— Não haverá perigo de traição? — perguntei.
— Não. Podemos ter confiança.
— Sempre ouvi dizer que esses índios são ferozes.
— São mesmo, quando os enfurecem com ataques inúteis. Aliás, eu, que conheço toda a bugrada desta zona, posso lhes dizer que a maioria dos índios é mansa, cordata o não tem desejo de guerrear com os brancos. Os índios sabem, porém, que não podem confiar nos brancos, porque estes, sempre que os vêem, começam por atirar sobre eles, Mas os índios têm uma espécie de sentido que os avisa do perigo e os põe de sobreaviso quando os visitantes têm más intenções. Podemos confiar nestes. Sabem que não temos intenções malévolas.
— Não é preciso falar mais — disse Salvio — confiamos em você, Quincas.
Realmente, era o melhor que tínhamos a fazer. O acertado era ouvi-lo e obedecer às suas sugestões.
Começava a escurecer. As tendas foram armadas rapidamente, e as redes suspensas, porque o tempo não estava muito firme. Os três índios desapareceram no mato e a noite se passou sem novidade.
Quando rompeu, o sol já nos encontrou a caminho, guiados pelos três selvícolas, que caminhavam a pé na nossa frente, o corpo ligeiramente curvado para diante, passo rápido, cadenciado e leve. As cabeças dos três moviam-se continuamente para um e outro lado, em constante vigilância. Passavam entre os ramos tão habilmente que não faziam rumor algum e mal moviam os galhos. Esgueiravam-se por entre emaranhados de cipós e arbustos, que nós tínhamos de cortar com facões.
Na vertente da serra dos Chavantes, os três índios foram inestimáveis guias. Sem eles, teríamos que perder muito tempo procurando caminhos praticáveis, evitando banhados. Eles seguiam sem hesitação, por uma trilha que não percebíamos mas que, evidentemente, existia e era clara para seus olhos. Não precisamos atravessar nenhum pântano enquanto os tivemos por guias. Observei que, caminhando, não trocavam palavra. Seguiam em silêncio, um atrás do outro.
Vi um deles flechar uma ave em pleno vôo e ir buscá-la sem titubear no meio da macega espessa. Trouxe-a, depenou-a e ali mesmo fez fogo e assou a ave. Não era hora de almoço, mas os índios não ligam para isso. Comem quando têm oportunidade. A ave foi dividida em três pedaços, cada um apanhou o seu e continuaram a caminhar enquanto arrancavam bocados às dentadas. Soube, depois, que os indígenas comem continuamente, havendo alimento e não estando ocupados em qualquer tarefa que os impeça de o fazer. Também, não havendo alimentos ou estando empenhados em alguma ocupação muito séria, são capazes de passar três ou quatro dias em completo jejum. Aliás, o jejum entre eles é usado e com diversas virtudes. Usam-no para curar quase todas as doenças. Desde que se ache indisposto, o indígena deixa de comer completamente e só bebe água morna, até que se ache inteiramente bom.
Passados dez dias do encontro da lagoa, chegamos ao Araguaia, alguns quilômetros acima da ponta norte da Ilha do Bananal. Quincas calculara a viagem em 20 dias, no mínimo.
Depois de acamparmos, os três meteram-se pelo mato e desapareceram, dizendo que esperássemos. Passada uma hora, reapareceram pilotando uma enorme canoa. Salvio, eu, Lalau e Tobias embarcamos. Quincas iria por terra, com as mulas, para nos encontrar à altura da ponta norte da Ilha.
Descemos o Araguaia, e, nesse mesmo dia, ao entardecer, encostávamos, diante da ilha, onde esperamos por Quincas, que não demorou muito. Surgiu-nos ainda com o sol de fora. Atravessamos todos, então, para a margem fronteira. Ali, cada um dos índios recebeu a sua faca de mato, o que os deixou exultantes de satisfação. Depois, voltaram à sua canoa. Quincas ainda os convidou para nos guiar até o Xingu, mas eles se recusaram terminantemente. Não iriam por coisa alguma, visto como não estavam em boa harmonia com os tapirapés e caiapós e só se arriscariam a entrar em seus territórios em grandes bandos bem armados.
Novamente sós, na manhã seguinte iniciamos a marcha pelo território paraense, rumo ao vale da fronteira que divide as serras do Roncador e dos Gradaús.
O itinerário era o seguinte: Seguir uma linha paralela à fronteira de Mato Grosso e Pará, até chegar ao Xingu. Descer por este rio seiscentos quilômetros, e, tomando por terra, seguir para oeste até encontrar o rio Iriri, atravessá-lo e, seguindo o mesmo rumo oeste alcançar o rio Curuá — nosso objetivo final, de acordo com as conclusões a que chegara Salvio por meio de seus cálculos mágicos.
Durante os dois primeiros dias atravessamos imenso prado semeado, aqui e ali, de pequenos bosques.
Na madrugada do terceiro dia tivemos o mais angustioso despertar de toda a viagem até então: estávamos cercados de selvagens, e Quincas classificou-os logo como tapirapés. Apresentavam-se também inteiramente nus, mas muito bem armados, como se andassem em tarefa guerreira. Tinham aspecto muito desagradável e exalavam um cheiro característico mais desagradável ainda. Fizeram-nos levantar, juntar à pressa tudo o que tínhamos. Depois, rodearam-nos e obrigaram-nos a caminhar para onde eles queriam. Comecei a duvidar seriamente das teorias pacifistas de Quincas, tanto mais que as nossas seis mulas, ao que parece, haviam sido mortas por eles. Talvez não conhecessem esses animais e os julgassem perigosos, mas, de qualquer modo, tive vontade de fazer barulho por causa disso. Quincas dissuadiu-me:
— Seria loucura, “seu” Jeremias. Eles não sabem o que fizeram. Se reclamarmos, vão pensar que estamos com disposição de guerrear, e enfurecem-se. Enfurecidos, são como animais selvagens. Deixem correr. Daqui por diante as mulas de pouco nos iriam servir.
Enquanto Quincas tecia estas ponderações, os tapirapés faziam grande algazarra, empurravam-nos para que andássemos mais depressa. Não compreendiam que nós não sabíamos andar pela selva como eles o faziam. Todas as nossas bagagens iam nos ombros de meia dúzia deles, mas acredito que com a intenção de ficar com eles e não para nos livrar do peso. De repente, um deles deu com o tacape no ombro de Salvio. Salvio gritou e cambaleou. Eu saltei sobre o selvagem e acertei-lhe um murro num dos olhos com uma presteza de que não me julgava capaz. Sangrando, o índio que caíra sentado levantou-se e pulou para mim. Esquivei-me e ele bateu com a cabeça num tronco de árvore com tanta infelicidade que pareceu ter perdido os sentidos. No mesmo instante, Quincas pulava sobre mim.
— Você está louco, Jeremias! Está louco! Eles nos matarão!
— Deixe-me, Quincas! Esses imundos selvagens...
— Cale-se!
Salvio interveio:
— Quincas tem razão, Jeremias. Fique quieto. Eles não sentem as coisas como nós as sentimos... Precisamos não os atacar, não dar sinal de raiva...
— E deixar que eles nos amassem com os tacapes? Ora, Salvio!
Seja como for, os selvagens encararam a coisa de maneira diferente daquela que Quincas esperava. Tangeram-nos novamente para diante, e um deles ficou ao lado do companheiro ferido. Estou absolutamente convencido de que se tornaram mais delicados daí por diante. Penso que o único modo de ensinar cortesia aos selvagens é abrir-lhes as cabeças.
Assim caminhamos o dia todo, sem outro incidente. Já caíra a noite quando chegamos à aldeia, Apesar de estarmos esgotados de cansaço e de fome, mantivemos atitude superior e enérgica.
As cabanas dos índios estavam dispostas pelo terreno sem ordem, aos grupos, sob árvores, em volta do grande terreno limpo de vegetação, mas cheio de detritos de toda espécie: ossos, carcaças meio apodrecidas, frutos estragados, jacás não terminados, pedaços de troncos e galhos de árvores. No centro do terreiro havia um grande galpão coberto de palha, e fechado parcialmente numa das extremidades. Era a “casa dos homens”, na qual as mulheres não podiam entrar sob pretexto algum.
Quando chegamos, houve grande algazarra. Mulheres e crianças, inteiramente nuas, nos rodearam, falando como gralhas. As mulheres me pareciam todas velhas, desleixadas, pouco limpas, com os longos cabelos negros desgrenhados e untados, exalando cheiro desagradável, os imensos seios pendentes e as pernas arqueadas. Algumas traziam ao peito crianças que se agarravam como carrapatos. Os pequenos que andavam pelo chão eram sujos, magros e todos ostentavam enormes ventres. Alguns roíam pedaços de ossos, como animaizinhos. Mas pareciam sadios e alegres, vivos e ágeis. No que todos eram indiscutivelmente de primeira força, homens, mulheres e crianças, era na gritaria, na algazarra que sabiam fazer a primor. Depois, mãos pouco limpas, de grossas unhas enegrecidas, se estenderam para nós, a fim de nos apalpar. Mas repelimos essas carícias indesejáveis, embora sem violência. Estávamos dispostos a não deixar que eles entrassem em liberdade excessiva conosco.
De repente, a algazarra cessou. Mulheres e crianças se afastaram rapidamente. Os homens abriram alas, para deixar passar um enorme selvagem, troncudo, excessivamente enfeitado de penas multicores e trazendo na mão um formidável tacape cheio de pedras incrustadas. Enfiado no braço trazia, também, o maior arco que já vi até hoje. Seu rosto pintado de negro e vermelho era bestial e os pequenos olhos amendoados brilhavam sinistramente. Quando sorriu, vi que tinha os dentes pontudos. Ele se entregava ainda ao antigo costume de limar os dentes com pedaços de pedras. É essa uma operação tão dolorosa que só mesmo homens selvagens ao último ponto a podem praticar. Quando chegou diante de nós, o importante personagem voltou-se subitamente e erguendo o tacape deu uma ordem, num grito gutural. Imediatamente, como atingidas por descargas elétricas, as mulheres e as crianças, que ainda tinham ficado por ali, se rasparam e sumiram por trás das choças e das árvores. Os homens afastaram-se mais, e em volta de nós ficou um grande espaço. Aquele que comandara o bando na floresta permaneceu diante do grande cacique. Entre os dois estabeleceu-se logo um animado diálogo, de sons guturais acompanhado de muitos gestos. Ao fim de longo tempo, o chefe do bando da floresta afastou-se e foi ter com os outros. O homenzarrão, então, dirigiu-se a Quincas, em tom solene, e empolando o peito. Quincas respondeu-lhe, no mesmo tom, como se estivesse declamando um discurso. Eu estava com uma vontade doida de rir. Durante mais de uma hora os dois ficaram “batendo papo”. Escurecera. Já haviam acendido várias fogueiras no grande terreiro, quando o homenzarrão encostou a testa na testa do nosso companheiro. Em seguida os dois fizeram uma profunda curvatura, retirando-se o homenzarrão tão majestosamente como chegara. E então ficamos em liberdade.
Só mais tarde é que soubemos o que se passara durante a longa e grotesca conferência. O fato de termos sido aprisionados pelos índios era normal. Eles aprisionavam qualquer pessoa que encontrassem e não pertencesse à sua tríbo. O cacique, aquele homenzarrão que aparentava tanta importância, pensara que éramos conquistadores, que vínhamos para lhes preparar uma cilada a mando dos chavantes, ou por conta dos brancos para tomar posse das terras. Quincas, porém, soube convencê-lo de que nada disso era verdade, mas que, ao contrário, queríamos ir para diante, até ao rio Xingu, e mais para a frente ainda. Ele ficou de conversar conosco na manhã seguinte, para resolver sobre a nossa sorte.
Não dormimos muito mal sobre a palha, numa choça que Lalau e Tobias limparam o melhor possível.
Mal havia despontado o sol, vieram-nos buscar, para ir à “casa dos homens”, onde já nos esperavam o cacique e mais alguns homens importantes da tribo. Salvio, que ia ao regato lavar-se, quando nos chamaram, estava sem camisa, com o torso nu. E assim que o cacique deu com os olhos no “muirakitã”, tremeu, e, perdendo a imperial compostura, levantou-se, chegou-se ao meu calvo amigo e quase encostou o nariz na pedra verde, para olhá-la melhor. Estava positivamente apavorado. Voltou-se para Quincas e disse precipitadamente meia dúzia de palavras. Quincas foi saindo, pedindo-nos:
— Venham, venham... Depressa.
— Que aconteceu, Quincas? — perguntou Salvio. Parece que o homenzinho se assustou com isto... isto...
— Não sei o que houve. Mas ele disse que estamos livres e poderemos partir quando quisermos. Pediu que saíssemos porque tinha assunto muito importante para tratar com os seus companheiros.
Rindo, Salvio afastou-se na direção do regato. E pouco depois, quando estávamos todos reunidos, apresentaram-se dois índios, moços e fortes, que nos fizeram mesuras oferecendo-nos grandes pedaços de carne assada.
Comemos e, durante a comida, Quincas conversou com eles.
Soubemos, então, que os dois estavam destacados, pelo cacique (a quem chamavam Piaia) para nos acompanhar até o Xingu. Era uma sorte, tanto mais que eles carregariam a maior parte da nossa bagagem.
Sentimos, também, que a nossa partida estava sendo apressada. Realmente, deixamos a aldeia cerca das dez horas da manhã, escoltados pelos dois índios.
Não é fácil acompanhar os tapirapés em sua caminhada pela mata. Estão no seu elemento natural. Movem-se com agilidade incrível, por mais pesados que pareçam; pulam, desviam-se rapidamente, evitam galhos e cipós, e prosseguem sempre. Já nós, nos embaraçávamos freqüentemente nas lianas, nos galhos, pisávamos a terra fofa que cobria mundéus — e nos cansávamos terrivelmente, ao passo que eles pareciam nem sentir a caminhada.
Seguíamos em fila de um, e procurávamos repetir os movimentos do índio que nos ia à frente. O outro índio caminhava aparentemente ao acaso. Ora ia à frente, ora atrás, ora à esquerda e ora à direita. Às vezes desaparecia durante muito tempo, e, quando assim acontecia, correspondia-se com o companheiro por meio de sons que imitavam o canto de algum pássaro. Ao reaparecer, às vezes dizia ao outro índio algumas palavras em voz baixa.
Ora, foi numa dessas vezes em que ele se demorou muito, que ouvimos ruído suspeito no mato. Depois, vozes humanas. Alguém berrava frases inarticuladas. O nosso guia índio fez-nos sinal para ficarmos quietos, e pulou para o mato, desaparecendo sem fazer barulho. Momentos após, estalou um enorme berreiro acompanhado de ruídos estranhos.
— Vamos ver — disse Quincas. — Parece que estão brigando.
Metemo-nos no mato, e logo demos com o mais inesperado dos espetáculos: numa clareira, os nossos dois guias batiam-se terrivelmente com um outro selvagem. Mas que selvagem! Era branco e tinha os cabelos completamente louros. Lembrou-me um wiking das lendas escandinavas, e era tão feroz como aqueles o tinham sido. Os três lutavam com seus tacapes. Apenas, a massa usada pelo louro era maior e mais pesada que as outras duas juntas. Os três lutavam com inexcedível agilidade. Os tacapes cantavam no ar, e eles gritavam diabolicamente. Receamos que os nossos dois guias matassem o louro e pedimos a Quincas que os fizesse parar. Quincas berrou, mas não conseguiu nada. Os três continuavam a malhar, como se fosse aquela uma obrigação indeclinável. O louro defendia-se e atacava valentemente. Era um ser estranho, completamente nu. A pele era morena, queimada pelo sol, mas os cabelos muitos longos lhe caíam pelas costas largas. Sobrancelhas e bigodes, também louros e eriçados. Era enorme e extraordinariamente forte. Menos ágil que os dois tapirapés, levava alguma vantagem porque descrevia, com seu enorme tacape, molinetes terríveis, capazes de esmagar tudo que surgisse em frente. Brandia-o com tamanha violência que só a fenomenal agilidade desenvolvida pelos dois adversários os livrava da morte. Quando aqueles cacetes se entrechocavam no ar, soavam cavamente. E, ao mesmo tempo em que desenvolviam o singular combate, os três gritavam e se xingavam valentemente, como se isso fizesse parte indispensável da luta.
Nós cinco ali continuávamos parados a pequena distância, impotentes, contemplando o combate que só poderia terminar com sangue e morte.
De repente, um dos tapirapés rolou pelo chão, e o sangue espadanou em volta. Quando o corpo se imobilizou ao lado de uma moita, não vimos senão u’a massa sangrenta dos ombros para cima. E no chão começou a crescer rapidamente uma poça rubra.
Os outros dois, no entanto, continuaram a combater, como se nada tivesse acontecido. No minuto seguinte vi distintamente o tacape do gigante louro cair sobre o ombro do tapirapé. Não recordo como senti o ruído dos ossos esmagados, mas foi coisa medonha. O tapirapé fez uma careta horrível e ficou rígido, de pé, imóvel. O louro, aproveitando a oportunidade, descarregou-lhe o tacape na cabeça, de cima para baixo. A cabeça desapareceu literalmente, e de sob o tacape que se enterrara no corpo do pobre índio espalhava-se qualquer coisa como uma massa de morangos com creme esmagados. As pernas do tapirapé vergaram e o corpo desabou.
O grande selvagem louro sorriu enorme sorriso que lhe deixou à mostra os dentes amarelos e pontudos. Colocou sobre os ombros o tacape cheio de sangue e caminhou sorridente para nós. Tobias, cheio de susto, apontou-lhe a garrucha e gritou: “Pare!” O selvagem, porém, com o sorriso imobilizado na face, continuou a caminhar. Ouvi Quincas gritar a Tobias que não atirasse. Mas no mesmo instante o tiro partia. O selvagem louro deu um pulo, segurando o estômago com as duas mãos, berrando feito louco. Depois, torceu-se sobre si mesmo, e, dobrando as pernas, rolou para o chão, como um tronco abatido.
Quincas, furioso como eu nunca o vira, atirou-se sobre Tobias e deu-lhe algumas fortes bofetadas. Tobias empurrou-o, e Quincas cambaleou, tropeçando e afastando-se. Nesse momento — nós nem tínhamos ainda compreendido bem o que se passara, — ouviu-se uma algazarra no mato, e logo um terrível som cavo, e Tobias era atirado longe enquanto soltava um urro de animal abatido. Corremos, e quando o rodeamos, ele já estava morto. Em seu peito estava enterrado profundamente um machado de pedra que lhe afundara toda a caixa toráxica. O sangue saía grosso, muito escuro, em enormes borbotões.
E foi então que caiu sobre nós o bando de selvagens louros. Eles deviam ter assistido a tudo, desde o início, empoleirados nas árvores próximas, porque saltavam delas como macacos, rodeando-nos. Eram uns trinta, ou mais, e cada um deles era a reprodução do outro. Todos iguais. Altura acima da normal, muito fortes, torsos enormes, braços compridos, peludos, de longos cabelos, longas barbas emaranhadas, longos bigodes — tudo louro, de um louro queimado. Traziam machados de pedra encastoados em fortes cabos de madeira. Da cinta de couro que lhes cingia os rins, pendiam outras armas, que deviam ser punhais de bambu. Estavam nus, não tinham tatuagem nem pintura, nem enfeite algum. Apenas aquele cinto de couro e as armas. Urravam como animais e seus pequenos olhos azuis refletiam ferocidade.
Rodearam-nos pulando, berrando, brandindo seus pesados machados — e juro que nesse momento considerei encerrada para sempre a nossa aventura. Se aqueles diabos ruivos se lembrassem de manejar seus machados, com certeza as nossas armas não teriam tido tempo de entrar na luta. Mas eles não se lembraram. Rodearam-nos e impeliram-nos brutalmente para a frente. Usaram, sim, seus punhais de bambu. Eu e os outros sentimos, por várias vezes, as pontas agudas cotucarem-nos a pele. E não passou disso. Tínhamos que andar, andar de qualquer maneira, aos trancos, por lugares onde não havia caminho. E se andamos!... Nenhum obstáculo nos fazia parar! Eles vinham aos guinchos, correndo, parando, subindo às árvores, pulando para o chão — como verdadeiros macacos.
Mas quando escureceu, notamos que a vivacidade deles diminuía consideravelmente. Tornavam-se inquietos à medida que a noite se aproximava. Já não corriam. Caminhavam o mais junto possível, olhando ansiosamente para todos os lados. Em seus olhos havia medo. Quando a noite desceu, eles pararam, reunidos em bloco, e discutiram com voz alterada. Em seguida, apressados, juntaram um monte de galhos e, fazendo fogo laboriosamente com dois pedaços de pau, acenderam a grande fogueira.
E a paisagem, a fogueira e os estranhos selvagens louros — tudo tomou o aspecto irreal de um conto de fadas, à claridade bailante das chamas. Eles pareciam ter-nos esquecido completamente. Sentaram-se o mais perto que puderam da fogueira, quase amontoados, de tão juntos. Falavam pouco e em voz baixa. Por duas vezes notei que quando um deles se erguia para dar alguns passos, tropeçava como se estivesse tonto, ou cego.
Duas horas se passaram, mais ou menos. Agora, eles estavam silenciosos, caídos nas mais inverossímeis posições, amontoados uns sobre os outros. Dormiam. Salvio falou:
— Escutem... esses homens têm medo do escuro...
— Acho que eles não enxergam nada de noite — disse eu.
— Por isso mesmo é que devem temer as trevas...
Tendo chegado a esta conclusão, concluímos também, naturalmente, que estávamos livres. Podíamos escapar-lhes quando quiséssemos, durante a noite. Eles jamais nos perseguiriam. E Lalau propôs que escapássemos naquela noite mesmo.
— Não — disse Salvio. — As intenções deles para conosco não podem ser más. Se quisessem, já nos teriam trucidado e eu tenho interesse em observar melhor esses selvagens. Há muito poucas referências a uma tribo de selvagens louros, no Brasil. Estamos diante deles, o que talvez não tenha acontecido a explorador nenhum, e devemos aproveitar esta rara oportunidade. Acho que devemos arriscar-nos em sua companhia por mais um dia ou dois. Escaparemos quando quisermos, durante a noite.
Discutimos um pouco sobre o assunto. Eu e Lalau achávamos mais prudente fugir logo. Quincas, porém, era de opinião que não corríamos perigo algum, e, assim, resolvemos ficar. A noite foi tranqüila. O silêncio era interrompido apenas pelos ruídos normais da selva e pelos roncos dos selvagens adormecidos. Aliás, eles não fizeram senão roncar. Dormiram a noite toda de um sono ininterrupto e pesado.
A marcha do dia seguinte foi penosa. Subíamos interminavelmente por um espigão ressequido, sem sombras, nem água. E nesse dia vimos como os selvagens louros eram magníficos caçadores. Usavam boleadeiras. Atiravam-nas de longe, violentamente e o animal ficava com as pernas de tal modo peadas que rolava pelo chão, sendo em seguida abatido com o tacape. Nesse dia usaram as boleadeiras por três vezes, e de cada vez foi abatido um bom veado. Tínhamos, assim, comida abundante. Eles comiam a carne crua, e ficaram admirados quando nos viram assar os nossos pedaços.
Por várias vezes tentamos entabular conversa com eles, mas sem resultado. Salvio, pelo fim do dia, disse-me que deviam ter uma espécie de inteligência “diferente” da nossa. E ao anoitecer, continuávamos diante de um mistério. Não nos maltratavam, não nos entendiam, não se preocupavam conosco — faziam-nos caminhar para um destino que nos era completamente desconhecido.
Com a vinda das sombras, repetiram-se exatamente as cenas da noite anterior. Começaram a tropeçar, tontos. Detiveram-se, afinal e acenderam uma grande fogueira.
É interessante notar que procediam como verdadeiros animais. Não tomavam outra precaução senão acender as fogueiras. Depois deixavam-se cair em qualquer lugar e adormeciam em seguida.
A noite estava muito quente e abafada, como os dois dias anteriores. Nós não podíamos dormir, tanto era o calor e tamanha a sede que nos martirizava.
Mas de repente começou a soprar a ventania e logo uma chuvarada compacta caiu sobre nós, dando-nos deliciosa sensação de frescor. Estávamos, agora, no alto do morro, onde se levantavam algumas árvores, que pareciam cobertas de prata ao violento clarão dos relâmpagos.
Subitamente estourou um estrondo ensurdecedor. O céu e a terra foram violentamente iluminados, e uma das árvores, como envolta em manto de luz, torceu-se e abateu-se sobre si mesma.
Pois nem todo esse infernal ruído acordou os selvagens louros ou fez com que eles se movessem. Continuavam amontoados no chão, imóveis, inermes, como coisas que nada tivessem a recear dos elementos desencadeados. Tinhamo-nos posto de pé, e conservamo-nos unidos uns aos outros, imóveis também e fascinados pelo empolgante espetáculo. A sensação de frescor que havíamos sentido ao início da chuva, se transformara agora em intolerável mal-estar, porque o temporal era demasiado violento para o nosso gosto. Nossas bagagens, envolvidas em oleados, estavam amontoadas junto a um tronco de árvore caído e brilhavam na escuridão sob os relâmpagos deslumbrantes que se sucediam rapidamente, iluminando as desoladas cercanias. Foi depois de uma série quase ininterrupta de quatro ou cinco relâmpagos que Quincas berrou:
— Olhem à esquerda! Rochedos!... Quem sabe se há alguma caverna ali?
Pusemo-nos a correr para o grupo de rochedos. Alcançado, percorremo-lo, procurando uma cavidade onde nos pudéssemos abrigar. Pouco depois, estávamos no interior de ampla caverna aberta na face de um dos rochedos. Encharcados até aos ossos, sentíamos grande satisfação por ficar fora do alcance daquele tremendo dilúvio. Era suficiente sentir um teto sobre a cabeça, para que a impressão de conforto fosse grande — tal é a capacidade de adaptação do homem às mais diversas situações.
A tempestade não amainava. Ao contrário, parecia recrudescer. Nunca em minha vida vi cair tanta água! Por perto caíam raios. Ouvíamos estrondos ensurdecedores, e tínhamos que fechar os olhos, deslumbrados pelos fortíssimos clarões.
Depois, o vento mudou e começou a atirar a chuva para dentro da nossa caverna em catadupas horizontais. Fomos fugindo, recuando para o fundo, até chegarmos à parede que fechava a gruta. Subimos ao ressalto que a rodeava como um rodapé, e ali ficamos os quatro, imóveis, olhando. E havia o que ver! A gruta tinha uma estranha conformação. Seu solo era mais baixo que o nível do chão lá fora. Parecia um fundo de bacia. E nesse fundo a água se foi acumulando pouco a pouco, até que, passado algum tempo, nos víamos diante de um lago. Sobre o ressalto estávamos a seco mas a água continuava a subir, porque o vento empurrava a chuva para dentro em catadupas. Se continuasse a subir assim, em breve teríamos que ficar mergulhados.
— Jeremias! — gritou Sálvío — Isto está ficando preto! Parece um túmulo! Não sei o que vamos fazer daqui a pouco!
— Logo que clarear saberemos — disse eu, embora me sentisse talvez mais inseguro do que ele.
Lalau começou a queixar-se. Estava inquieto.
Não há motivo para desespero — dizia eu, que resolvera ser o “forte” da turma. — Daqui a pouco a madrugada iluminará tudo, e poderemos sair. Não é preferível estar aqui abrigados da chuva do que lá fora?
Não sei o que Lalau ia responder, porque, nesse instante, a água alcançava o ressalto onde estávamos trepados. Acho que pulamos, mas não me lembro bem. Ouvimos um estrondo que encheu toda a caverna, e senti que me faltava o chão sob os pés. Em seguida, uma avalancha líquida me agarrou e atirou para baixo. Fui arrastado para um negro corredor, entre águas espumantes. Era atirado daqui para ali e meu corpo batia contra obstáculos sem conta. O cérebro funcionava, porém, em meio a essa dolorosa balbúrdia, e num décimo de segundo compreendi o que acontecera: O ressalto aluíra, escavado pela água, e a torrente, agora, se atirava para alguma galeria existente no fundo da caverna, arrastando-nos.
Quanto tempo durou aquela tortura? Não sei, mas, tão inesperadamente como tudo o que nos vinha acontecendo me senti preso pelas roupas a qualquer coisa firme. Atirei os braços para a frente e as mãos agarraram firmemente uma ponta de rocha. Pude, então, erguer o corpo e respirar. Depois, procurei consolidar a minha posição. A água escachoava, furiosa, em redor de mim na escuridão e espumava despedaçando-se contra a rocha onde me recolhera.
Ao que me recordo, minha impressão mais profunda foi de que jamais conseguiria sair daquele túnel sinistro, jamais tornaria a ver o azul do céu, o verde das matas...
CAPÍTULO 12
OS TÚMULOS INVIOLÁVEIS
Voltei a mim sob impressão de paz infinita, de total quietude. Estava encharcado. Mas foi uma violenta dor no ombro direito que me fez recordar do que acontecera: os selvagens louros, a tempestade sobre o morro, a caverna, a enxurrada subterrânea. Acomodei-me melhor sobre a rocha onde estava preso pela roupa, e quis pensar. Mas não pude. A dor no ombro era forte, e a confusão no meu cérebro tremenda. Meus olhos ansiosos procuravam inutilmente uma réstia de luz. As trevas eram totais e palpáveis.
Depois, compreendi que era preciso sair dali. Precisava andar. Mas, em que direção? Levantei-me, e, ao acaso, tateando com os pés e as mãos, dei um passo. Resvalei e caí dentro da água. Era um regato que rolava com violência. Devia ser o resto da água da caverna, que se escoava para o fundo da terra. Foi então que consegui elaborar o primeiro raciocínio: Se descesse, afundaria nas entranhas da terra; subindo, chegaria à caverna e à liberdade.
Estava tão cansado que a subida foi uma tortura. Tropeçava e caía a todos os momentos. Quando avistei o clarão, minhas mãos e minhas pernas, de tanto se arrastarem pelas arestas das pedras, sangravam. Mas aquela luz dúbia foi um forte estimulante e um restaurador de forças. Continuei subindo com maior segurança e, pouco depois, chegava à caverna.
Agora, o fundo era um lodaçal escuro, mas, lá fora, o sol brilhava com tanta intensidade que me deu vontade de gritar de alegria. Acreditei, naquele momento que a gente sofre mais com as trevas do que com fome ou sede.
Corri para o sol, chapinhando pelo chão escorregadio. Atravessando o pequeno espaço por três vezes resvalei e me estendi a fio comprido na espessa camada de lama. Mas como era gostoso, depois, desgrudar da pele as placas de lama ressequida!
Devia ser meio dia, porque o sol estava a pino. Tínhamos, então, passando o resto da noite e metade do dia dentro daquele túnel! Vendo que era tão tarde, meu egoísmo teve que recuar, para dar passagem a outros sentimentos:
— Onde estariam Quincas, Salvio e Lalau?
Em redor, havia rochas, desolação e por cima o sol glorioso. Dentro da caverna, a lama estava secando e começava a rachar, e ao fundo, a entrada negra do túnel parecia convidar-me para uma descida ao inferno. Era um abismo, e, como todos os abismos, atraía.
De repente, vi qualquer coisa que se mexia sobre as pedras, na entrada do túnel. Estremeci. Seria alucinação? Olhei bem. Pus-me de pé e fixei os olhos. Sim. Alguma coisa escura se mexia ali. Corri. Patinhei de novo na lama e cheguei ao fundo. Estendi o braço e minha mão trêmula segurou outra mão, ansiosa, que procurava se agarrar à saliência da rocha. Reconheci o grande anel simbólico onde duas runas ladeavam a pedra consagrada. Era a mão de Salvio. Puxei-a, e o rosto sangrante do meu amigo surgiu. Ele abríu os olhos e de seus lábios inchados saíram umas palavras:
— Jeremias!... É você? Então...
A voz morreu, num fio. A cabeça tombou pesadamente. Tive que o escorar, para que não rolasse para a lama da caverna. Entrei no túnel, para levantar o seu corpo e poder tirá-lo dali, mas fiz outra descoberta. Atrás de Salvio, bem nos seus calcanhares, estava outro corpo. Era Quincas, deitado na água, com o rosto meio mergulhado. Ao que parece, Salvio viera subindo e arrastando o nosso valente guia. Acomodei Salvio da melhor maneira que pude e puxei Quincas para cima. Pu-lo ao ombro e levei-o para fora, estendendo-o no chão, ao sol. Depois, fui buscar Salvio e fiz o mesmo com ele. Ali ficaram os dois lado a lado, sob o calor vivificante do sol que descambava.
O estado dos meus dois companheiros, como o meu próprio aliás, era deplorável. Roupas rasgadas, enlameadas, mãos, rosto e pernas feridos e ensanguentados.
E Lalau? Estaria vivo ainda? Teria sido arrastado ao fundo do abismo pela enxurrada?
Pensava nisso, sentado ao lado dos dois, e fazia planos para ir em busca do companheiro perdido quando ouvi uma voz rouca:
— O Xingu! O Xingu! Vamos atravessá-lo!
Era Salvio que se sentara e, com olhos desmedidamente abertos, fitava os rochedos em frente.
— Onde está o Xingu? — perguntei, inadvertidamente.
— Além — disso ele estendendo o braço para oeste — precisamos atravessá-lo depressa.
— Acorde, Salvio! Você está sonhando!
Salvio estremeceu, deixou cair o braço e fitou-me.
— Que é?
— Você estava alucinado, Salvio.
— Não era alucinação, Jeremias. Eu vi o Xingu. Vi nas suas margens um grupo de homens de tez bronzeada, vestidos com roupas brilhantes, muito justas...
— Foi sonho, Salvio. Você esteve sem sentidos até agora. Precisa comer alguma coisa e descansar. Acabamos de voltar do abismo.
Só então ele pareceu enxergar o que em realidade o rodeava. Olhou em torno, olhou para mim e para Quincas, que continuava desacordado. Por último, fitou a caverna e a entrada do buraco negro, ao fundo.
— Como é que saímos daquele túnel?
— Não sei. O fato é que saímos.
— E Lalau?
— Lalau não saiu. Só nós três.
— Então, temos que ir procurá-lo.
— É claro. Precisamos ir procurá-lo.
Quincas moveu-se e, pouco depois, acordava. Parecia ter presente na memória tudo o que havia sucedido, porque perguntou logo pelo companheiro ausente.
Quando soube que Lalau ainda não voltara do túnel, levantou-se e, cambaleando, falou:
— Vamos procurá-lo. Não podemos abandonar assim o nosso companheiro.
— Vamos, sim, Quineas. Eu só esperava que vocês dois acordassem. Mas estamos fracos para tentar qualquer coisa. Temos que esperar um pouco, senão, nós também ficaremos por lá. Primeiro tratemos de comer.
E os três nos pusemos a caminho do último acampamento onde tinham ficado os selvagens louros.
O que encontramos não era absolutamente alentador. Dos trinta selvagens que na véspera ali tinham acampado conosco restavam três, e, esses mesmos, estavam mortos, esmagados sob os troncos de duas árvores que haviam desabado sobre eles durante a tempestade. Ao lado, um enxame de moscas azuis zunia sobre os restos de um dos veados caçados no dia anterior. Dos outros selvagens, nem sinal. Ou tinham sido arrastados morro abaixo pela enxurrada, ou haviam partido para seu ignorado destino, sem se importar com o que nos acontecera. O fato era este:
Ali estávamos nós, sozinhos diante do desconhecido, tendo no lado três cadáveres e alguns pedaços de veado. Não eram muito brilhantes as nossas perspectivas. Quincas, porém, não perdeu tempo. Começou a escolher alguns galhos secos para fazer fogueira e mandou-nos separar pedaços de carne de veado. Enquanto a carne assava, procuramos as nossas coisas. Nada mais restava. Os nossos fardos de utensílios e roupas haviam desaparecido. Encontramos três boleadeiras, dois arcos, quatro tacapes e grande número de flechas com pontas de osso e pedra — coisas estas que haviam ficado emaranhadas nos galhos de uma das árvores caídas. Essa, era a nossa riqueza, esses, todos os nossos recursos para empreender a longa caminhada que ainda nos restava. Depois de comermos com valente apetite, arrumamos como nos foi possível os pedaços de carne ainda aproveitáveis e, tomando as armas, voltamos aos rochedos.
A descida pelo tortuoso corredor subterrâneo não era coisa fácil. Nem mesmo os archotes de madeira resinosa, que Quincas arranjara, conseguiam iluminar a contento os tenebrosos meandros do túnel. A sombra de Salvio, que ia à minha frente, dançava fantasticamente na parede. Ele parecia dar pulos frenéticos e repentinos, ora alçando-se ao teto, ora esmagando-se no solo. O regato era um tênue fio de água, que descia sôfrego, serpenteando. Mas o solo e as paredes da galeria brilhavam com reflexos azulados e marrons.
— Terreno vulcânico — murmurou Salvio acordando ecos milenares. Isto deve ser uma antiga chaminé de vulcão, para escoamento de lavas. Estamos descendo para o caldeirão onde a natureza preparou os seus cozimentos minerais.
Quincas, que vinha examinando atentamente o chão, disse de repente:
— Por aqui tem passado muita gente!
Salvio olhou-me, espantado. Aquilo era tão incrível, como se ele tivesse dito que a galeria de paredes vidradas havia sido escavada por mãos humanas. Paramos para examinar o solo, e tivemos que nos convencer de que Quincas dissera a verdade. O solo estava gasto, liso, como se fosse um caminho trilhado por milhares de pés durante número infinito de anos. As pontas, as arestas, estavam arredondadas, e, nos pedaços planos, o desgaste fizera um leito sensível.
— Sem dúvida, há desgaste — disse Salvio. Mas pode ser feito pelas pedras que rolam e se arrastam quando a água faz enxurrada.
— Isso não — atalhei eu. — A água nunca desceu por aqui. Vocês bem viram que o anteparo de rocha que cobria a entrada do túnel rebentou esta noite. Antes disso, a água não poderia ter penetrado. Foi um acidente ao qual assistimos. Decerto, durante outras tempestades, a caverna pode ter ficado alagada, mas o anteparo nunca deixou a água passar para o corredor. Se a água sempre se escoasse por aqui, o anteparo não teria rebentado esta noite.
— Jeremias tem razão — disse Salvio. — Deve ser isso mesmo, e eu gostaria de ter visto a caverna à luz do dia antes de se ter rebentado o anteparo. Havia, possivelmente, uma porta dissimulada que dava para este corredor. Mas vamos, é preciso não perder tempo. Lalau deve estar lá no fundo, em qualquer canto.
Continuamos a descer, já tomados de um sentimento confuso de respeito e maravilha. E não havíamos descido muitos metros, quando Quincas, que ia na frente, nos fez parar:
— Venham! Venham ver isto!
Corremos e logo alcançamos o nosso amigo, que estava parado, olhando.
Naquele ponto o corredor fora alargado e estava fechado por uma parede de pedra, formando pequeno salão. Na parede, estreita porta dava passagem para diante, onde o túnel continuava. Dos dois lados da porta a rocha fora artisticamente trabalhada, expondo ao nosso olhar sôfrego dois magníficos alto-relevos. O da esquerda representava um enterro. Dois homens caminhavam carregando uma rede suspensa de um pau que se apoiava em seus ombros. E dentro da rede estava o corpo a caminho da última morada. À direita, o corpo estava estendido sobre uma mesa, dentro de uma sala redonda em abóbada. Ao lado da mesa viam-se os dois homens que haviam transportado o cadáver. A parede da caverna, em volta da mesa, apresentava aberturas redondas, de misteriosa utilidade. Os homens que víamos ali tinham barba — e isto era desnorteante, porque as raças ameríndias que conhecemos não são barbadas. Que homens eram aqueles, então? As esculturas que evidentemente se completavam para representar o ato da inumação eram perfeitas nos seus menores detalhes e tinham aquele ar sutil, inexplicável, das obras de veneranda antiguidade, produto de civilizações despenhadas na voragem dos séculos. Além da barba, os homens traziam o cabelo comprido e vestiam espécie de túnicas amarradas à cintura por um grosso cordão. Os pés estavam calçados de sandálias de solas grossas presas com correias trançadas.
Tínhamos examinado as esculturas em silêncio, um maravilhado silêncio tão pesado como os séculos sem conta que deviam ter passado mudos por aquelas pedras lavradas. Comecei, de repente, a sentir uma sensação estranha, de angústia impotente contra o mistério insolúvel. As trevas que se prolongavam além da porta pareciam estender-me braços gelados. E o silêncio gritava-me ao ouvido frases inconsoláveis:
— Esta é a casa dos mortos! Esta é a casa dos mortos! Não sairás mais daqui! Nunca mais! Nunca mais!
Estremeci. Quis falar, mas não pude. O silêncio e as trevas me apertavam insidiosamente a garganta seca. Depois, como rolha de champanha que salta subitamente, minha voz ecoou:
— Salvio!
E este nome, assim pronunciado bruscamente, foi como um soco violento desferido no silêncio imóvel. Os dois se voltaram para mim, espantados. Eu devia estar com a fisionomia transtornada, porque Salvio me segurou pelos ombros e perguntou, ansioso:
— Que foi, Jeremias? Que aconteceu? Que tem você?
— Voltar... vamos... voltar!
— Voltar? Voltar? Você está louco? Voltar por que? Voltar, justamente agora que estamos no limiar de grandes descobertas? Ouviu, Jeremias? Grandes descobertas! Estamos na pista de um empolgante mistério! Estamos diante da mais extraordinária das revelações com respeito à pré-história deste continente! Estamos com as mãos sobre o misterioso passado da América — e você fala em voltar! Olhe para essas figuras! Olhe, Jeremias! Contemple essas esculturas feitas por mãos que desapareceram quem sabe há quantos milênios! Olhe para elas!... Não lhe sugerem nada?
— Não... — balbuciei olhando lamentavelmente para as figuras de pedra. — Não sugerem... Que haviam de sugerir?
— Olhe bem!
— Estou olhando... Que é?
Salvio lançou-me um olhar que eu jamais poderia classificar entre os olhares humanos. Depois, lentamente, apertando-me o braço, perguntou:
— Estes homens das esculturas são os selvagens do Brasil?
Caí em mim. Compreendi onde Salvio queria chegar. Senti-me subitamente empolgado, arrastado.
— Tem razão! Eu devo estar louco! Eles têm uma semelhança muito remota com os nossos selvagens... Mas não são os mesmos!
— Que lhe parecem?
— Serão egípcios?
— Não. Têm algo que lembra os egípcios; não o são, porém.
E Salvio olhou longamente, apaixonadamente, para as figuras esculpidas. Depois, voltou-se para mim e pronunciou uma palavra, uma só... mas que palavra! Que mundo estava encerrado nela!
— Atlantes!
Não tive um único segundo de dúvida. Compreendi imediatamente que assim era, que aqueles homens antigos que transportavam um defunto eram atlantes! Nem me ocorreu, no momento, quão extrordinária e temerosa era essa hipótese, quão arrojada e improvável era essa afirmativa de Salvio! Nada disso. Aceitei, simplesmente, como se estivesse vendo fotografias de pessoas conhecidas: eram atlantes!
Olhei mais respeitosamente para aqueles seres de barbas e grossas sandálias de couro... Atlantes! E pela segunda vez me assaltou a vertigem.
Braghine, Braghine! Por que não estás conosco neste sertão do Brasil central? Por que não desceste conosco a este tenebroso túnel? Por que não vens olhar estes alto-relevos que seriam um hino de glória para os teus olhos? E esta porta, Braghine, talhada pelas mãos dos atlantes, desses atlantes em que tanto acreditaste — esta porta talhada diretamente no cristalino, no alicerce vivo do globo — isto seria para os teus sentidos um deslumbrante poema! Aqui estão eles, Braghine! Os atlantes! Pela primeira vez, no mundo, aqui estão, reproduzidos numa escultura, os teus amados atlantes! Braghine! Jean Carrére, Ernesto Morales, Capdevila... todos! Todos vós que acreditastes nos atlantes, todos vós que sabíeis da verdade em vossos corações — por que não estais aqui conosco?
A voz de Salvio me arrancou subitamente ao delírio. Senti que meu cérebro, por um segundo, estivera vacilando à beira do abismo. Aquela voz de Salvio parecia vir de muito longe e o contacto da mão que me tocou o braço me deu a sensação de violento choque elétrico.
— Vamos. Lá em baixo deve haver coisas...
— Hein? Ah... sim... lá em baixo... os atlantes...
Foi então que Quincas falou pela primeira vez, e tanto sua voz como suas palavras, estranhamente prosaicas e deslocadas naquele ambiente encantado, me chamaram definitivamente à realidade:
— Não sei como ainda não encontramos Lalau...
— Deve ter sido arrastado até ao fundo pela corrente — disse Salvio. — Descendo havemos de dar com ele.
E nós dois compreendemos que, desumanamente, havíamo-nos esquecido do motivo da descida pela chaminé vulcânica. Já não nos lembrávamos de Lalau, do nosso companheiro desaparecido. Lançamos um último olhar às maravilhosas esculturas, e seguimos Quincas que já atravessara a porta e continuava a descer. Emparelhamos com ele.
— Aquilo é muito importante? — perguntou Quincas.
— Aquelas esculturas? — dise Salvio. — Sim. São importantíssimas! As mais importantes que se encontraram no mundo até hoje. São tão importantes que quase nos fizeram esquecer do Lalau.
— Mas qual é a importância delas?
— Só por elas, fica provado que não fizemos uma viagem inútil, Quincas. Mesmo que não encontrássemos mais nada — isto seria o bastante. Essas esculturas têm, talvez, cem mil anos. Quando foram feitas, não havia ainda civilização alguma no Egito, as pirâmides estavam muito longe de ser imaginadas, a Grécia não existia ainda, a China tido tinha se formado... Isso foi quando a Atlântida, ainda à flor da água, era a célula-mater da humanidade, e os atlantes eram os senhores do mundo — um mundo bem maior do que aquele que os romanos tanto se orgulhavam de dominar... Eles viveram aqui, e a sua alta cultura está provada por essas esculturas que acabamos de ver. Eles viveram aqui, no Brasil, neste pedaço do Brasil! Compreende como isso é importante, Quincas?
— Compreendo. Mas, Lalau...
— Você tem toda razão. Vamos procurá-lo.
Continuamos a descer, e, algum tempo depois, desembocamos na ampla caverna circular. Era tão grande que as paredes do fundo mal se percebiam apesar dos três archotes que empunhávamos. O que primeiro nos chamou a atenção foi um bloco de pedra branca, colocado no centro da imensa caverna. Avançamos pelo chão lamacento. O bloco era de mármore e tinha a forma de pirâmide truncada. Sobre ele estava uma grande taça de mármore, maravilhosamente esculpida e polida. A taça estava enegrecida por dentro e, no fundo, vimos uma camada de óleo endurecido — pelo menos assim nos pareceu.
— Um altar de perfumes! — disse Salvio. — Aqui eram queimados óleos aromáticos.
Mas a voz de Quincas veio de longe:
— Aqui está ele... morto!
Quincas estava curvado, lá longe, na parte mais baixa da caverna. Seu archote punha reflexos rubros na parede negra. Corremos. Era uma poça de água lamacenta, e ali estava, meio mergulhado na lama, da cintura para cima, o corpo de Lalau. Puxamo-lo. Enlameado, esfarrapado, desfigurado, estava irreconhecível.
Durante uns momentos, tomados de emoção, não dissemos palavra. Depois, Quincas murmurou:
— Precisamos levá-lo para cima e enterrá-lo.
— Ele não morreu afogado — murmurou Salvio. — Quando chegou aqui, já estava morto. Pobre companheiro! Mas não o levaremos para cima, Quincas. Ele ficará aqui, e aqui terá o túmulo mais glorioso da terra! — E Salvio apontava a parede circundante.
É que em todo o redor a caverna era crivada de nichos circulares, dispostos em seis séries sobrepostas. As três primeiras filas de baixo para cima estavam tapadas com portas de bronze providas de grossa argola. A quarta tinha uns vinte nichos tapados. O resto da quarta e as duas de cima estavam com todos os nichos abertos. Aqueles buracos se abriam negros na rocha, como bocas dispostas a contar segredos pavorosos e imemoriais. No chão, ao longo da parede circular, estavam encostadas as portas de bronze à espera de serem utilizadas. O aspecto geral da caverna era o de uma cripta com gavetas mortuárias.
— São túmulos... túmulos de atlantes. Em cada um destes nichos fechados há um atlante morto há milhares e milhares de anos! Pois num destes nichos irá dormir seu eterno sono, mil séculos depois, um de seus descendentes! E eu também gostaria de ser sepultado aqui.
Nem Quincas nem eu dissemos qualquer coisa. Levantamos, com a ajuda de Salvio, o corpo de Lalau e levamo-lo para junto da parede. Levantamo-lo e enfiamo-lo dentro do primeiro nicho vazio da quarta fila. Depois, erguemos do solo a porta de bronze — e como era pesada, Senhor! Pusemo-la na abertura e fomos ajeitando, virando para um e outro lado, porque havia uma posição exata para ela penetrar; quando encontramos a posição, encaixou-se suave e firmemente, como a porta de uma caixa-forte. Quando quisemos experimentar se estava firme, vimos que, por maiores que fossem os nossos esforços, não conseguíamos movê-la um milímetro sequer. Estava o nicho hermeticamente fechado! Penso que a porta se ajustara por pressão e não havia força humana capaz de arrancá-la. Só à consumação dos séculos, no último dia de vida do globo, ela sairia talvez do seu lugar, sacudida pelos estremeções de agonia da terra!
Mais tarde, quando Salvio quis examinar o cadáver de algum dos atlantes ali sepultados, deu-se o mesmo. Não foi possível mover nenhuma das tampas de bronze, por maiores que fossem os nossos esforços. Corremos os túmulos um por um — e eram quatrocentos e trinta! — e nenhum se deixou abrir.
Se existem no mundo túmulos invioláveis — certamente são esses!
CAPÍTULO 13
QUINCAS PRATICA UMA FELONIA
Por maior que fosse a atração exercidas sobre nós por aquele estranho cenário de velhos séculos, não podíamos ficar ali contemplando as inamovíveis gavetas de bronze. Era preciso voltar à superfície. Ademais, começávamos a sentir todo o peso do cansaço até àquele momento retido pela fascinação.
Assim, pouco depois, percorríamos de novo o lôbrego corredor de lava endurecida, pisando nos mesmos lugares onde os atlantes — quem sabe há quantos séculos! — haviam pisado também, carregando seus mortos queridos!
Fomos parando pelo caminho, à procura de vestígios da perdida civilização, e, quando chegamos à caverna, já estava escuro. Deixamo-nos cair, extenuados, à claridade da lua que começava a subir. Ali adormecemos e ali passamos a noite — uma noite excepcionalmente cálida — sem querer pensar nos perigos possíveis da região agreste e desconhecida. No entanto, se fosse verdade que preocupações e recordações tristes tiram o sono, não teríamos dormido um minuto sequer. Mas as preocupações se levantaram conosco, vivas e cruciantes aos primeiros albores da manhã.
Estávamos os três completamente sós naquele ermo, expostos a todas as surpresas. Nossos companheiros nos haviam abandonado para sempre; nossas mulas já não existiam; tudo o que possuíamos e o que havíamos reunido durante a viagem — armas, máquinas fotográficas, instrumentos, mantimentos, relíquias — tudo desaparecera. Qual seria o rumo que devíamos tomar, agora, para alcançar o Xingu?
Salvio, no entanto, apontou para oeste, com firmeza:
— É para lá. Vamos.
Partimos, carregando as riquezas que nos restavam: três boleadeiras, quatro tacapes, dois arcos e um amarrado do flechas. Afinal, era melhor assim, agora que tínhamos que contar somente com as nossas próprias costas. Não tínhamos lombos alheios para carregar volumes, nem de homens, nem de mulas...
Atravessamos o acampamento onde tínhamos parado Com os selvagens louros e fomos forçados a espantar um tatu que refocilava no cadáver de um deles. Quisemos levantar a árvore, mas foi impossível. Passamos e os mortos lá ficaram.
Subimos uma encosta bastante inclinada e, lá de cima, Salvio fez-nos voltar e observar o panorama. Estávamos na borda de um grande círculo. Aos nossos pés estendia-se uma imensa bacia. No meio dela elevavam-se penhascos atormentados.
— Estamos diante da cratera de um vulcão extinto. A caverna de onde saímos fica lá naquelas rochas do meio. Devia ser uma das chaminés por onde as lavas subiram em tempos remotíssimos. Aquele salão em que estão os túmulos deve ter sido, em outros tempos, um caldeirão cheio de minerais fundidos. Possivelmente os atlantes encontraram-no e o adaptaram ao fim para que serviu.
Depois de um último olhar para a cratera, começamos a descer a encosta do lado oposto, e continuamos a viagem, triste viagem de três pigmeus perdidos num imenso terreno desolado, onde raras árvores raquíticas se erguiam penosamente do solo pétreo! Pela tarde, nossos pés cansados levantavam pequenas nuvens de poeira do chão, ao arrastar-se trôpegos. Estávamos terrivelmente cansados e parecia-nos que nos desfazíamos em suor sob os ardores do sol inclemente.
As sombras da noite foram recebidas como um incalculável benefício — porque com elas nos chegou a primeira sensação de frescor. Mas a sede aumentou, talvez porque sob o sol abrasador ela nos parecesse normal, o que não se dava sob a frescura da noite. Não tínhamos, porém, remédio algum para isso e, assim, procuramos em vão adormecer. Por mais que nos revirássemos sobre o mato rasteiro, não conseguíamos conciliar o sono.
Devia ser meia-noite quando Quincas se ergueu e disse:
— O melhor é andar. Se caminharmos durante a noite, progrediremos mais e não nos cansaremos tanto. E temos que caminhar, para encontrar água. Quando surgir o sol não poderemos dar mais um passo. Vamos.
Nem Salvio nem eu procuramos sequer discutir. Era bom fazer qualquer coisa para acabar com aquele tormento de tentar dormir à força. E, assim, pouco depois, a lua iluminava com sua pálida luz três pobres vultos cansados caminhando pela planície sem fim, desoladamente, para um futuro misterioso.
O primeiro clarão da madrugada encontrou-nos descendo uma íngreme lombada de pedra nua. Gradativamente o horizonte se foi tingindo das cores mais variadas e mais lindas que se possam imaginar. Posta num quadro, aquela madrugada seria levada à conta de louca fantasia. Pensei comigo que não devia estar muito mal, pois conseguia, ainda, achar alguma coisa bonita...
Caminhávamos quando o sol, enorme, rubro como cobre polido, saltou acima do horizonte. Estávamos, porém, no limite da força e coragem.
— Não posso mais. Vamos parar — disse Salvio.
— Sim. Vamos parar. Estou morto...
— Não! Temos que continuar — ecoou a voz rouca de Quincas, que tinha um ar de intolerável autoridade.
— Não! — protestei. — Continuar agora, para que? O melhor é descansar, dormir. Continuaremos pela tarde, com a fresca...
— De certo — murmurou Salvio, cabeceando. — O melhor é dormir. Olhem... ali está uma palmeira...
Se pararmos, se nos deitarmos, não nos levantaremos mais. O terreno desce. Vejo lá em baixo sombras que devem ser árvores. Se o terreno desce e se há árvores lá embaixo, é que há água. Vamos! Levantem-se! Para a frente!
Senhor! Como Quincas estava autoritário! E não era possível deixar de lhe obedecer. Ele adquirira uma força enorme. Levantamo-nos penosamente, e recomeçamos a caminhar, descendo a lombada. Quincas ia na frente. Levava dois tacapes ao ombro, um arco, os restos de carne o o amarrado de flechas. Depois, Salvio, com um dos tacapes e as boleadeiras pendentes do pescoço. Por último, eu, com um tacape, ao ombro, e o outro arco enfiado no braço.
Como foi penosa a marcha desse dia! Como íamos tropeçando a cada passo, pela tarde! Como cambaleávamos! Minha língua engrossara extraordinariamente. Minha saliva se tornara pastosa e amarga. E Quincas continuava inexorável!
— Para a frente! Para a frente! Vamos! — e dava largos e pesados passos! Seus pés caíam ao solo como se fossem de chumbo, e ele os arrancava de novo, impiedosamente, para de novo atirá-los para a frente.
Quando o sol ia descambando, ele carregava tudo o que poisuíamos: os quatro tacapes, os dois arcos, as flechas, as boleadeiras e o restinho de carne assada.
Eu arrastava penosamente uma perna após outra, sem levantar os pés. Salvio, ainda à minha frente, fazia o mesmo. De repente, tropecei, cai e bati com a fronte em qualquer coisa dura. Sangue começou a pingar. Salvio, voltando-se, veio cair de joelhos ao meu lado e encostou seu imundo lenço à ferida da minha testa. Quincas alcançou-nos em três passadas e parou, cambaleante, ao nosso lado:
— Vamos! Coragem... Para a frente... — dizia ele com voz rouca e odiosa.
Mas eu sentia a vida fugir-me pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos, pelos membros entorpecidos de cansaço. Murmurei:
— Eu fico... Vão vocês... Deixem-me... sou um empecilho... — Pura quixotada! Eram frases que eu guardava de alguma dessas deletérias leituras em que há heróis sobrehumanos! O que eu queria era que eles ficassem ali, e morressem ao meu lado. Simplesmente!
Mas não ouvi mais nada, nem senti mais sede nem calor, nem cansaço — nada! Caíra no país da Paz Absoluta.
* * *
Quando abri os olhos, minha cabeça começou a girar violentamente. Depois parou, e o solo pôs-se a executar um balanço largo e rítmico. A lua, muito pálida, no céu instável, ensaiava estranhos passos de dança. Que coisa mais desagradável! Levantei o braço, mas ele tornou a cair pesadamente para o lado — e caiu sobre um corpo, e, logo depois, chegou aos meus ouvidos uma voz longínqua e mal-segura:
— Então, Jeremias? — sopraram.
— É você, Salvio? — minha voz era um sopro também.
— Sou eu... Perdão!
— Sim, Salvio...
— Perdão... eu sou o único culpado. Eu é que os trouxe...
— Vamos morrer?
— Sem dúvida...
Comecei a chorar baixinho. Ele chorava também.
Ache ridículo quanto quiser, leitor. Ria-se. Mas eu queria que você estivesse em meu lugar! Queria vê-lo ali, à noite, num deserto daqueles, semi-morto de cansaço, com o corpo despedaçado e o espírito em farrapos, com sede, com fome, sem esperança! Queria vê-lo assim! Hoje eu também acho ridículo aquele choro — tanto mais que nos romances de aventuras que andam por aí os personagens padecem muito mais e nunca choram! Mas, meu caro leitor, personagem de romance é uma coisa e gente de verdade é outra!
Depois, aquela voz cansada, fraca, pastosa, perguntou:
— Onde está o Quincas?
— Quincas? — repeti interrogativamente. — Não sei!... Quincas!
Eu quisera gritar, mas estou certo de que soltei apenas um som rouco e inaudível. Com grande esforço, sentamo-nos e olhamos em torno. Minha cabeça já não girava. O solo estabilizara-se em sua posição normal. A lua, muito clara, parecia correr entre nuvens diáfanas e clareava muito bem a desolada planície, recortando contra o céu escuro a silhueta de algumas árvores ressequidas.
Quincas não era visível.
— Bandido! — disse eu, raivosamente. — Foi embora!
— Quem sabe se ele ficou louco!
— Louco nada! Essa gente é assim mesmo! Quis se salvar sozinho!
— E agora?
— Agora? Vamos descer por aí. Se encontrar aquele bandido, juro que o matarei!
Pusemo-nos de pé, depois de ingentes esforços. Em meu corpo não havia nenhum dos 250 ossos que não estivesse doendo. Recomeçamos a caminhada para o fundo do vale sombrio, à pálida luz da lua. Éramos duas sombras, duas almas penadas cambaleantes, descendo para o inferno!
Penso que não tínhamos dado ainda cinqüenta passos, quando caí de joelhos. Salvio deu mais um passo ou dois, e desabou no chão, ao comprido. Arrastei-me até ele e segurei-lhe a mão. Escaldava.
— Está bem — disse ele ao meu ouvido com voz extraordinariamente rouca — está tudo acabado... Leandro desapareceu, há anos. O pai de Quincas desapareceu. Tobias desapareceu, Lalau desapareceu e nós vamos desaparecer também... É pena. Vimos tanta coisa! E eu queria tanto contar ao mundo o que vimos! Se você escapar, conte tudo, Jeremias. Eu vou morrer. Mas, não faz mal. Aqui já houve uma grande civilização, e, no futuro, outra há de se erguer das cinzas da última, e há de ser uma civilização humana, sem armas, sem maldade, sem traições, sem injustiças... Os homens saberão se compreender uns aos outros, e saberão que a felicidade está em achar ótimo o dia de hoje e ter absoluta confiança no dia de amanhã. Tenho certeza!
Minhas lágrimas eram salgadas como o diabo.
Salvio queria ser sepultado lá atrás, com Lalau, num daqueles túmulos dos atlantes...
E não disse mais nada. Sua mão apertou fracamente a minha. Depois, seus dedos afrouxaram. Sua cabeça pendeu e a face pousou suavemente sobre a areia do solo.
Minha cabeça pendeu também. Larguei o corpo. Afinal, o melhor era mesmo descansar de uma vez. A lua estava quietinha lá em cima, agora. E parecia fria... fria... tão fria!
Quando fechei os olhos, comecei a ouvir música. Mas eu sabia que ninguém estava tocando nada. Era dentro do meu crânio. Sons estridentes e desencontrados de jazz feriam-me a cabeça por dentro...
CAPÍTULO 14
O INVISÍVEL INIMIGO
Que é isto? Sons de harpa? Sem dúvida... estas notas tão suaves, tão doces, tão líquidas, são de harpa! E que frescor! Que delicioso frescor!
Uma voz longínqua e celestial pronuncia o meu nome em vários tons muito doces! Quis abrir os olhos, mas não pude. Estava tudo negro por dentro e por fora dos meus olhos. Nada me importava. Só queria continuar a ouvir a harpa. Só queria continuar a sentir aquele frescor bendito que se espalhava pelo meu rosto, que descia pela minha garganta, que ia até ao fundo da alma. Mas a harpa cessou de tocar, e caiu uma grande serenidade sobre mim. Não senti mais coisa alguma. Era completamente feliz!
***
Quando despertei, o sol já estava alto no zênite. Havia um grande silêncio em torno. Lá em cima, sobre a minha cabeça, de encontro ao carregado azul do céu, espalhavam-se os ramos de uma gigantesca árvore. Olhei primeiro para um lado. Salvio, deitado de costas, parecia imerso em sono profundo e tinha a cabeça encharcada. Do outro lado, Quíncas, sentado sobre uma pedra, colocava pontas de sílex em flechas de bambu. Perto dele havia um monte de pedacinhos de pedra, onde ele escolhia as pontas que servissem. Um maço de finos bambus estava encostado às suas pernas, e ele manejava agilmente uma casca vermelha de cipó, com a qual amarrava as pontas às flechas. Observei em silêncio, por muito tempo, como se estivesse fazendo exatamente o que devia e nada fosse estranhável. Quincas trabalhava serenamente. Observei, também, que no chão, ao seu lado, estava um casco de tartaruga, bem grande, além de outros menores.
Foi só depois que ouvi o ruído da água marulhante. E, logo em seguida, Quincas olhou-me.
— Olá! Então? Melhor?
— Onde estamos?
— Na margem do Xingu.
Levantei-me e caminhei para seu lado. Doía-me todo o corpo. Sentei-me e apanhei um dos cascos.
— Com isso é que levei água para vocês...
Nesse momento me lembrei de tudo, de repente. A interminável caminhada trôpega, a sede, o esgotamento, e como eu e Salvio nos havíamos deitado, esperando a morte.
— Então você não fugiu?
— Fugir?! Que idéia! E fugir para onde?
— Nós pensamos...
— Ora... francamente! Vocês...
— Compreende, Quincas? Nós caímos... Quando acordamos, de noite, estávamos sós. Você tinha sumido...
— Compreendo. Mas para onde havia de fugir? Eu sabia que em baixo tinha que haver água. Continuei a descer como pude, e cheguei à beira do rio. Bebi, mergulhei na água. Depois, encontrei esse casco de tartaruga e levei água para vocês. Joguei água no rosto, na boca de vocês. Como não acordavam, carreguei primeiro um, depois o outro, para cá. Dei mais água, joguei mais água no rosto. E então vocês ficaram num sono calmo. Dormiram o resto da noite, todo dia, toda a noite e mais meio dia... Eu já matei um veado com a boleadeira, e já assei um bom pedaço. Vamos comer.
— E Salvio?
— Deixe-o dormir. Acordará mais bem disposto.
Quincas levantou-se. Atravessamos o bosque e saímos numa clareira. Com verdadeiro assombro, vi-me diante de uma casa, uma casa comum, de pedra.
— Que é isto, Quincas? Uma casa?
— Uma casa, sim. E não é a única. Há outras iguais por aí..
— De quem são?
— Não sei. Mas não foram feitas pelos índios. Eles não fazem casas como esta. Eles náo ficam num lugar...
— Quem as fez, então?
— Quem sabe? Venha.
Entramos. A casa era um grande quadrilátero de pedra, dividido em quatro compartimentos iguais. O vigamento do telhado era de troncos de árvores, sobre os quais havia uma bem tecida trama de folhas de palmeira, agora caindo em pedaços nalguns pontos. Um cheiro gostoso enchia a casa. No compartimento traseiro, Quincas improvisara com pedras um fogão. Sobre ele estava uma vasta panela de barro, com os bordos esbeiçados, enegrecida. Dentro da panela, havia grandes pedaços de carne tostadinha. E, no canto, estava encostado um grande cacho de bananas maduras, ao lado de um monte de mandiocas. Arregalei os olhos, com água na boca.
— Que é isto? Vamos fixar residência?
— Não seria mau... Aqui perto há campos que foram cultivados... mas depois falaremos. Coma.
Essa foi a mais gostosa refeição que fiz na minha vida, até hoje! Só no fim é que percebi que a carne e a mandioca estavam sem sal! Comi uma dúzia de gostosas bananas! E bebi água deliciosamente fresca! Que banquete! Que banquete !
— Salvio vai ficar besta, Quincas!
— Vamos acordá-lo!
Mas Salvio não dormia. Estava de pé, diante do monte de pontas de sílex. Tinha uma flecha acabada na mão, e olhava estupidamente para aquilo, sem compreender. Quando caí na gargalhada, ele se voltou, dum pulo.
— Até que enfim! Por onde, diabo, andaram? E você, Quincas, onde se meteu? Que história é esta?
Contei-lhe rapidamente a heróica dedicação do nosso amigo. Abraçaram-se, muito comovidos, e depois fomos para a Casa de Pedra. Diante dela, Salvio boquiabriu-se:
— Uma casa! Uma casa de verdade! Não entendo!
— Construímos essa casa enquanto você dormia, Salvio. Vamos ficar morando aqui.
— É... — titubeou ele, sorrindo, desconcertado. — Interessante. Muito interessante! Quem descobriu isto?
— Quincas. Enquanto dormíamos ele andou fazendo explorações, e quando acordei já tinha tudo isto limpo, colhido essas frutas, feito fogo e preparado uma refeição! Ele diz que há outras casas iguais a esta e que há por perto campos que foram plantados.
— Há, sim. E não muito longe.
— Deve ser uma antiga colônia.
— Foi abandonada há muito tempo — disse eu.
— Não creio — respondeu Quincas. — Não deve haver muitos anos que os moradores se retiraram. As plantações foram cuidadas até pelo menos cinco ou seis anos atrás.
— Estou pensando numa coisa — disse Salvio. — Estas casas não foram construídas pelos selvagens. Eles não fazem casas assim, mesmo porque não permanecem muito tempo no mesmo lugar, gostam de andar mudando. Isto foi mão de gente civilizada. São casas bem feitas, sólidas. Naturalmente os moradores foram atacados pelos índios e obrigados a fugir, ou mortos. Mas há também uma coisa. Se tivesse havido aqui uma colônia de gente civilizada, de brasileiros ou europeus capazes de fazer estas casas, a notícia teria chegado às cidades mais próximas. Eles não poderiam ficar inteiramente isolados.
— Mas, então?...
— Penso — continuou Salvio — que os índios desalojaram os moradores daqui e ocuparam o lugar, mas o seu instinto nômade os levou logo embora. Observem esse telhado. Não é o primitivo. Não se faz uma casa de pedra coberta de folhas de palmeiras... Ainda se distinguem vestígios do primeiro telhado da casa. Naturalmente, desmoronou com o tempo e os índios é que a cobriram com palmeiras.
— Acho melhor comer, Salvio. Depois você discute esse problema.
A proposta de Quincas era acertada e Salvio concordou imediatamente. Depois de ele comer como um gigante, fomos percorrer os arredores. Encontramos grande número de casas, que a vegetação estava invadindo e envolvendo valentamente. Nenhuma delas tinha telhado, e em algumas se notavam os restos da cobertura de folhas de palmeiras. As casas haviam sido construídas segundo um plano, em semi-círculo, numa praça semi-circular com ruas irradiantes. Exploramos muito bem os arredores, o que tomou toda a tarde, e acabamos de modificar a opinião primitiva. Os construtores das casas não haviam sido obrigados a fugir, pois que não haviam deixado nada atrás de si... Decerto mudaram-se calmamente, por um motivo qualquer que desconhecemos.
Os campos de cultura, que também percorremos, haviam sido reconquistados pela vegetação nativa. Restavam, todavia, algumas touceiras de bananeiras, bosquetes de mandioca, de árvores frutíferas, e uma espécie de batata doce selvagem. O aspecto geral era de desolação e abandono.
Enquanto eu e Salvio examinávamos as batatas doces, Quincas, que estava à beira do barranco, gritou:
— Venham cá! Venham ver uma coisa!
Na sua voz havia um apelo impressionante, que nos fez correr.
A ribanceira tinha uns cinco metros de altura, era talhada a pique, e, lá em baixo, em horrorosa confusão, amontoavam-se ossos humanos em enorme quantidade. Caveiras, tíbias, perônios avultavam naquela confusão, identificando os esqueletos ao primeiro olhar.
— Vamos examinar isso mais de perto — disse Salvio. — Podemos colher informações... com esses esqueletos! — A idéia era fúnebre, mas não nos assustava. Já estávamos calejados. Fizemos uma grande volta, e pouco depois nos encontrávamos no fundo, entre os esqueletos. Contamos, primeiro, 85 caveiras. Muitos ossos estavam cobertos de terra, mas todos se apresentavam absolutamente limpos de carne e cartilagens, e nos crânios não havia mais sinal de cabelos — o que dava a idéia do grande número de anos decorridos sobre aqueles despojos.
— Acredito que estas 85 caveiras sejam apenas a camada superior — disse Salvio — sob a terra deve haver muitas mais. Isto parece um cemitério.
Depois, levantando um dos crânios, Salvio apontou para a brecha aberta no frontal.
— Olhem. Isto foi em vida da criatura, talvez. Uma cacetada violenta...
Levados por esse indício, examinamos outros ossos e encontramos inúmeros sinais de violência.
— Deve ter havido grande luta, lá em cima. Os vencidos foram atirados aqui para baixo e aqui morreram, e aqui ficaram...
— Só pode ter sido isso, Quincas. E, possivelmente, moravam naquelas casas...
Dentro da minha cabeça se desenrolaram rapidamente as tremendas cenas de que aquele local fora teatro, quem sabe havia quantos anos! O ataque aos pacíficos moradores das casas de pedra. A desesperada defesa, a luta sangrenta e a derrota final. Aqueles que víamos ali no fundo haviam simplesmente morrido... Mas seriam só esses? Quantos outros teriam sido carregados pelos selvagens? E quem seriam esses homens? Brancos? Vermelhos? Atlantes? Brasileiros? Estrangeiros? Padres? Aventureiros? Quem poderia responder a essas perguntas? As casas, decerto, foram testemunhas de tudo, mas essas jamais poderiam falar. E as perguntas formuladas permaneceriam sem resposta, ainda por muito tempo.
No entanto, como Salvio notou, havia um flagrante contraste entre aqueles esqueletos que sugeriam uma luta tremenda, e as conclusões a que havíamos chegado pouco antes, ao verificar que os que abandonaram as casas não fugiram porque nada haviam deixado atrás de si... Era um mistério, e talvez o pudéssemos decifrar algum dia.
Durante muito tempo andamos entre os ossos descarnados, tentando arrancar-lhes o segredo da vida e da morte. E assim nos veio encontrar a noite. Voltamos à casa de pedra, cansados, abatidos, com um estranho peso na alma.
Quincas achou melhor não fazer fogueira.
— Não sabemos onde estamos. O melhor é trancar a porta com alguns galhos e nos deitarmos no escuro, aí dentro.
Aprovamos a sugestão e construímos uma sólida porta com galhos e bambus. Sentados no chão, tentamos conversar, mas era impossível. Não nos saía de dentro dos olhos a visão daquelas criaturas que haviam sido mortas, que haviam apodrecido lá em baixo da ribanceira e cujos ossos esbranquiçados se espalhavam no fundo da ravina. Resolvemos, pois, tratar de dormir. De minha parte, levei muito tempo virando e revirando no chão, antes de me entregar ao sono.
* * *
Acordei com a estranha impressão de que alguém se encontrava ao nosso lado, alguém que não era amigo. Sacudi meus companheiros.
— Não notaram nada?
Sentados, olhamos em torno. Estávamos no pequeno compartimento do fundo, o mesmo do fogão, para aproveitar-lhe o calor. Quincas levantou-se silenciosamente, e passou para a sala da frente. Pouco depois voltava, segredando:
— A porta! Tiraram a porta!
Corremos os três para o compartimento da frente, e vimos, contra a claridade lá de fora, que a porta, feita com tanto trabalho não se encontrava mais no lugar.
Saímos para o terreiro. O dia começava a clarear, e uma aragem fria nos punha arrepios na pele. Ninguém. Nada se mexia. O silêncio era completo, acabrunhante. Só um ou outro pio forte vinha do seio da mata. Entramos novamente, e para ter uma surpresa maior e mais desagradável. A nossa reserva de mantimentos, frutas, carne — tudo havia desaparecido. Alguém andara em torno de nós e nos despojara. No entanto, reinava o mais calmo silêncio na manhã nascente.
Entreolhamo-nos, e sentimos que o pânico estava muito próximo.
— Precisamos ter calma — aconselhou Salvio. — Se nos quisessem matar, a esta hora já não conversávamos. Talvez eles só quisessem as provisões.
— Mas quem serão eles?
— Selvagens, decerto.
— Concordo — disse Quincas. — Mas vamos embora. É preferível a floresta.
Tornamos a sair. A claridade aumentara, e a algazarra dos pássaros era infernal. Bandos de araras, de periquitos e papagaios passavam berrando como possessos. Chegando ao local onde Quincas estivera trabalhando na tarde anterior, verificamos que todas as flechas preparadas por ele haviam desaparecido, bem como os cascos de tartarugas.
— Levaram tudo o que encontraram de útil, e, decerto, não nos consideraram suficientemente bons — chasqueou Salvio.
— O que temos a fazer — disse Quincas — é preparar algumas flechas, terminar os arcos e dar o fora. Este lugar é mal assombrado.
Foi o que fizemos, e, pela hora do almoço, cada um com seu arco e um amarrado de flechas, estávamos na margem do Xingu, sem ter encontrado nenhum motivo de alarme. Ali nos esperava uma surpresa. Havia seguramente trinta pirogas encalhadas na areia da praia. Assim que as vimos, recuamos, receando ter sido avistados também. Depois, por entre os troncos, pusemo-nos a observar os arredores. Custou, mas convencemo-nos de que não havia selvagem algum por perto. Ninguém tomava conta das embarcações. Cheios de coragem e por iniciativa de Quincas, corremos, metemo-nos numa das canoas e remamos vigorosamente para a margem fronteira. A correnteza fez-nos derivar muito e só abordamos a margem mais de um quilômetro a jusante. Pulamos, deixando a canoa, que lá se foi, rio abaixo, rodando, e metemo-nos pela floresta que se estendia à nossa frente.
Durante muito tempo caminhamos o mais depressa possível. Paramos ao ver uma grande ave pousada num alto galho. Quincas resolveu experimentar sua perícia como arqueíro. Restesou a corda, e a flecha partiu. Ouvimos um baque surdo. O grande pássaro abriu as asas como para voar, e deu um grito, mas as asas bateram o ar desordenadamente e ele rolou vindo a cair aos nossos pés. Era enorme, branco, de fofas penas. Tinha penacho vermelho na cabeça e enorme bico recurvo. Possuía garras afiadas e pernas fortíssimas. Concordamos em que devia ser uma ave de rapina. De qualquer modo, forneceu-nos excelente assado e era isso apenas o que esperávamos. A sua classificação não nos importava absolutamente.
— Não compreendo como é que não encontramos ninguém ainda — disse Quincas, quando de novo íamos a caminho.
— Pois eu estimo bastante não encontrar. Acho muito melhor andarmos sós.
— Mas é que não vamos sós.
— Como? — espantou-se Salvio — Você quer dizer que alguém nos segue?
— Sem dúvida. Estou certo de que vimos sendo seguidos desde que saímos da casa de pedra. Talvez desde antes.
Senti um calafrio.
— Mas como é que não vimos ninguém até agora?
— Pois é isso exatamente o que mais preocupa. Não sabemos quem são. Não sabemos se são amigos ou inimigos e o que desejam de nós. Se os tivéssemos visto, já saberíamos disso. De qualquer modo, devem ser selvagens. Só eles são capazes de andar pelo mato sem se deixar perceber.
Continuamos a caminhar, carregando esse peso. Ao cair da noite, paramos perto de um ribeirão e fizemos duas grandes fogueiras. Assamos o resto do pássaro e ceamos. Nossa conversa, desanimada e reticente, girou em torno do mesmo assunto: quem seriam os homens que nos perseguiam, por que o faziam, por que não se mostravam, que pretendiam de nós. A noite caiu negríssima, pois a lua só se levantaria mais tarde, quase sobre a madrugada.
Adormeci logo, apesar das preocupações.
CAPÍTULO 15
A ESTRANHA SERRA FORMOSA
Acordei, fortemente sacudido, e ouvindo a voz de Salvio, alterada, nervosa:
— Levante-se, Jeremias! Eles!...
— Eles? Quem?
— Eles... estiveram aqui.
Lembrei-me dos nossos misteriosos perseguidores e notei que estávamos às escuras. Apenas a claridade pálida da lua minguante iluminava as águas cantantes do ribeirão.
— E as fogueiras?
— Eles apagaram. Jogaram água em cima.
Nesse momento, um vulto escuro apareceu, vindo do grupo de árvores mais próximas e a voz de Quincas soou:
— Ninguém! Sumiram-se e levaram tudo! Só deixaram as boleadeiras...
— Cachorrada! — exclamei, indignado. — Covardes! Onde estão esses imundos diabos? Por que não aparecem logo?
— Calma! — aconselhou Salvio. — Não adianta a gente se exaltar. Por enquanto ainda estamos vivos!
— Uns bandidos, é o que são! Ninguém os viu?
Quincas respondeu lentamente:
— Eu estava sonhando com eles... Sonhava que nós três corríamos por uma planície e que de repente vieram descendo do céu inúmeros guerreiros nus e sem face. Eram tantos que cobriam a luz do sol e ficou tudo muito escuro...
— Decerto você sonhou com isso quando apagaram as fogueiras.
— Talvez. Deixe continuar. Eles chegaram ao chão, alcançaram-nos e nos envolveram. Um me agarrou e, com forca descomunal, ia me arrancando o braço. Acordei nesse momento. Estava tudo escuro e o meu braço esquerdo, sob o corpo, adormentado.
— Bem, sonhos são tolices, Quincas. O que devemos fazer é acender outras fogueiras.
Juntamos galhos secos e acendemos outras fogueiras. Mas quem diz que pudemos adormecer? Não houve meio. Passamos o resto da noite acordados, impressionados com aqueles estranhos perseguidores invisíveis que não nos davam tréguas e cujas intenções não podíamos compreender.
Os primeiros clarões do novo dia vieram encontrar-nos sentados, conversando, procurando resolver o problema. Arranjamos três bons cacetes e rompemos a marcha, sem nada comer, esperando que a sorte nos ajudasse em seguida.
O ribeirão, a cuja margem pousáramos, estava meio seco, e, como corria para oeste, resolvemos segui-lo. Era caminho fácil e dava esperanças quanto a caça.
Tínhamos andado cerca de duas horas, quando Salvio, que ia à frente, parou diante de uma rocha muito semelhante a um marco plantado à beira do regato. De longe percebi que era algo muito importante porque Salvio estava boquiaberto.
— Vejam! — exclamou quando nos aproximávamos. — Uma inscrição!
Olhei o desenho fundamente gravado na rocha.
— Lembra-se, Jeremias?
— Sim. É reprodução daquela placa de barro que o coronel Marcondes nos deu.
— Exatamente.
Infelizmente a placa se perdera com todas as outras coisas que trazíamos. Restava, apenas, o “muirakitã” em forma de runa, que Salvio trazia ao pescoço. Nesse momento, ele tomou entre os dedos a formosa pedra verde, acaríciou-a e murmurou:
— Estamos no caminho! Estamos no caminho certo! Por aqui se vai ao Templo do Sol! Vamos! Para diante!
E Salvio pôs-se a andar a largos passos, como se se dirigisse a um ponto muito seu conhecido e que ficasse mais adiante. Quincas chamou-o:
— Olá! Mais devagar! Isto não é corrida!
Ele olhou para trás, acenou com o braço e gritou:
— Vamos! Estamos no caminho!
E desapareceu atrás de um maciço de árvores.
Corremos para alcançá-lo, porque era perigoso andarmos desgarrados com aquele inimigo invisível que vinha nos nossos calcanhares e que não conseguíamos localizar. Quando o alcançamos, fizemos-lhe essa observação, mas ele respondeu:
— Precisamos andar depressa. Quanto mais próximos estivermos do ponto final, tanto menor perigo correremos.
Não sei onde foi desencavar essa teoria, mas Quincas perguntou, como se aquilo fosse naturalíssimo:
— Muito bem, Salvio. Mas em que direção devemos seguir agora?
Salvio tirou o amarfanhado mapa do bolso, desdobrou-o e, apontando o traço azul feito a lápis, disse, com toda a segurança:
— Veja. Temos que alcançar o rio Curuá, que fica entre o Xingu e o Tapajoz. Primeiro, atravessaremos o Iriri, do qual não podemos estar muito longe. Depois, chegaremos ao Curuá... Esse é o ponto.
— Mas estará certo esse mapa? — perguntei. — Tenho visto alguns mapas desta região e não encontrei dois que coincidam... Todos eles diferem na localização dos rios...
— Sem dúvida. Este sertão nunca foi devidamente explorado. Mas sabendo-se que há montanhas, sabe-se também que há vales, e, nestas paragens, onde há vales é quase certo haver rios. Daí, ser possível o traçado de mapas aproximados, sem exame “in loco”.
— Quer dizer — continuei — que não nos podemos guiar cegamente pelo mapa...
— Que é que você quer? O mapa é o único meio que temos para caminhar com algumas indicações. — Salvio tornou a dobrar o papel e meteu-o no bolso. Continuamos a caminhada.
Saímos, afinal, da mata para uma campina. A primeira coisa que vimos foi um bando de veados que pastavam calmamente, mais abaixo, à margem do arroio.
— Chegou a hora de usarmos as boleadeiras — disse Quincas. — Vamos combinar o ataque. Este campo tem a forma de uma ferradura envolvida pela mata. As duas pontas avançam pela campina, tendo o regato ao centro. Os veados estão entre as duas pontas da ferradura. Vocês seguirão, um pela esquerda, e outro pela direita. Eu esperarei aqui. Quando chegarem às pontas da mata, corram para o centro, espantem os veados e, se puderem, lancem as boleadeiras. Algum há de correr para o meu lado... Vamos.
Assim fizemos. Eu segui pela ponta da esquerda e Salvio pela da direita. Quincas ficou ali. Chegamos ambos ao mesmo tempo às pontas da mata. Saímos correndo em direção ao bando de veados, gritando e agitando as boleadeiras. Por um momento, eles ficaram imóveis, como que pregados ao solo. De repente deram um salto conjunto e lançaram-se em doida carreira... mas nenhum para o lado de Quincas — ao contrário, todos em direção ao campo aberto. Mas Salvio e eu estávamos alerta. Rodamos as boleadeiras por cima da cabeça, e largamo-las. Elas foram cair entre os animais. Um deles deu logo tremendo trambolhão e ficou no chão esperneando, enredado. Outro, recebendo a boleadeira nos chifres, deu fantástico salto para a frente e pôs-se a correr tão loucamente que passou adiante de todos e sumiu à distância.
Quincas vinha correndo, e os três nos atiramos sobre o veado preso, ao mesmo tempo em que o resto do bando desaparecia ao longe. Com sua faca, Quincas sangrou-o ali mesmo, enquanto dizia:
— Fui tapeado, mas não faz mal. Teremos comida para alguns dias...
— E perdemos uma boleadeira — disse eu — o veado levou-a.
— Acionaremos o veado por apropriação indébita e abuso de confiança — disse Salvio. — Mas, por enquanto, condenaremos este a pagar o crime do irmão...
Tivemos excelente almoço, que nos permitiu retomar o caminho com muito mais vigor.
Nesse dia, fez um calor dos diabos, e, antes de bivacar, tomamos um revigorante banho no ribeirão.
Depois, acendemos as fogueiras, preparamos o jantar e ficamos conversando até cerca de dez horas, quando resolvemos dormir.
Confesso que, por mais estúpido que isto pareça, nos tínhamos esquecido completamente dos nossos invisíveis perseguidores. Na manhã seguinte, recordamo-nos deles à força. As fogueiras tinham sido novamente apagadas com água. As duas boleadeiras haviam desaparecido bem como toda a carne de veado que sobrara.
— Isto é demais! — exclamou Quincas, ao descobrir a maroteira. — Precisamos tomar uma providência!
— Que providência? — perguntou Salvio.
— Não sei... Procurá-los! Acabar com eles!
— Parece-me difícil... bem difícil!
Estávamos todos inquietos, estado do qual a passagem para o pânico é apenas um passo. Houve alguns momentos de silêncio. Depois, Salvio falou:
— Não entendo... isto parece que não tem nexo... mas também, às vezes, fico pensando que os nossos perseguidores têm um fim em vista... Eles devem estar procurando conseguir um efeito qualquer...
— Mas que efeito? — perguntei.
— Não sei. Mas eles estão seguindo um método...
— Ora...
— Sim... Repare... Não nos aparecem... não nos assustam... mas procuram privar-nos do alimento e dos meios de o obter.
— Sei. Querem nos matar. Não é isso?
— Não creio, Jeremias. Se o quisessem, já tiveram muitas oportunidades para o fazer. E não as aproveitaram. Não, não. O fim que tem em vista é outro, que não compreendemos ainda.
— Nem o compreenderemos jamais. Quando chegar o momento de compreender, estaremos mortos, comidos e talvez digeridos no estômago desses imundos selvagens...
Nesse dia, mais uma vez, iniciamos a caminhada com o estômago vazio, o que não é muito agradável. Mas, pelo caminho, quando atravessávamos bosques, Quincas sempre conseguia arranjar frutos e raízes, que mastigávamos andando. Salvio achou que isso era uma verdadeira maravilha, porque assim “não perdíamos tempo para comer”... Não lhe respondemos coisa alguma. Simplesmente caminhávamos, seguindo-o, porque ele se colocara na dianteira e sua careca brilhava lá adiante, aos raios ardentes do sol.
Continuávamos a descer pela margem do ribeirão, e o terreno começava a mostrar-se mais difícil. A mata emaranhava-se; os nossos facões tinham que trabalhar sem descanso.
Durante vários dias caminhamos assim, alimentando-nos de frutos, raízes e pequenos animais que Quincas conseguia apanhar de vez em quando. Chegamos ao rio onde o ribeirão desembocava. Era um curso d’água mais ou menos forte, com uns 100 metros de largura. Para além, não muito longe, erguia-se uma serra, atravessada em nosso caminho.
— A Serra Formosa! — exclamou Salvio. — É na outra vertente que corre o rio Iriri! Estamos cada vez mais perto!
Atravessamos o rio a nado, como fizéramos já outras vezes, puxando atrás de nós uma jangada de galhos sobre a qual vinha a nossa roupa.
Quando começamos a subir a serra, começamos também, simultaneamente, a sentir uma vaga angústia, uma esquisita impressão de isolamento.
A Serra Formosa recortava contra o céu perfis pitorescos. Poderíamos ter batizado alguns dos aspectos mais curiosos com nomes extravagantes, como “o caracol”, “a mamadeira”, “a cabeça de cavalo”, “o urubu”, “a mesa redonda”, “a bigorna”, e tantos outros. Era espetáculo fascinante, talhado em proporções monstruosas. Cenário próprio para a representação da peça “A Construção do Mundo”.
Talvez fosse isso o que nos esmagava: a excessiva grandeza da paisagem. Cascatas despenhavam-se pelas encostas de granito com estrondos ensurdecedores; vegetações fantásticas se levantaram das ravinas úmidas, fetos arborescentes surgiam dos grotões umbrosos. Que árvores eram aquelas? Que gigantescos vegetais eram esses que tanta estranheza nos causavam? A nossa impressão era de estarmos diante dos monstruosos exemplares de uma flora há muito desaparecida. Por que razão essas árvores nos chamavam tão poderosamente a atenção, se havíamos passado por milhões e milhões de outras sem sentir nada de particular?
Nessa noite não nos limitamos a acender fogueiras. Estabelecemos “quartos de vigilância”. Foi penoso, mas, em compensação, permitiu-nos passar a noite sossegadamente e acordar descansados, sem que nada de anormal nos tivesse acontecido.
Nossa primeira refeição se constituiu de frutas que encontramos com dificuldade, porque Quincas não reconhecia nas árvores em redor as suas velhas fornecedoras de frutos comestíveis. Em todo caso, mastigamos alguns, extraordinariamente suculentos, e, seja como for, alimentamo-nos.
Subimos durante todo o dia, e pernoitamos em plena montanha, numa caverna escavada pela erosão. Dentro dela cresciam grandes touceiras de avencas, samambaias e fetos de estranhas formas. Num tronco, que se inclinava para fora, crescendo à procura do sol — enorme tronco rugoso e mole — crescia um formidável exemplar de orquídea, de espécie certamente não classificada ainda. A forma geral lembrava o Dendrobium, mas a inflorescência não saía dos gomos dos pseudobulbos, e sim, do ápice dos mesmos, como nas cattleyas. As flores tinham aproximadamente o formato das labiatas, com labeluns que eram mais semelhantes aos dos oncidiuns Rogersii. A coloração era estranha: pétalas roxo-negro e labelum azul. Por esse tempo, a minha paixão pelas orquídeas já havia passado; mesmo assim, senti profunda emoção ao contemplar aquele exemplar verdadeiramente extraordinário e que, decerto, deixaria louco qualquer orquidicultor consciente.
Enquanto eu admirava as orquídeas, Salvio pesquisava o interior da gruta, à procura de vestígios humanos, e Quincas preparava uma refeição com raízes que, segundo ele, deviam ser muito boas...
Escureceu e a fogueira punha fantásticos reflexos nas paredes do interior da gruta. Custou-nos adormecer, com a impressão de isolamento que nos perseguia, mas não creio que possa transmitir perfeitamente o que era. Não se devia, naturalmente, ao fato de nos encontrarmos sós, sem outros companheiros, porque havia muitos dias que assim viajávamos. Vínhamos sós os três desde que deixáramos o cemitério subterrâneo — e tínhamos atravessado morros, florestas e pântanos sem sentir isolamento. Sentíamo-nos, por assim dizer, “em nossa terra”, como se estivéssemos garantidos e protegidos por leis e costumes comuns às terras civilizadas. Mas, agora, desde que subíamos a Serra Formosa, era como se tivéssemos entrado numa região de outro planeta — e toda a impressão de segurança desaparecera. Sabíamo-nos isolados, desprotegidos, à mercê de forças incontroláveis. E era uma pavorosa impressão, essa; uma impressão intransferível.
Acordamos pela madrugada com essa mesma impressão e, com ela ainda, recomeçamos a subida. Os nossos perseguidores teriam estado no nosso lado nessa noite? Não o soubemos. Nada tínhamos que nos pudesse ser tirado, e a fogueira ficara acesa toda a noite.
Quando subíamos, encontramos, em certos trechos, algo surpreendente: alguém ajeitara as rochas em forma de degraus nos pedaços mais perigosos da subida. Alguém? Ou seriam naturais aqueles degraus? Jamais o conseguimos saber, apesar de procurarmos cuidadosamente vestígios dos trabalhadores que poderiam ter feito aquela escada.
Bem, nada adianta estarmos descrevendo a subida da serra. Basta dizer que levou cinco dias para chegar ao alto. Atravessamos trechos fáceis, trechos difíceis e trechos perigosos. A penosa sensação de isolamento não nos abandonou um instante, até chegarmos ao topo. A paisagem, apesar de deslumbrante, não conseguiu, nunca, amenizar aquela impressão. Ao anoitecer do quinto dia chegávamos, afinal, ao cume da grande serra, uma espécie de platô que mal percebíamos na obscuridade. Em frente, abaixo de nós, era tudo negro. Nada se podia ver. Não encontramos, também, nenhuma espécie de abrigo. Depois de mastigar alguns daqueles frutos que nos cansavam já o paladar, estendemo-nos na pedra nua.
CAPÍTULO 16
NO LIMIAR DO CAOS
Acordamos ao som de violentíssimo trovão que ficou ribombando longamente, como que arrastado à força por entre picos de montanhas.
Instintivamente nos sentamos e nos aproximamos uns dos outros, com os olhos muito abertos nas trevas.
— Trovoada! — disse Salvio em voz baixa. E, como para confirmar a sua genial descoberta, um segundo trovão estalou, tão violento como o primeiro. Imensa espada de fogo ziguezagueante desceu do céu e meteu-se pela terra em algum lugar, próximo, à nossa esquerda. Ouvimos um gigantesco estalido. Chegou até nós forte cheiro de terra queimada, e, por um rápido momento, se descortinou aos nossos olhos deslumbrados uma paisagem atormentada. Era o panorama do caminho por onde havíamos de continuar a nossa viagem. Tive a impressão de que alguém havia atirado para aquele canto todas as rochas, todos os materiais sobrados da construção dos planetas. Visão tão rápida como um piscar de olhos, mas tão viva e impressionante que me ficou gravada na retina até hoje.
— Vocês viram?
— Eu vi.
— Eu também. Parece o inferno...
Um terceiro trovão estourou. E outra língua de fogo riscou as trevas à nossa esquerda. Só que esta vez ela partiu da terra, equilibrou-se durante algum tempo, tremulando, e depois subiu em direção a um novelo de nuvens negras. Em seguida enrolou-se sobre si mesma, regirando, transformou-se numa grande bola ígnea e, como bolha de sabão solta, deu um salto, percorreu o céu enegrecido e revolto numa longa parábola e foi mergulhar no horizonte à nossa frente, atrás de um imenso pico negro que iluminou durante um décimo de segundo.
— A Bola de Fogo! — murmurou Salvio com a voz presa. — A lenda!... a “mãe do ouro”!...
Nesse momento desabou o aguaceiro. A chuva começou a cair em torrentes, com ruído ensurdecedor. A terra estava ameaçada de submersão! Decerto, ia haver outro dilúvio. Eram cataratas rolando ininterruptamente — e nós sem nenhuma possibilidade de abrigo! Naquela noite dos selvagens louros, havia as rochas ao nosso lado; mas, agora, nada. Estávamos no alto de um morro, num platô plano. E a água rolando, rolando...
— E se descermos? — gritei.
— Você está louco! Se déssemos um passo para baixo, a enxurrada nos levaria imediatamente como palhas!
Refleti que realmente seria assim. A água se precipitava com tamanha violência pelas vertentes da serra, que qualquer tentativa de descida seria simplesmente suicídio. E, assim, ali tivemos que ficar imóveis sob o aguaceiro, assistindo ao terrível espetáculo dos relâmpagos que se sucediam violentos, deslumbrantes, seguidos por demorados e ensurdecedores trovões. Por várias vezes, à luz das faíscas, entrevimos as rochas amontoadas, em desordem lá em baixo, sem, no entanto, poder fazer idéia exata do verdadeiro cenário.
O dia nasceu, mas a tempestade continuou igual, violenta, ininterrupta. Parecíamos fechados dentro de um círculo de cortinas cinzentas, que não nos deixava enxergar nada, além de alguns metros. Era tudo fosco, impenetrável.
O dia se passou inteirinho, arrastado, lento, desesperador, dentro dessa chuva pesada, maciça, interminável. Cachoeiras rolavam pela serra abaixo, juntando seus estrondos aos estrondos dos trovões.
Ao anoitecer, estávamos cansados e irritados.
— Que coisa infernal! Isto nunca mais vai terminar! Foi sempre assim! Decerto só não choveu no momento em que chegamos. Mas isto foi sempre assim!
— Realmente já é de mais — concordou Salvio. — Parece o fim do mundo.
Quincas, que estivera calado, falou também:
— O pior é que estas chuvas se prolongam às vezes por uma semana. Já tenho visto chuvas caírem durante um mês seguido. O que é raro é ver uma tempestade violenta como esta.
As palavras de Quincas não eram nada animadoras. Mas, felizmente, aquela tempestade não durou um mês, nem uma semana. Depois da meia-noite começou a diminuir a sua violência e, pela manhã, já não chovia. Quando O sol nasceu, o céu estava tão limpo, tão azul, tão sereno como se jamais houvesse existido nuvens. Era um céu lavado, esfregado, polido como parede de azulejos recém-ensaboada.
Olhamos o vale para onde deveríamos descer. E tivemos diante de nós o espetáculo mais angustioso que olhos humanos já puderam contemplar. O que os relâmpagos nos tinham permitido ver a intervalos, e à luz rápida, era apenas uma amostra muito vaga da realidade.
A perder de vista — até onde o céu e a terra se confundiam na mesma linha — era tudo um mar de escombros!
Aquela primeira impressão que eu tivera me voltou à monte: Era como se o pedreiro que construiu as esferas celestes tivesse lançado para ali as sobras do material. Gigantescos pedaços de rocha atirados ao acaso; montões enormes de areia, ou do que parecia areia; covas imensas como crateras do extintos vulcões; lagoas de águas imóveis — e, aqui e ali, alguns arbustos, mas que arbustos! Galhos retorcidos, nus, disformes, sem folhas!
— Bem me pareceu que isto é o inferno — disse Quincas esbugalhando os olhos para aquele horror.
— E temos que atravessar isso! — murmurei fascinado pela fealdade inexcedível daquele abismo.
— Já que temos de o atravessar, vamos logo!
— Sim, Salvio — disse Quincas, sem entusiasmo — mas onde encontraremos mantimentos e água?
Não tínhamos pensado nisso... Mantimentos... Água... As inexoráveis cadeias que limitam os passos do homem!
Fomos até à borda do platô. Olhamos a vertente por onde havíamos subido. Que diferença! A floresta se estendia, verdejante, esplêndida, desde os nossos pés, indo perder-se ao longe, na linha do horizonte! Ali estavam a vida, água, alimentos, sombras frescas! Em baixo daquelas árvores, era possível viver, ao passo que lá para diante só nos esperavam a aridez, o calor, a fome, a desolação, o cansaço!
— Sim... — disse Salvio, como se estivesse lendo o meu pensamento — para trás, tudo é melhor. Mas o nosso destino é aquele, para a frente — e para a frente caminharemos!
Não discutimos. Viéramos para chegar a um determinado lugar — e, ou chegaríamos a ele, ou morreríamos no caminho!
Fazia mais de seis meses que deixáramos São Paulo, e não poderíamos desistir agora. Já havíamos atravessado um deserto cheio de ameaças de morte, e tínhamo-lo vencido! Além disso, devíamos estar perto do fim — se é que os cálculos de Salvio estavam certos.
— Bem. Vamos ser práticos, então — disse eu. — Desceremos de novo até a orla da floresta. Faremos provisão de frutos e raízes, encheremos algumas cabaças de água, descansaremos algumas horas e voltaremos para atravessar o caos...
Foi o que fizemos. Na floresta, Quincas soube encontrar grande provisão de frutos e raízes. Dormimos toda a noite, que bem o precisávamos e, na manhã seguinte, bem cedo, enchemos d’água oito grandes cabaças de pescoço fino, que amarramos com cipós à cintura e, cada um de nós, armado de um cacete — única arma que as circunstâncias nos permitiam, além dos facões de que nunca nos havíamos separado — vimo-nos novamente sobre o píncaro da serra onde havíamos passado as duas noites de tempestade.
Por um desses acasos inexplicáveis, Salvio descobriu num pilar de pedra igual ao que já encontráramos dias antes, alguma coisa que lhe chamou a atenção.
— Venham ver! Há uma inscrição, aqui!
Realmente, numa das faces do pilar, a que se voltava para o caos, estavam profundamente gravados dois grupos de traços, o de cima representando dois triângulos, ápice contra ápice, e o de baixo, duas linhas curvas entrelaçadas.
Salvio examinou os traços durante alguns momentos, e, depois, falou:
— Isto tem um grande significado. Os dois triângulos, colocados nesta posição, querem dizer: “Fogo do céu e fogo da terra”. O triângulo de cima é Ra e o de baixo é Ta. O primeiro representa o fogo da terra e o segundo, o fogo do céu... Lembrem-se das duas noites passadas, e verão que isso quer dizer alguma coisa...
— E essas duas linhas?
Querem dizer quase o mesmo; representam o “Abismo do céu” e o “Abismo da Terra”. Recordem-se do que vimos. Olhem para esse cenário, vejam a altura em que estamos — e perceberão a ligação profunda entre essas inscrições e a realidade do local em que estamos. Portanto, declaro mais uma vez: Estamos no caminho certo! Para a frente!
Iniciamos a inesquecível marcha para o Caos!
O tempo continuava ótimo. O céu, azul como o interior de uma turquesa bem polida. Soprava uma aragem suave — e, lá em baixo, aos nossos pés — “o campo de destroços do mundo!”
CAPÍTULO 17
O VALE DOS ESCOMBROS
Esta caminhada por entre os destroços gigantescos foi a parte mais penosa de toda a nossa viagem. As dificuldades começaram no sopé da grande serra, que levamos dois dias para descer. As rochas de caprichosas formas estavam, como já dissemos, atiradas a esmo e formavam meandros, corredores, labirintos fatigantes. Só avançávamos contornando os pedrouços em longas voltas, ora para a direita, ora para a esquerda. Isso não seria nada, pois aumentaria apenas de alguns quilômetros o nosso percurso. O pior era o solo, granítico, rugoso, irregular, uma tortura para os pés. É fácil calcular como estaria o nosso calçado depois de seis meses de marcha, embora nos tivéssemos provido de botas excepcionalmente fortes, e embora tivéssemos feito boa parte da viagem em canoa e nas mulas. As solas se haviam adelgaçado muito com a continuidade do pisar sobre as superfícies rugosas e irregulares da planície atormentada — e tivemos que ficar um dia inteiro descansando e refrescando os pés, assim que encontramos um regato de águas vermelhas que corria entre as rochas e isto, depois de dois dias de marcha.
Durante esse descanso, sentimos com maior intensidade o quanto era desolado, terrivelmente desolado o vale dos escombros. De cima, vinha um sol inclemente, que reverberava nas arestas das pedras. Do solo subia uma temperatura bochornal que parecia agarrar-se à pele da gente. E, sobretudo, reinava um silêncio maciço, denso como água. O silêncio, que estamos acostumados a sentir, o silêncio da noite na cidade, no campo, ou na mata, é feito de milhares de pequenos ruídos que o nosso ouvido não distingue nem dissolve.
Ali faltava isso. Faltava toda e qualquer manifestação de vida. Faltava qualquer espécie de ruído. Era o silêncio absoluto. Não é possível transmitir-se a impressão que nos esmagava — e isto, esta incapacidade de transmissão de certas sensações é muito saudável para o leitor, que, assim, se livra da angústia.
Só suportamos esse pesadelo durante um dia inteiro de imobilidade porque nos preocupávamos muito em aliviar os pés e porque estávamos muito cansados.
Quincas experimentou beber um pouco daquela água vermelha do regato, mas cuspiu logo:
— Brrrr! Gosto de ferrugem!
Eu e Salvio também experimentamos o “gosto de ferrugem” daquela água, que era, realmente, muito pronunciado.
Pela tarde, quando já nos sentíamos bem melhor, e quando a impressão de solidão ia aumentando com aquela imobilidade do ar que caracteriza os ocasos em que a Natureza parece desejosa de descansar por um minuto, Salvio levantou-se e começou a andar. Subiu a uma lombada de granito, uns cem metros adiante, e pouco depois chamou:
— Jeremias! Venha cá! Só você... O Quincas que fique aí...
Levantei-me e caminhei para Salvio.
— Veja... Olhe bem para aquela pedra a cuja sombra Quincas está sentado...
Olhei e, instintivamente bradei:
— U’a mão!
Salvio confirmou:
— Uma gigantesca mão fechada, não é?
Era esse o formato da rocha: uma gigantesca mão, com seis metros de altura, fechada e apoiada sobre o solo. Nós estivéramos sentados à sombra daquele monstruoso punho, e Quincas lá continuava, pequenino, entre os dedos anular e médio do mão de pedra. A perfeição da escultura era impressionante nos seus menores detalhes — tudo minuciosamente esculpido, como se um desproporcional artista tivesse trabalhado carinhosamente naquela obra.
Não queríamos acreditar que fosse obra humana, e, no entanto, só podíamos olhar para ela, sob a impressão de que um escultor havia andado em redor da pedra, com suas ferramentas, sobre andaimes, polindo, desbastando, dando forma. No entanto, naquele lugar, só podia ser, realmente, um capricho da Natureza...
Depois, Quincas veio para o nosso lado e arriscou:
— Foi alguém que fez isto... Está muito bem feito!
Perdoe-nos a Natureza por essa irreverência. Mas chamamos em nossa defesa um fato que acontece freqüentemente e decerto já aconteceu com você, leitor: uma senhora qualquer pára diante de um ramo de maravilhosas flores. Olha, olha e exclama: — Que lindas! Parecem artificiais !
Depois, voltamos para a sombra da mão de pedra, junto ao regato ferruginoso e ali passamos a noite.
O medonho silêncio que nos esmagava foi subitamente interrompido. Acordamos certos de que houvera uma explosão em qualquer parte, não longe. Rumores surdos, profundos como o rodar de pesados carros, enchiam agora o largo espaço torturado do vale. Depois, para o nascente, o céu começou a assumir tons avermelhados, vacilantes, que aumentavam a cada minuto, até se transformar todo o céu numa imensa mancha rubra.
— Que será isso? — indagou Salvio. — Parece clarão de incêndio!
— Incêndio? — perguntei espantado. — Seria realmente uma coisa sem precedentes, rochas ardendo no deserto!
Quincas é que não disse nada. Correu e subiu a uma alta rocha. Viamos sua silhueta negra contra o fundo rubro do céu — e juro que era uma cena de fascinante beleza — e de uma beleza trágica.
Depois, a sua voz chegou até nós, esganiçada:
— Fogo! Fogo! Está tudo em chamas lá em baixo!
Corremos e pouco depois estávamos, ofegantes, ao lado do nosso guia. O rosto de meus amigos estava cor de brasa. Seus olhos, arregalados de espanto, brilhavam como carvões acesos.
A última frase de Quincas: “Está tudo em chamas lá em baixo”, pareceu-nos, ao primeiro golpe da vista, expressão da realidade. Mas, depois de acalmados percebemos que não era bem isso. Na verdade havia fogo lá embaixo, mas não estava “tudo em chamas”.
O que víamos era um imenso lago de chamas, afastado de nós uns três quilômetros. Dir-se-ia uma bacia de granito cheia de petróleo ardendo. Aqui e ali, labaredas se levantavam, esticavam-se violentamente, estorcendo-se, lambiam as nuvens e decresciam como elásticos relaxados. Na margem do lago havia três imensos repuxos de fogo, três colunas de chamas líquidas que, quais mangueiras de bombeiros, jorravam da terra mergulhando no centro do báratro flamívomo.
Estávamos mudos. Não havia o que dizer. Só podíamos olhar. Olhar fixamente o grande e terrível espetáculo.
O ruído surdo continuava. As labaredas levantavam-se para as nuvens, umas atrás das outras, incansavelmente.
Estivemos muito tempo ali, fascinados. Depois, como era preciso dormir, descemos. Antes de adormecermos, Salvio, que estava muito pensativo, falou:
— Acho que compreendi do que se trata. Estivemos olhando para um vulcão frustrado... Naturalmente, há no subsolo minerais em fusão. A expansão dos gases abriu aqueles repuxos de fogo, e a concavidade natural encheu-se de lavas. Tivemos a rara felicidade de chegar aqui no momento em que os gases explodiram, dando origem aos três estranhos “geisers” ígneos. Se isto não durar muito tempo, amanhã veremos de perto como ficou o lago.
Voltamos a estender-nos junto à mão de pedra. Durante muito tempo, fiquei ouvindo os roncos subterrâneos e vendo o clarão do fogo no céu, que aumentava e diminuía constantemente...
***
Acordamos com o sol a pino, numa atmosfera esbraseada.
Subimos a elevação. Agora, lá adiante, havia realmente um lago, de superfície rebrilhante, lisa, polida como um espelho. Não havia nela o mínimo movimento. Não havia mais fogo. Apenas, aqui e ali, da vasta superfície espelhante se erguiam, preguiçosamente, volutazinhas de fumo azul, que pareciam alcançar o céu, mas se desfaziam depressa.
— Aí está — disse Salvio. — Tudo quieto. As forças da Natureza estão descansando...
— Acho muito melhor assim — opinou Quincas.
— Pois eu não — acudi. — Era um espetáculo maravilhoso e eu gostaria de vê-lo novamente.
— Que gosto estragado! — exclamou Salvio. — Mas creio que este deve ser um espetáculo periódico. Não foi a primeira vez, nem será a última que os três repuxos de fogo se erguem sobre esse lago de lava...
— Vamos indo? — lembrou Quincas. — Não temos provisões para muito tempo...
Fomos indo... Queríamos passar perto do lago, mas não foi possível. Irradiava um calor tão sufocante, que tivemos de passar bem longe. Aquela imensa superfície, lisa como um espelho, dentro de algum tempo, certo estaria fria e sólida, como grande lente de cristal fundida para fazer parte de algum ultrapotente telescópio.
Passamos adiante e seguimos o nosso caminho, sem outra novidade, senão o infindável silêncio. Pela tarde desse dia, quando descansávamos, Quincas exclamou, de repente:
— Ora bolas! Agora é que estou percebendo!
— Que é? — perguntei, espantado.
— O silêncio! Já sei!
— Que tem o silêncio, Quincas?
— É porque não há nenhum animal, nenhuma ave neste deserto! Já viram algum pássaro voando?
— É isso mesmo — aprovou Salvio. — A ausência de árvores e de animais é que torna tão angustiosa esta solidão! Não há a mínima manifestação de vida aqui... Se víssemos, ao menos, alguma serpente, qualquer coisa viva... já nos sentiríamos outros!
Nesse momento, percebi algo lá adiante, junto a uma pedra negra. Suspendi a respiração e fiz sinal de silêncio nos meus companheiros.
— Que foi? — perguntou Salvio.
— Pssiiu! — fiz eu. — Há um animal qualquer ali...
Caminhamos lentamente para o ponto onde eu vira qualquer coisa se mover. E outra vez essa coisa se mexeu. Desta vez, porém, nós três vimos o movimento.
— É um bicho! — murmurou Quincas.
— Bem — disse Salvio, alegre, a meia-voz — então existe vida por aqui!
Chegamos até bem perto da pedra negra que ocultava o bicho e escondemo-nos atrás de outra. Quincas pegou num seixo e atirou-o ao local onde a coisa se movera. Houve um movimento rápido como um relâmpago. Encolhemo-nos instintivamente.
— Não pode ser! — protestou Quincas. — Jacarés não vivem em lugares secos como este!
A “coisa” que se movera tão rapidamente e parara era, realmente, uma cabeça de jacaré, ou tal me parecera. A diferença estava em que os olhos, muito saltados, tinham estranha mobilidade e que sobre o focinho se levantava uma crista córnea que se prolongava para trás. Parecia uma serra de grandes dentes. E, a julgar pela cabeça, o bicho devia ser muito grande. De repente, a boca do “jacaré” se abriu, e de dentro dela pulou, como mola, uma língua trêmula, flexível, bifurcada, e que se recolheu logo.
— É um lagarto gigante! — disse Salvio.
— Esperem!... Vou fazer esse malcriado se apresentar — e, apanhando uma pedra maior, Quincas atirou-a.
Então, vimos. O bicho desenvolveu, rapidamente, espantosa velocidade. Passou perto de nós, fazendo-nos pular e foi parar mais adiante, em pleno sol, movendo nervosamente a longa cauda.
— Já sei! — disse Salvio com ar doutoral. — Meus amigos! Estamos diante de um animal das épocas pré-históricas, mas um animal que, segundo os naturalistas, não devia existir aqui. Esse é o “varanus komodosensis”, uma espécie gigantesca de salamandra encontrada na ilha de Komodo e que contava seis representantes no Zoo de Berlim. Chega a medir sete metros de comprimento, e esse deve ter uns cinco ou seis — e, segundo dizem, vivem nos desertos e sentem-se perfeitamente à vontade no fogo...
— Então, já sei onde vai — interrompeu Quincas. — Vai tomar o seu banhozinho naquele lago que ficou lá atrás...
Assim foi que travamos conhecimento com o primeiro habitante do vale dos escombros. E ele não pareceu inquietar-se muito com a nossa presença. Deixou-se ficar, imóvel, como se fora uma cobra, botava para fora a comprida língua, para recolhê-la imediatamente. Quincas quis saber se aquilo era comestível. Pode ser que o fosse, mas eu declarei, peremptoriamente, que não provaria nem uma lasca...
E, assim, deixamos sossegado o “varanus” e prosseguimos a caminhada. Nossas provisões já eram poucas. Restava-nos, apenas, uma cabaça com água, e água ruim. Não esperávamos encontrar tão depressa o rio Iriri, se é que os mapas estavam certos...
***
Demos com o rio, mas não foi tão logo. Foi somente depois de mais dois dias de marcha que alcançamosa sua margem. Era enorme, e media, ali, com certeza, uns três quilômetros de largura. Suas águas desciam tão lentamente que nos davam a impressão de quererem parar a qualquer momento. Não havia árvores, nem ali, nem na outra margem, nem até onde a vista podia alcançar. Do lado de lá, o vale dos escombros continuava na mesma desolação atormentada, e subia fortemente. Quando quisemos tomar banho, descobrimos porque o rio era tão largo: a água dava-nos pelos joelhos... Ela não conseguira escavar um leito naquele solo férreo, e, porisso, se espraiava. Encontramos, porém, uma depressão que nos serviu de banheiro...
Depois, carregando nas mãos toda a nossa riqueza, atravessamos para o outro lado. Tornamos a encher as cabaças e fizemos uma refeição com as frutas e raízes que ainda tínhamos e que estavam já quase intragáveis. Passava um pouco do meio dia quando nos dispusemos a reencetar a caminhada. E então, Salvio falou:
— Amigos, se os meus cálculos não falham, estamos a uns cem quilômetros apenas do ponto final da nossa viagem. Apesar de tudo quanto nos tem acontecido, não nos podemos queixar seriamente. Nossos dedicados companheiros morreram. Eu sabia, de antemão, que apenas três de nós chegaríamos ao destino.
— E por que não disse logo? — perguntei, zangado.
— Porque não sabia quais seriam os três e, se tivesse dito, assustaria a todos. Estamos na última etapa da viagem. Talvez alguém nos julgue impiedosos porque não choramos a perda dos nossos companheiros e das nossas coisas... mas o fim que temos em vista é tão importante, que perante ele as perdas sofridas não têm valor algum. Seremos felizes até ao fim, como temos sido. É possível que encontremos ainda dificuldades, e grandes, mas chegaremos ao fim. Vou dizer uma coisa: um de nós não voltará...
— Quem? — perguntamos, eu e Quincas ao mesmo tempo.
— Não sei. Um ficará. Mas isso também não tem importância diante do nosso objetivo. Portanto, meus amigos, coragem, confiança e... para a frente!
O vale subia. As rochas continuavam loucamente amontoadas por todos os lados. Os arbustos ressequidos surgiam milagrosamente do solo endurecido, aqui e além. Por cima, um céu azul violento, um sol causticante como ferro aquecido ao rubro-branco, e, por baixo, a rocha dura, irregular, escaldante, requeimada.
O vale subia. Tínhamos, novamente, uma serra diante de nós.
CAPÍTULO 18
SERÁ UM ATLANTE?
Tivemos grande dificuldade em subir a serra escalavrada. Até Salvio estava enfraquecendo, apesar de toda a sua coragem, e eu devo, a bem da verdade, dizer o mesmo de mim, embora me fosse fácil inventar uma porção de coisas a meu respeito... Mas Quincas... esse sim! Era o mesmo valente guia que já outras vezes nos salvara com a sua singular energia. Animava-nos. Subia vagarosamente e obrigava-nos a fazer o mesmo embora estivéssemos quase sem nada para comer, e, portanto, tivéssemos pressa de chegar ao “fim”. Se tínhamos bastante água, acontecia o contrário com a comida. De todos os frutos e raízes que havíamos colhido na floresta antes de descer para o vale dos escombros, só nos restavam algumas raízes que, além de serem poucas, tinham péssimo gosto e eram muito fibrosas. De tanta coisa boa que tivéramos a princípio, só nos sobrava o pior. Tanto é verdade que o mal dura mais que o bem.
Foi durante essa subida que nos lembramos novamente dos nossos invisíveis perseguidores, que haviam dado freqüentes sinais da sua presença desde que saíramos do cemitério subterrâneo até à entrada no vale dos escombros. Quem seriam? Quais seriam as suas intenções? E por que não se teriam manifestado novamente?
— Eu acho — disse Salvio — que eles tentaram nos fazer desistir da viagem, sem querer empregar violência... e, agora, depois de entrarmos no vale dos escombros, decerto acharam que não seria mais preciso intervir porque nos destruiríamos sozinhos... Mas enganam-se!
— Talvez você tenha razão — opinei. — Mas acho muito melhor assim. Já temos muitas preocupações para que ainda por cima precisemos estar pensando em perseguições e perseguidores...
Era ao entardecer e estávamos sentados sobre um bloco de granito, na imensa solidão circundante. Antes de nos estendermos para dormir, atiramos fora os restos de frutas que ainda carregávamos, e fizemos um amarrado com as raízes fibrosas, depois de comer um punhado cada um.
Dois dias depois, porém, vimos, com espanto, que também as raízes fibrosas se haviam estragado. Desenvolvera-se nelas intensa fermentação. Quincas, no dia anterior, tinha-as mergulhado na água por algum tempo para torná-las mais macias. Talvez isso as inutilizasse.
Atiramos tudo, um pouco antes do meio-dia, quando já entávamos a pequena distância do alto da serra. Passamos, então, terríveis momentos. O futuro nos parecia trágico. Como havíamos de fazer, num ermo daqueles, sem possibilidades de alimentação? Voltar? Lembrei-me com saudade daquele “varanus” que víramos lá para trás e pareceu-me que, assado, ele daria um excelente petisco... Estão vendo como é a natureza humana?
O que tínhamos a fazer era, unicamente, caminhar, e caminhar sem descanso, pois que o deserto tinha que acabar algures.
À tarde chegamos ao alto da serra.
Do outro lado... erguia-se outra montanha, além de um vale pouco profundo, por onde corria um fio d’água.
Eu e Salvio deixamo-nos cair, desolados, ali mesmo. Quincas obrigou-nos a ficar novamente de pé:
— Não! Nada disso! Nada de desânimo! São apenas quatro horas e poderemos chegar lá em baixo antes da noite... Vamos! Cada metro que andemos é um metro ganho na corrida com a morte!
Não foi possível resistir. Pusemo-nos, novamente, a caminho para o fundo do vale, e o fizemos cambaleando. Deitamo-nos, afinal, ao lado do córgo, e, apesar da fome, dormimos. Agora é que descobrimos porque nos momentos mais críticos Quincas nos obrigava a fazer maiores esforços e andar mais: era porque, além de nos fazer ganhar tempo, nos cansava de tal maneira que dormiríamos bem, apesar da fome e da sede.
Dizem por aí, e escrevem também, que a gente pode aguentar melhor a fome do que a sede. Pode ser, mas, no dia seguinte, quando quisemos reiniciar a caminhada para subir a montanha que tínhamos pela frente, sentíamo-nos de tal maneira fracos que isso não foi possível.
Terríveis dores me roíam o estômago; a cabeça me doía de modo pavoroso e as pernas bambeavam. Recusei-me a seguir. Salvio quis bancar o valente e deu alguns passos, para cair mais adiante. Quincas insistiu, gritou, xingou-nos. Só faltou nos bater. Mas ficamos ali, estupidamente, como crianças teimosas. Nada nos interessava senão cultivar as dores que sentíamos.
Quincas fechou carranca e sentou-se a certa distância, olhando desolado para o alto do morro.
Salvio fitava um daqueles arbustos ressequidos e retorcidos que cresciam no deserto. De repente, disse:
Ah... se essa árvore tivesse folhas, eu as comeria!
Eu olhei também, e tive uma inspiração. Levantei-me e curvado, apertando o estômago com ambas as mãos, arrastei-me até o arbusto. Com o nariz perto do seu caule, senti que me vinha água à boca. Lancei a mão a um galho e parti-o. Era como um talo de couve. Vi, com espanto, que esse estranho arbusto das rochas, apesar de seu aspecto requeimado, era suculento! Levei o pedaço à boca e mordi-o.
— Você está louco! — falou Salvio com voz rouca. — Deixe isso! Pode ser venenoso!
— Sei lá! — respondi com a boca cheia, babando e mastigando a polpa do galho. — É gostoso!
No minuto seguinte, os dois estavam ao meu lado e mastigavam gulosamente punhados dos galhos secos!
Engraçado! O homem é engraçado! Aquilo, para dizer a verdade, com licença da palavra, era uma porcaria! Os galhos tinham muito sumo, mas não tinham gosto de coisa alguma! Eram levemente adstringentes e deixavam um bagaço semelhante ao da cana de açúcar. Pois essa “coisa” nos soube deliciosamente! Depois de comer o arbusto inteiro ficamos reconfortados!
Assim, pudemos continuar. Avançamos à escalada da montanha como se fôssemos a um passeio higiênico. É verdade que, comparada à montanha já vencida, esta era pequena. Mas, de qualquer modo, era uma montanha e subir montanhas só é exercício agradável para os que nasceram com coração de alpinistas.
No dia seguinte à tarde, estávamos no cimo, e então, descortinou-se ante os nossos olhos o panorama que tanto almejávamos!
Ao longe, a partir das faldas da montanha, estendia-se uma verdejante e intérmina floresta!
Esperávamos dormir maravilhosamente, pois que tínhamos, agora, bom material para sonhos cor de rosa...
Mas, tão incompreensíveis são os caprichos da biologia humana, que essa foi a pior noite que tivemos. Tive pesadelos, acordei mil vezes e vi meus companheiros também inquietos e insones. E o pior é que tivemos, pela manhã, despertar nada invejável.
O sol já se tinha erguido quando abri os olhos, e a primeira coisa que vi foi um homem, de pé, a pequena distância. No primeiro instante, pensei que fosse um dos meus companheiros, e ia chamá-lo, quando percebi que estava vestido de maneira muito estranha: Usava uma espécie de túnica, apertada à cintura por um cinto rebrilhante. Por baixo usava um calção, como vi mais tarde. As pernas estavam nuas e os pés calçados com sandálias de grossa sola, e presas aos pés por algumas correias. Estava meio de costas.
— Olá! — gritei.
O homem voltou-se lentamente para mim, e então, vi-lhe o rosto, de nobres traços e de cor acobreada. Lembrava, remotamente, as figuras dos baixos relevos do corredor subterrâneo.
Apenas olhou. Não disse uma palavra. Depois, voltou-se e ficou na posição primitiva. Então, chamei meus companheiros. Eles acordaram, vieram para o meu lado e os três ficamos sentados no chão, olhando para o estranho visitante. Quincas, apontando para o homem, perguntou a meia-voz:
— Quem é?
— Não sei — respondi, no mesmo tom. — Salvio que o descubra.
Pusemo-nos de pé e o homem virou-se para nós, mas não falou; ficou olhando curiosamente, um e outro. Salvio tomou a palavra:
— Então, senhor... senhor... Quem é?
Achei a pergunta razoavelmente idiota. Pareceu-me que ele é que tinha o direito de nos arguir. Mas Salvio fê-la, e pronto!
O nosso homem é que não se impressionou absolutamente. Pronunciou uma breve sílaba e estendeu o braço em direção à floresta, lá em baixo. Depois, começou a andar.
— Decerto quer que o sigamos — disse Salvio. — Vamos.
Seguimo-lo. Ele andava com passo seguro, elástico, elegante e nós trotávamos atrás.
— Vocês repararam? — perguntei. — Repararam como ele se parece com os homens das esculturas daquele cemitério?
— É isso mesmo! — exclamou Salvio entusiasmado. — Eu estava querendo me lembrar onde vira caras iguais a essa... é isso mesmo!
— Será um atlante? — perguntou Quincas?
— Bem... isto está parecendo um sonho, um romance... Mas creio que tenho que responder afirmativamente. Esse homem deve ser um descendente direto dos Atlantes... Bem vêem que não tem muita semelhança com os indígenas que estamos acostumados a ver...
Eu, então, senti o “estalo” de Vieira, e despejei:
— Mas Salvio, se ele não se parece com os nossos indígenas, como é que estes podem ser descendentes dos atlantes, como você tem sustentado?
— E continuo a dizer o mesmo. Os nossos selvagens são descendentes dos atlantes. Apenas, colocados em situações diversas, obrigados a lutar com dificuldades e tendo que viver em clima e ambientes discordantes, e talvez, também, por outras causas que não conhecemos, nem suspeitamos — desviaram-se da vida primitiva e se tornaram selvagens, adotando novos hábitos, iniciando vida diferente. Perdidos pelas selvas, espalhados pelo continente durante séculos e séculos, sofreram profundas alterações. Alguns, como os incas, em terreno propício, continuaram as tradições de seus ancestrais (vocês devem saber que quando Pizarro chegou a Cruzco, esta era uma cidade sagrada, onde se adorava o Sol, e que vivia numa civilização puramente atlântida); outros, em contato com a selva brutal, corridos de um lado para outro, por grupos dispersos e diante da necessidade de lutar hora a hora por tudo — perderam a civilização e a sabedoria de seus antepassados, transformando-se nos selvagens atrasados que conhecemos. No entanto, acredito que haja vários centros pelo interior do continente, e talvez mesmo no Brasil, que conservam vestígios desse passado grandioso... pelo menos, espero que assim seja...
— Bem... acredito, então, que estamos terminando a nossa jornada...
— Naturalmente. Esse deve ser um atlante que nos vai levar ao ponto final...
— Pois eu acho que agora é que estamos chegando ao começo — opinou Quincas.
— Por que?
— Ora, Jeremias... Esse cavalheiro que vai aí na frente não me inspira confiança alguma. Ao contrário. Creio que nos vai dar muito trabalho.
— Não creio.
— Por que?
— Não sei. Pressentimento.
— Pois veremos os seus pressentimentos...
Continuávamos a caminhar regularmente atrás do nosso Guia. E ele não andava ao acaso, mas seguia um caminho bem aplainado que poderia nos ter passado despercebido. Porisso, progredíamos rapidamente. Pelo meio-dia quisemos parar para comer alguma coisa. Tentamos fazer o nosso guia compreender isso, mas inutilmente. Pelo menos, ele nos empurrou para a frente, emitindo monossílabos incompreensíveis.
— Isto vai mal! — disse eu, começando a zangar-me. — Será que esse idiota não percebe que precisamos comer?
— Não sabemos o que ele percebe, Jeremias, mas o certo é que precisamos ter paciência. Arranquemos alguns galhos dos arbustos e vamos comendo enquanto caminhamos.
Assim fizemos, e comemos grande número de galhos daquele arbusto suculento e insípido. Pouco depois, porém, vimos que tínhamos agido como tolos. Bem dizia sempre Salvio: “Saber esperar é ser sábio”.
Meia hora mais tarde, o atlante se deteve diante de uma pedra branca em forma de marco quilométrico, monólito que ostentava uma inscrição, e, por baixo dela, havia uma cavidade onde o homem enfiou a mão para retirá-la segurando um embrulho feito com grandes folhas verdes e frescas. Sentou-se no chão, de pernas cruzadas, desembrulhou o pacote e tirou de dentro dele alguns belos pedaços de carne assada!
Teimosamente, tínhamos enchido o estômago com a polpa fibrosa do arbusto, mas, mesmo assim, à vista daquele acepipe, ficamos deslumbrados, e nos sentimos capazes de começar de novo.
O homem fez um gesto que não admitia dúvida. Em qualquer parte do mundo, queria dizer:
— Sirvam-se!
Se nos servimos!...
Declaro que essa foi a carne mais gostosa que já provei em toda a minha vida... e chega!
Terminada a refeição e quando já caminhávamos novamente, satisfeitos, achando tudo maravilhoso — tanto as nossas sensações são filhas do estômago — Salvio falou:
— Estão vendo? É civilizado! É humano!
E até Quincas concordou.
Agora, a floresta estava próxima, e o terreno ia mudando de aspecto. A rocha viva já não aparecia tão uniformemente, mas pisávamos largos trechos cobertos de terra. Os arbustos que nos haviam salvo a vida lá atrás, desapareceram, e em seu lugar surgiam da terra outras plantas, ainda raquíticas, mas “plantas verdes”! Apertando o passo, chegamos à orla da floresta ao anoitecer. O nosso guia parou. Olhou para todos os lados, interrogativamente, como se esperasse ver ali alguma coisa que não estava. Depois, colocando as mãos em volta da boca, emitiu um grito agudo e trêmulo. Um minuto depois, surgiam entre as árvores seis vultos, todos semelhantes, tanto nos trajes como na fisionomia, e todos armados de arco e flecha. Dois deles traziam ao ombro... as nossas boleadeiras!
CAPÍTULO 19
POSTO AVANÇADO DE ATLANTES
— Eh! Jeremias!... Jeremias!...
Era Salvio, e falava em voz muito baixa, ao meu ouvido. Estava tudo escuro e silencioso. Respondi no mesmo tom:
— Olá! Que houve?
— Onde estamos? Onde está Quincas?
— Não sei... Quincas! — chamei levantando a voz.
— Não grite. Estou aqui. Estamos presos.
— Presos?! — admirou-se Salvio. — Mas presos por que?
— Não sei... os atlantes devem sabê-lo.
— Diabo... Parece que você está querendo me acusar, Quincas?
— Não estou, não. Você não tem culpa.
Ouvi Salvio soltar um gemido. Tentei levantar-me, e correntes metálicas se entrechocaram. Eu estava preso a uma corrente, como se fosse um animal feroz! Um cinto de metal me cingia a cintura e me prendia, pela corrente, a um poste de madeira. Ao mesmo poste estavam presos os meus companheiros, de igual modo. Levantei-me fazendo subir no poste a argola de metal que nele estava enfiada. Quis tirá-la, mas não era possível. O poste devia ser muito alto. Tentei andar. Não podia dar mais de dois passos em qualquer sentido. Fiquei furioso, e gritei:
— Que é que esses idiotas estão pensando? Quero que me soltem!
— Calma! Calma, Jeremias! Eu também estou acorrentado!
— Pois sim. Mas você é que teve a idéia de descobrir velhas civilizações. É justo que seja vítima delas!
Vocês estão discutindo à toa. Isso não adianta nada. Não temos outro remédio senão esperar que amanheça.
Salvio nada disse. Eu ainda resmunguei algumas palavras pesadas e depois mergulhei nos meus pensamentos.
— Bonito! Fazer essa imensa viagem para vir acabar acorrentado a um poste, como animal selvagem! Muito interessante! Quem sabe lá, ainda, o que nos espera daqui por diante! Quem sabe? De qualquer modo, porém, como dissera Quincas, o mais acertado era esperar. Nada podíamos fazer e, decerto, entregarmo-nos à irritação não era o melhor modo de passar as horas.
O tempo que faltava para amanhecer custou terrivelmente a passar. Eu me lamentei o tempo todo, enquanto que dentro de mim crescia o receio pelo que poderiam eles fazer-nos.
Afinal, desde os primeiros clarões da aurora pudemos verificar a humilhante situação em que estávamos. Cobria-nos imenso galpão, telheiro coberto de palha. O chão era do terra batida, muito bem nivelado, e nele se viam fincados muitos postes iguais àquele que nos prendia. Cada um desses postes se encontrava guarnecido de forte corrente igual às nossas. Durante algum tempo inspecionamos em silênncio o que nos rodeava. Depois, falei:
— Muito bem, Sálvío. Aqui estamos gozando as delícias da civilização dos atlantes. Não é exato? Atlantes!... Porcaria... Isto deve ser o galpão dos prisioneiros.
— Perfeitamente. Deve ser isso. Mas, diga-me, Jeremias... para que é que você tem essa cabeça em cima dos ombros?
— Não sei. Se o soubesse, não teria feito esta viagem para permitir que me acorrentassem a um tronco, como escravo.
— Você está bobeando. Use a cabeça.
— Agora é tarde. Devia tê-la usado antes, quando estava em São Paulo. Agora, já não é preciso. Quem a vai usar, naturalmente, deve ser um desses miseráveis antropófagos...
Nesse momento, Quincas interveio, irritado:
— Vocês parecem dois tolos! Para que é que estão discutindo aí? Que adianta isso? O que está feito, está feito! Precisamos ter calma e pensar.
— É o que eu digo. Mas não sei que diabo é que deu nesse Jeremias.
— O que deu? Bolas! Deu que não estou acostumado a ser tratado como um bicho selvagem! Só isso!
— Escute — falou Salvio com toda a calma. — Se você e mais uma turma de companheiros vivessem num pedaço de terra onde estivessem guardados tesouros, onde estivesse tudo quanto vocês mais amassem — e de repente aparecessem três sujeitos estranhos — que é que você fazia?
Titubeei.
— Bem... naturalmente... mandava-os voltar. É isso! Mandava-os voltar, mas não os trataria como animais!
— Isso é o que você diz agora! Você não tem nem coragem de dizer o que pensa. O que você faria, eu sei: chamava os outros companheiros, metia meia dúzia de balas no corpo de cada um dos estranhos, que é o que se faz lá para os nossos lados...
— Mentira! Eu jamais faria isso!
— Bem. Admitamos, então, que você os faria voltar. Mas diga-me uma coisa: que é que esta gente vem fazendo há muitos e muitos dias senão convidar-nos a voltar?
— Que? Voltar? É? Pois eu nunca ouvi nada a esse respeito. Você ouviu alguma coisa, Quincas?
— Nenhum de nós ouviu, Jeremias. Mas podíamos ter compreendido, porque é o que êles têm feito. Desde que saímos do cemitério subterrâneo, procuram, por todos os meios, impedir que chegássemos aqui. E sem usar de violência. Podiam ter-nos matado dúzias de vezes, e não o fizeram. Procuraram tornar a viagem impossível, foram-nos tirando tudo que tínhamos. Mas, nós, teimosamente, continuamos, ignorando tudo. Conseguimos chegar a um ponto onde lhes pareceu que o melhor era, afinal, ajudar-nos. Foi quando apareceu aquele atlante para nos guiar, com provisões distribuídas ao longo do caminho. Bem. Aqui chegamos. Eles nos têm em seu poder. Sabem que somos teimosos, curiosos e infatigáveis. Resolveram tirar-nos a liberdade temporariamente, até que possam saber melhor quem somos e que queremos. É razoável! Acho que são muito humanos. No meu modo de ver, para evitar complicações futuras eles deviam nos matar logo. Era mais seguro.
— Acho que Salvio tem toda a razão, Jeremias. Em qualquer parte do mundo há cadeias e prisões para os invasores...
— E quem é invasor? Eu?
— Para eles, todos o somos. Lembre-se de que eles não nos conhecem.
— Pois bem. Chega! Nós é que não sabemos quem são eles! Mas havemos de sabê-lo, e, decerto, quando isso de nada mais nos valer! — e recusei-me a continuar a conversa, Estava de mau humor. Aquela corrente me deixava furioso. Pus-me a andar em redor do poste, enquanto os dois continuavam a conversar.
Decorrida meia hora talvez, apareceram por trás da paliçada dois homens, vestidos como o nosso guia.
— Aí estão os tais, Salvio — disse eu. — Entenda-se com eles. Diga-lhes que não somos uma nova espécie de macacos perigosos!
— Eles o compreenderão logo.
— Vá esperando... Se me tocarem, quebro-lhes a cabeça!
Os dois homens nos observavam durante alguns momentos, enquanto trocavam entre si palavras em língua estranhamente composta de monossílabos suaves e de agradável tom musical. Depois, o mais alto deles apontou para Salvio. Naturalmente, estava favoravelmente impressionado com a rósea careca daquele louco. O mais baixo dirigiu-se ao nosso companheiro, abriu-lhe o cinto e libertou-o. Esperava que nos fizessem o mesmo, mas enganei-me. Levaram Salvio para fora, sem nos dar atenção. Fiquei furioso:
— Olá! Seus selvagens! Imundos selvagens! Nós também somos gente! Venham abrir esta joça!
Mas ninguém se importou com o meu apelo.
— Você já viu que bandidos, Quincas? Vão nos matar um por um... Eu bem imaginava! Que é que se poderia esperar de bom dessa gente? Estamos perdidos, Quincas!
— Que diabo! Você está impossível! Tenha um pouco de calma... É claro que que eles querem saber quem somos e o que viemos fazer!
— Mas então, deviam ter-nos levado também! Não me conformo. Quero sair daqui!
Quincas franziu as sobrancelhas e sorriu com resignação. Encostou-se ao poste e fechou a boca como quem não deseja dizer mais uma palavra.
O tempo passava e Salvio não aparecia. Ninguém aparecia. Pássaros cantavam ao longe. Papagaios gritavam e o calor se tornava mais sufocante de momento a momento. E a minha inquietação crescia.
— Quincas...
— Que é?
— Que será que aconteceu com o Salvio?
— Não sei.
— Será que ele volta?
— Acho que sim...
— E se o mataram?
— Então, não.
— Será que eles estão fazendo alguma coisa ruim?
— Como é que eu posso saber?
— Puxa! Também você não sabe nada!
— Mas como é que eu hei-de saber disso? Não estou aqui junto de você?
— Mas você tem prática dessas coisas, desses selvagens!
— Esses homens não são selvagens...
— Que são, então?
— Não sei. Não os conheço. Não são atlantes?
— Bem! Chega! Chega! Não se pode conversar com você!...
Quincas lançou-me um olhar feroz e ia dizer qualquer barbaridade, quando um atlante surgiu no extremo da paliçada.
— Lá vem um. Prepare-se para morrer, Quincas.
O homem aproximou-se e nos abriu os cintos. Depois, encaminhou-se para a paliçada, fazendo sinal para que o seguíssemos.
— Para onde vamos? — perguntei, sem me mover.
Ele não respondeu. Deu mais um passo e fez-nos novamente o sinal. Embirrei:
— Quero saber para onde vamos! — e não me mexi. Quincas, porém, já dera alguns passos, mas parou. O atlante voltou e, segurando-me pelos ombros, impeliu-me para a frente. Achei o gesto intoleravelmente atrevido, e, perdendo o senso, dei-lhe um soco no peito, ao mesmo tempo em que berrava:
— Não me encoste a mão, seu fóssil! Não sou selvagem como você!
O atlante ficou aturdido por um momento. De repente, pregou-me uma bofetada tão forte que eu recuei, cambaleei e acabei caindo. Mas, imediatamente, levantei-me e me lancei ao homem, cego de furor, enquanto ouvia confusamente os gritos de Quincas:
— Tenha juizo, Jeremias! Tenha calma! Você vai nos perder!
Enquanto ele gritava eu dava socos e pontapés com toda a violência de que era capaz. O atlante lutava, procurava se defender, mas, evidentemente, não era forte nesse gênero de luta. De qualquer modo, cada vez que um dos seus socos me acertava, eu via estrelas. Afinal, a algazarra atraiu gente. Vi um grupo de atlantes correndo para o nosso lado. Depois foi um rolo, uma gritaria infernal, e em poucos momentos, eu me debatia no chão, muito machucado, aturdido e sem poder me levantar. Foram cruéis comigo. Fizeram-me ficar de pé e empurraram-me ao longo de um caminho ladeado de árvores, que ia dar numa grande clareira, onde havia grande número de casas de pedra exatamente iguais àquelas que havíamos encontrado na margem do Xingu. Fomos para uma delas, que estava isolada em meio a um jardim. Dois atlantes ficaram ao meu lado, me amparando, e os outros se foram. Quincas procurava me confortar, mas para dizer a verdade, eu não lhe dava ouvidos. Estava confuso, abatido, envergonhado, dolorido, e mal reparava nas coisas em meu redor. Pouco depois, os dois atlantes nos fizeram seguir um corredor comprido que nos levou a vasta sala. Ao fundo, sentado à mesa, estava um velho de longa barba grisalha. De pé, ao lado dele, estava Salvio. Este, assim que nos viu, correu para mim, pegou-me nos braços e perguntou:
— Que é isso? Que aconteceu com você?
— Ele agrediu o atlante, e houve barulho — respondeu Quincas.
Eu estava com uma raiva louca. Quincas também era contra mim. Depois, encarando Salvio e falando com dificuldade, porque tinha os lábios feridos e inchados, respondi:
— Eles pensam que somos selvagens... mas eu lhes mostrei que estão muito enganados... — disse-lhe com ênfase.
Fizeram-me sentar num banco e Quincas sentou-se a meu lado. Pouco a pouco, fui me refazendo — e pude observar. Salvio voltara para junto da mesa onde estava o velho. Notei, então, a presença de outra pessoa — que não era atlante. Era, evidentemente, um indígena brasileiro, alto, desempenado, extraordinariamente musculoso. Trazia vistoso cocar de penas multicores e uma tanga de cores vivas, enfeitada com franjas. Nos braços e pernas, braceletes de penas coloridas e conchas, e calçava uma espécie de sandálias de couro cru. Estava um pouco afastado e falavam baixo. O esforço que fiz para prestar atenção acabou me cansando. Ouvia-os longe e, cada vez menos — até que tudo se desvaneceu.
***
Acordei estendido numa rede num quarto muito claro. Com grande espanto verifiquei que estava nu e com o corpo coberto de uma camada de verniz seco, que me incomodava terrivelmente. Estava literalmente envernizado, dos pés à cabeça. Mas não sentia dor alguma — e compreendi que esse verniz devia ser um unguento com o qual haviam curado os meus males e acabado com todas as dores que herdara da luta com os atlantes. Ora, isto, melhor do que todas as palavras, era propício a me fazer pensar com relação aos nossos hospedeiros. Não podiam ser tão selvagens se assim procuravam minorar os meus sofrimentos. Sentei-me na rede, com os pés tocando o chão e vi ao meu lado, sobre uma banqueta, algumas peças de roupa, que, decerto, não eram as minhas... Deviam, porém, ser para mim, mas, de qualquer modo, eu não me poderia vestir assim todo envernizado... Caminhava com dificuldade por causa daquela película seca que se me agarrava à pele. Cheguei até a porta e abri-a. Era... um quarto de banho! Sim, senhores! Um quarto claro, e o chão, no centro, escavado em forma de banheira cheia de água, uma água clara e límpida, que convidava à imersão...
Meia hora mais tarde, eu estava elegantemente vestido à última moda atlântica. Quanto às dores... nada! Era como se, jamais em minha vida, tivesse brigado. Sai do quarto, Caminhei pelo corredor e, à entrada da sala, ouvi as conhecidas vozes dos meus amigos. Assim que passei os umbrais, vieram os alegres cumprimentos:
— Muito bem! Sim, senhor!
— Salve ele! Que elegância!
Quincas e Salvio estavam, como eu, vestidos à moda atlante, e bem elegantes, devo dizê-lo. Abraçamo-nos.
— Então, Jeremias... como se sente?
— Muito bem. Muitíssimo bem.
Quincas, observou:
— Caramba! Você ontem estava positivamente endiabrado! Que é que lhe aconteceu?
— Nada! Estava safado com aqueles homens. Você viu como aquele patife me agrediu?
— Não diga isso, Jeremias! Ele não o agrediu coisa nenhuma. Você é que lhe deu um soco no peito, sem mais nem menos. Se não tivesse feito isso, tudo teria corrido muito bem...
— Mas, será possível, Quincas?! Você queria que eu me deixasse tratar como um selvagem?
— Deixe disso, Jeremias. Ele foi até delicado. Você estava francamente intolerável.
Salvio interveio:
— Ora! Vamos deixar de discussões inúteis! — e, mudando de tom: — Você viu que maravilhoso remédio eles lhe aplicaram, Jeremias?
— É verdade! Que diabo é aquilo?
— Não sei. Untaram-lhe o corpo ontem à tarde com um unguento e disseram que hoje você não sentiria mais nada.
— E não senti mesmo. Dormi como um abade, e não sinto coisa alguma. É como se nunca me tivessem machucado, esses selvagens...
— Lá vem ele de novo — resmungou Quincas.
— E como vão as coisas? — perguntei. — Você ontem estava todo entretido com aquele barbaças. Quem é ele?
— Vai tudo bem. O barbaças é o Chefe do Posto Avançado.
— Posto Avançado?
— Sim. Em qualquer lugar, lá para dentro das selvas, entre montanhas, está situado o Núcleo Central dos Atlantes. Pelo que pude perceber, é uma espécie de império religioso. Em torno do Núcleo Central, a grande distância, há um círculo de Postos Avançados como este, que velam pela segurança do Núcleo...
— Por que todas essas precauções? Que é que existe lá no centro, entre as montanhas?
— Não sabemos ainda. Mas procuraremos saber. Estamos lidando com um povo muito inteligente. O velhote me fez tantas e tão hábeis perguntas que ficou sabendo de nós tudo quanto quis. Aliás, eu nada tinha a esconder... E sabe de uma coisa? Eles exterminam todos os estranhos que se aproximam.
— Então... quer dizer que nós...
— Creio que não. Por enquanto, estamos a salvo, graças ao muirakitã e ao desenho que consegui reproduzir para ele. Quando viu as duas coisas, o velho curvou-se respeitosamente. Foi água na fervura. Tratou-me com todo o respeito daí por diante. Disse-lhe que desejávamos ir ao Núcleo Central, mas ele respondeu-me que isso seria impossível. Depois de muita insistência e discussão, acabou concordando em mandar um emissário com as novidades e para trazer uma resposta. Teremos que esperar e, enquanto isso, estamos em liberdade.
— Está bem. Melhorou muito. Vamos dar um giro, então.
— Vamos. Mas olhe que não há nada que ver, além das casas e dos homens. Conversar com eles não podemos, porque não os entendemos. As casas são todas de pedra, como aquelas que já vimos. E em volta há campos de cultura.
— Vamos. Vamos tomar um pouco de ar.
***
Havia atividade no grande pátio de terra batida. Homens e mulheres se entregavam a diversos trabalhos. Dois homens lidavam com um grande covo, que iriam lançar, decerto, ao rio próximo. Lá no extremo do pátio, algumas mulheres, acocoradas diante de um monte de argila, modelavam objetos de cerâmica. Havia ao lado quantidade de vasos, pratos e outras coisas, prontas. Mais afastado, o forno de cozimento e, sob uma grande árvore, algumas jovens pintavam atentamente os exemplares já terminados. Toda aquela gente estava satisfeita, e o ar impregnado de alegria despreocupada e feliz como eu não via há muitos anos, desde a minha infância.
Olhavam-nos com curiosidade e simpatia. Sem hostilidade.
Passamos pelo grande portão e deixamos para trás a paliçada que cercava toda a aldeia; metemo-nos na trilha que, entre a paliçada e o bosque, parecia dar volta àquele estranho acampamento. Transpusemos o galpão dos prisioneiros, onde já tínhamos ficado algumas horas. Ali estavam os troncos, cada um com a sua corrente enrolada.
— Eles devem ter muitos inimigos — disse Quincas. — Se não os tivessem, não precisariam de todos esses postes.
— Pode ser coisa do passado, Quincas.
— Não parece, Salvio. Está tudo muito bem conservado, muito limpo e pronto para entrar em ação a qualquer momento...
Depois de examinar o galpão, tomamos um largo caminho que se dirigia, para o espesso da mata. Era um caminho amplo e limpo, coberto de areia recentemente colocada. À medida que avançávamos, eu sentia um aperto no coração, uma sensação desagradável. Atravessamos depressa a mata e entramos numa região acidentada. Chamou-nos logo a atenção certa particular disposição dos rochedos, numa colina um pouco afastada. Os três o sentimos ao mesmo tempo e apertamos o passo em direção à colina. Pouco depois, profundamente emocionados, verificamos estar num local de culto, como aquele que encontráramos destruído à margem do Tocantins, pelo princípio da viagem. Ali não corria regato, mas lá estavam os assentos em anfiteatro, e diante deles o altar intacto. Era esse altar simplesmente uma laje de pedra quadrada, pousada sobre quatro colunas de pedra também. Mudos de emoção rodeamos a construção, e atrás do anfiteatro encontramos a mesma inscrição que já víramos no outro:
“ESTE É O TEMPLO
AS DEUSAS E OS DEUSES PODEROSOS DO
CÉU DÃO TODO O PODER AO GRANDE KARAY,
MORUBIXABA DOS BRASIS”
Estávamos de novo mergulhados no mundo de sonho, mas desta vez, não sei porque, eu não sentia aquele deslumbramento, mas apenas sensação estranha e indefinível. Ficamos muito tempo observando a inscrição fascinante e, depois, fomos ver de perto a grande laje do altar, que era a única coisa que realmente não conhecíamos. Aproximamo-nos, e a impressão de horror cresceu. Ao chegarmos ao seu lado, eu me adiantei. A pedra, que era levemente côncava, tinha um orifício no centro e estava toda coberta de uma crosta escura.
— Que é isto? — perguntei passando o dedo.
Olhei para os meus companheiros. Estavam ambos com indefinível expressão de horror no rosto. Eles haviam compreendido o que eu não compreendera, à primeira vista.
— Sangue... sangue seco! — murmurou Quincas, num sopro.
— Sangue humano! — gritei eu, estranguladamente cheio de horror, esfregando freneticamente o dedo que passara sobre a crosta escura. E, de repente, numa revolta, acrescentei: — Agora sabemos para o que servem os postes do galpão!
Mudos, tontos, insensíveis, caminhamos para um lado. Por entre a confusão de meu espírito, parecia reconhecer o terreno. Comigo na frente, descemos o declive, como que atraídos por estranha força. De repente, o terreno apresentou uma queda brusca, a pique e eu parei à beira do precipício. Olhei para baixo.
Lá no fundo, a uns vinte metros, havia uma confusão de coisas brancas. Meus olhos se recusavam a “ver”, mas não houve outro remédio. Eram ossos humanos! crânios, tíbias, fêmures...
Um cheiro nauseabundo se erguia daquele horror.
Passou-me pela mente, então, aquele outro monte de ossadas igual a esse...
De repente, tudo começou a rodar vertiginosamente em redor de mim. Depois escureceu. Vacilei. Senti que ia me precipitar sobre aqueles restos humanos.
CAPÍTULO 20
JEREMIAS ABANDONA OS AMIGOS
A mão forte de Quincas amparara-me a tempo. Não fosse ele, eu teria rolado lá para baixo, indo me juntar às ossadas e aos corpos em decomposição. Quando me passou a vertigem, já reposto e com plena compreensão do que representava aquele ossário revelador, voltei-me para Salvio:
— Agora você não tem mais desculpas para apresentar, Salvio. Este não é o lugar que nos convém.
— Eu também me sinto mal... — disse Quincas.
— Compreendo o que vocês sentem. Mas... não há razão para termos medo.
Meu espírito deu um salto, para se atirar sobre Salvio como um animal selvagem.
— Que!? Depois daquele galpão com os troncos... depois daquele depósito de cadáveres... depois daquele altar manchado de sangue seco... Você diz que não há razão para medo? Mas você já pensou no que significa tudo isso, Salvio?
— Já pensei. Lá em baixo ainda há alguns cadáveres cujas feições ainda se podem reconhecer... são de selvagens...
— Sim. E que tem isso? Será você da mesma têmpera de Pizarro e seus homens, que cortavam em pedaços os indígenas para os dar de comer a seus cães?
— Não se exalte, Jeremias. Bem sabe que ninguém como eu respeita os selvagens brasileiros. Mas compreenda... coloque-se na situação dos atlantes... Por diversas vezes os selvagens devem ter tentado atacar o Posto. Assaltaram, provocaram guerra, foram vencidos e mortos ou executados.
— Isso tanto pode ser, como não ser verdade. De qualquer modo, eles podem nos considerar também selvagens intrusos, e fazer conosco o que fizeram com aqueles que lá estão apodrecendo.
— Você é teimoso, Jeremias. Sabe muito bem que se eles nos quisessem matar já o teriam feito. Tiveram dezenas de excelentes oportunidades para isso. Somos três, e eles são centenas. Que os poderia impedir? Além do mais, conversei com o velho. Antes da conversa, pode ser que eu concordasse com você. Mas, depois, não. Eles sabem perfeitamente que não viemos com fins suspeitos ou perigosos...
— Pois eu não me fio neles. Não posso ter confiança em gente que acorrenta os seus semelhantes como se fossem animais e os atira dum barranco abaixo, como se fossem sacos de cisco.
— Hei de conversar novamente com o velho, para saber o que significam esses cadáveres. Vamos voltar para o Posto.
— Eu não volto.
— Não volta? Para onde vai, então?
— Não sei. Prefiro morrer duma flechada em plena selva, ou ser vítima de uma onça. Fugirei. Não fico aqui.
— Você está louco, Jeremias! Você não pode fugir... Primeiro, já sabe o que custa andar por aí... a floresta, o deserto... as serras... Você não tem armas. Como conseguirá alimento?
— Comerei daqueles arbustos secos...
— Não há daqueles arbustos secos em todo lugar...
— Eu me arranjarei. Tenho confiança na minha boa estrela.
— Você não durará três dias, solto nessa selva.
— Não faz mal. Não sei se durarei dois dias aqui.
— Escute, Jeremias, seja sensato. Suponhamos que, por um milagre, você consiga voltar, e chegar a Goiás, e a São Paulo. Mas me diga uma coisa: Que é que viemos fazer aqui?
— Sei lá! Você é que deve saber disso...
— Sei-o, e você o sabe também, como Quincas não o ignora. Viemos em busca dos vestígios de uma antiga civilização. Viemos procurar provas de que o Brasil, que é o continente mais antigo do globo, foi, também, o berço da mais antiga raça humana. Viemos procurar provas que nos habilitem a afirmar que a origem da humanidade é sul-americana... Viemos procurar provar que os atlantes, a primeira raça humana, aqui apareceram, aqui evoluíram, aqui se fizeram homens, daqui partiram para fundar a Atlântida, para daí, então, ir fundar, na África, na Ásia, as civilizações mais recentes, cujos vestígios são claros e que seriam tomadas como as primeiras civilizações... Viemos...
— Ora bolas! Isso são idéias suas, pessoais, tolas!
— Minhas? Minhas, diz você? — Salvio empalideceu. — Francamente! Eu ainda não o conhecia, Jeremias! Agora é que estou vendo quem você é...
— Pois sou assim mesmo.
Salvio fazia violentos esforços para se acalmar, para não perder o domínio.
— Diga-me uma coisa, Jeremias: Você foi obrigado a vir? Não concordou comigo, entusiasmado? Não veio aqui para descobrir, comigo, os restos de uma antiga civilização?
— Não. Eu não sabia de nada disto.
— Não?! — berrou Salvio. — Quer dizer que estou ficando louco?
— Você sempre foi louco. Só um louco tomaria esta iniciativa.
— Mas por que é que você veio? — perguntou Quincas, enquanto Salvio, nervosíssimo, andava de cá para lá.
— Vim pela aventura. Para conhecer o interior do Brasil. Nunca pensei que passássemos do Tocantins. No ponto a que chegaram as coisas, nada mais me interessa. Quero voltar.
Salvio estacou na minha frente. Estava pálido, seus olhos brilhavam e suas mãos tremiam.
— Idiota! Estúpido!
— Idiota é você!...
— Chega! — berrou Quincas interpondo-se. — Chega!
Fora de si, Salvio berrava:
— Temos feito uma ótima viagem, uma viagem realmente esplêndida. Tudo nos tem corrido às mil maravilhas. Vencemos todas as dificuldades e conseguimos o que jamais alguém conseguiu e o que talvez jamais alguém consiga para o futuro. E você tem coragem de renunciar... de querer voltar... Você já viu alguma coisa assim, Quincas?
— Nem sei o que dizer. Acho que Jeremias foi mordido por algum inseto venenoso. Na verdade, tudo tem corrido melhor do que eu esperava. Tenho feito excursões menores e mil vezes mais perigosas. Parece, até, que estamos sendo protegidos por forças ocultas...
— Falem o que quiserem. Eu sei o que devo fazer. Não quero continuar. Vocês dois preferem ficar e ser vítimas desses malditos brutos. Pois fiquem. Eu volto.
— É uma estupidez.
— Pois seja. E vocês não vão impedir que eu parta...
— Mas já se viu um animal igual a este? — explodiu Salvio. — Já se viu? Sabe de uma coisa, Jeremias? Isso é covardia!
— Idiota! Vou voltar daqui mesmo!
— Vá para o diabo que o carregue!
— Vá para o inferno você, seu inventor de asneiras! Estou farto de você, das suas teorias idiotas, dos seus atlantes de meia-pataca e de tudo isto!
Salvio deve ter enlouquecido de repente, porque, de um salto se atirou sobre mim. Mas eu não queria brigar. Corri e fugi do seu alcance. Enquanto corria, ouvi a voz de Quincas acalmando-o e Salvio, possesso, proferindo pesados palavrões contra mim. Pouco depois, penetrei na floresta e não ouvi mais nada.
Durante mais de três horas caminhei sempre para a frente. O calor abafadiço da selva fazia-me suar abundantemente. Eu ia, porém, cheio de indignação e sentia-me capaz de chegar ao fim do mundo.
Depois, comecei a tropeçar e a me enredar nos cipós. Veio a fome. Não comia desde a manhã. Procurei raízes e frutos da mata, como vira Quincas fazer tantas vezes. Mas não encontrei coisa alguma que servisse para comer. Com toda a certeza, naquela maldita mata não havia nada comestível...
Continuei a caminhar, cansado, molhado de suor, com uma crescente angústia me invadindo o coração. E que fome!
Mais tarde, quando já estava ficando desesperado, vi uma grande árvore carregada de cachos de uns frutozinhos de cor amarelo-rosado. Senti crescer água na boca, e resolvi subir à árvore. Era um exercício difícil, que eu não tentara ainda até então. Depois de várias tentativas, rasguei a roupa, mas teimei. Consegui, afinal, de pura raiva, chegar até uma certa altura. Estendi a mão para o cacho mais próximo, e quando a ponta de meus dedos já o tocavam, partiu-se o galho seco em que eu me agarrara, e caí de dois metros de altura. Fiquei com o ombro magoado e reapareceram todas as dores resultantes da surra anterior. Furioso, sentei-me no chão e fiquei olhando para cima, estupidamente, contemplando os frutos que me pareciam cada vez mais apetitosos. Eram bonitos, tinham um brilho opaco extraordinariamente atraente. Deviam ser muito nutritivos.
Senti, de repente, que me seria absolutamente necessário comer alguns daqueles frutos, a qualquer preço. Era uma necessidade imperiosa, total!
Comecei a procurar, furiosamente, uma vara para com ela derrubar alguns cachos. Não encontrei nada. Tentei arrancar os galhos mais próximos de umas pequenas árvores. Esfalfei-me torcendo-os, puxando-os, mas inutilmente. Eram de uma fibra indestrutível. Eles cediam, estalavam, mas não se partiam. Fiquei rodeado de galhos assim, torcidos, desfolhados, vergados, lascados como fraturas expostas, mas teimosamente inamovíveis.
Lembrei-me então de derrubar os frutos com pedras.
Consegui arrancar, de um pequeno barranco próximo, alguns terrões, e comecei desordenado bombardeio contra os provocadores e apetitosos frutozinhos amarelo-rosados. Durante muito tempo me entreguei estupidamente a esse humilhante exercício. Imundo, rasgado, coberto de suor lamacento, atirava os terrões que se desfaziam contra os galhos, cada vez com menos forças. Fiquei com o pescoço doendo e os braços quase deslocados. O braço esquerdo doia-me terrivelmente, por causa do tombo. Quase chorava de raiva.
De repente, caiu um cacho. Dei um grito e precipitei-me para o lugar onde caíra. Era uma moita de espinhos e de alto capim-baioneta. Afocinhei abjetamente, como um animal à procura de pasto, e sofregamente procurei o cacho. Afinal, triunfante, ferido, mais imundo do que nunca, saí da moita com um cacho reluzente na mão. Então, tinha vontade de chorar e rir ao mesmo tempo. Como era lindo o frutozinho que destaquei do cacho! Pouco menor que uma mexerica, macio, agradável ao tacto! Esfreguei-o num pedaço de roupa menos sujo e levei-o à boca, partindo-o ao meio numa dentada.
Cuspi imediatamente. Brrr! que porcaria!
Nunca tive na boca coisa mais horrível! O tal fruto era hediondo! Positivamente repugnante!
Atirei com raiva o cacho contra o tronco da árvore e ele ali se esborrachou com um ruído desagradável, como se tivesse emitido uma risada seca e sarcástica. Olhei furiosamente os lindos cachos que pendiam dos galhos, e xinguei a árvore de nomes horrorosos! Depois, continuei a andar, esgotado, com um péssimo gosto na boca e cuspindo saliva grossa, abundante e amarga.
A raiva e a decepção fizeram-me esquecer da fome por algum tempo. Mas, depois, ela voltou, imperiosa, e recomecei a procurar frutos ou raízes, escalavrando as mãos. Num lamentável estado de estupefação e impotência, tive de compreender que encontrar na mata o que comer é uma arte que demanda conhecimentos seguros. Depois de fazer esta importante descoberta, fui atacado de violento cansaço e desânimo. Comecei a suspeitar que a fuga empreendida era rematada tolice. Nada conseguiria, sozinho na mata. Mas o resto de orgulho impeliu-me para a frente. Continuei a andar, e, em breve, me arrastava miseravelmente entre os vetustos troncos.
Andei o dia todo.
Ao escurecer, olhei em torno, à procura de um lugar para dormir. E vi, então, qualquer coisa familiar à minha esquerda. Era um galho retorcido, atormentado, com as fibras do lenho expostas ao ar. Mais longe havia outros, no mesmo estado. Olhei para cima. Ao lusco-fusco, os cachos de frutozinhos amarelo-rosados estavam imóveis, esperando a noite. Encontrava-me em baixo da maldita fruteira de frutos repugnantes! Lá estavam os cachos lindos, apetitosos! E, no entanto, dentro daquela linda casca, só havia fel!
Meu coração batia, descompassado. Apertava os punhos com força, num paroxismo de raiva. Durante todo o dia eu andara, e não fizera senão dar uma grande volta, ou círculos sobre círculos! Pus-me a andar de novo. Era quase noite. Eu tropeçava, caía, levantava-me e caminhava com força, raivoso, com vontade de chorar, chorar de ódio — ódio dos atlantes, de Salvio, de Quincas, dos selvagens, da pré-história, dos frutozinhos amargos e de mim!
De repente, o chão estalou debaixo dos meus pés. Afundei violentamente, no meio de galhos e de barulho ensurdecedor, nas trevas. Minha cabeça bateu em qualquer coisa dura. E senti-me como se alguém soprasse minha alma de dentro para fora...
CAPÍTULO 21
SUBMISSÃO DE JEREMIAS
Recuperei os sentidos ainda envolto pelas trevas. Não enxergava um palmo diante do nariz. Pus-me de pé e comecei a palpar em volta, acabando por verificar que estava dentro de uma cova cujas frias paredes de terra eram cortadas a prumo. Tentei subir por elas mas consegui apenas escalavrar os dedos, até ser obrigado a desistir, cansado e desesperado. Sentado na terra úmida e gelada, pus-me a recordar tudo o que de desastroso me havia acontecido desde que deixara os meus companheiros. Decididamente, não estava com sorte... e esta fome atroz que sentia... Pensando bem, o melhor era voltar para a companhia deles. Se fosse hábil e paciente poderia induzi-los a fugir comigo e então, juntos, sim... E se eles não quisessem?... Bem, neste caso, o melhor ainda era ficar com eles, para, todos unidos, arrostar o resto da aventura... Sim. Decerto isso seria melhor do que andar perdido no mato, arriscado a morrer de maneira ignóbil. Depois, embora os tais atlantes fossem indivíduos perigosos e perversos, Salvio devia estar raciocinando certo: talvez nos dispensassem maior consideração do que aos selvagens que haviam chegado até eles. Tínhamos chegado pacificamente, sem pretensões de conquista, e talvez não nos esperasse o mesmo destino daqueles que haviam apodrecido no fundo do barranco.
Estas coisas todas redemoinhavam na minha cabeça, e acabaram convencendo-me de que eu fizera uma grande asneira; que os atlantes tinham boas intenções para conosco e que não corríamos perigo algum. Portanto, o melhor era voltar.
Sim... mas como? Agora, estava enterrado numa cova, e sentia penetrar-me pelas costas o frio úmido da parede de terra... Assaltou-me subitamente um frenesi. Precisava sair, correr para a aldeia, encontrar meus amigos. Recomecei a tentar a escalada; inútil: a parede úmida, escorregadia, a prumo e lisa, era impraticável. Devia estar com os dedos em péssimo estado, porque me doíam muito.
Ainda se houvesse alguma claridade, se eu pudesse ver a parede, talvez fosse possível. Mas assim, não.
O bom senso, afinal, me recomendou que sossegasse, procurasse ficar quieto e passasse em repouso as poucas horas que deviam faltar para amanhecer.
Procurei dormir, mas o meu estômago doía de fome, o frio da terra penetrava-me os ossos, e o cérebro não deixava de trabalhar esterilmente em torno das peripécias já passadas e das que talvez sobreviessem. Cedia ao cansaço, afinal, quando a aurora começava a clarear o céu lá no alto, entre os ramos das árvores. Havia no ar leves tons róseos e cinzentos. Dormi poucos minutos, porque, ao acordar, angustiado, em sobressalto, com a boca amarga do gosto dos malditos frutinhos — ainda não clareara de todo.
Pude, então, ver onde passara aquelas horríveis horas da noite. Era uma cova quadrada, com dois metros de parede de cada lado e uns três de profundidade, talhada a prumo. As paredes cobertas de musgos e líquens indicavam que não era nova. Num dos cantos, a erosão cavara depressões e buracos, e por ali era possível subir.
Em cima, morto de cansaço, comecei a procurar o caminho que me levaria ao posto avançado. Mas senti-me mais perdido ainda do que no dia anterior. O fato de ter andado em volta, como um idiota, tirava-me toda a iniciativa. Quis orientar-me pelo sol, mas não me lembrava de que lado estivera a minha sombra, na manhã anterior, quando estava na aldeia atlante. Pus-me a andar ao acaso, olhando ansiosamente para todos os lados, procurando reconhecer qualquer particularidade que me indicasse o caminho. Mas era inútil. Tudo aquilo era infernalmente semelhante!
Comecei de novo a perder a cabeça. Tive vontade de chorar e, de repente, num verdadeiro acesso de loucura, comecei a gritar, chamando os nomes ora de Salvio, ora de Quincas.
De repente, pareceu-me ouvir uma voz longínqua:
— Jeremias!...
Gritei mais alto.
Decorridos alguns momentos, tornei a ouvir meu nome. Já não havia dúvida. Não era alucinação. Alguém me chamava na selva. Roído de emoção, continuei a gritar, para orientar o meu salvador, e, passado algum tempo, vi os meus dois amigos que, acompanhados de dois atlantes, caminhavam diretamente em minha direção.
— Então?... — perguntou Salvio, sorrindo maldosamente. — Passou bem a noite? Desistiu de voltar?
— Salvio — respondi o mais orgulhosamente que me foi possível na circunstância. — Não é bonito vir zombar de mim nesta situação. Continuo a pensar do mesmo jeito. Mas tenho que retroceder porque não sei me orientar na floresta. É isso.
Salvio sorriu ainda, contrafeito, e Quincas falou:
— Você está num lindo estado... Vamos. Vamos embora, precisa tomar um banho e se alimentar.
— E dormir — completei. Agradeci a Quincas com um olhar e partimos.
Foi uma caminhada silenciosa, que durou cerca de uma hora, o que me fez ver quão perto estávamos do meu ponto de partida, tanto mais que andávamos devagar, devido ao meu estado. Quando chegamos à aldeia eu estava exausto, cambaleava e não podia dispensar o auxílio dos dois companheiros. Não foi possível comer nem tomar banho. Caí na rede e adormeci imediatamente.
* * *
Ao acordar, vinte e quatro horas mais tarde, não contei aos meus amigos as aventuras na mata, porque aquele episódio da fruteira, que me envergonhava e irritava, havia de os fazer rir muito. Perdera, também, completamente, a vontade de fugir, mas, para ser coerente comigo mesmo, continuei a afirmar que desejava deixar aquilo na primeira oportunidade.
— Você continua a ser um tolo. Estamos sendo tratados como hóspedes de honra...
— Bom proveito. O que desejo saber é quando vamos voltar à civilização.
— Tenho conversado diversas vezes com o chefe.
— E ele já lhe ensinou um bom caminho para voltarmos?
— É um homem inteligente, e que está bem a par de tudo o que se passa no “nosso mundo”. Tem agentes nas cidades brasileiras mais próximas, e sabe de tudo, inclusive os pormenores da guerra que se desenrola entre a Alemanha, Itália, Japão e o resto do mundo.
— Ótimo. E como é que ele lhe explicou aqueles restos humanos atirados ao fundo da ribanceira?
Qualquer um teria perdido a paciência. Mas Salvio não era qualquer um... Voltou-se para Quincas, que, calado, sentado num tronco, divertia-se dando golpes de facão num galho seco — e disse:
— Quincas, explique a este cabeça dura...
— Foi exatamente o que Salvio pensou — disse ele. — São os restos de selvagens que atacaram o Posto. De tempos em tempos, os indígenas se reúnem em grandes grupos e tentam assaltar a cidade.
— E então, os atlantes destroem-nos, não é?
— Eles têm que se defender, Jeremias. Você já viu um ataque de selvagens? É uma coisa terrível. Parecem loucos e não respeitam coisa alguma. Destroem e queimam e matam a torto e a direito. Quando guerreiam, tornam-se realmente mais ferozes do que qualquer animal. Dificilmente recuam.
— Eu sei. Mas para que aqueles troncos?
— Ali eles aprisionam os selvagens que conseguem capturar. Procuram fazê-los compreender que não são inimigos. Depois, soltam-nos, para fazê-los ver tudo. Os que compreendem são devolvidos às suas aldeias, mas os que continuam inimigos, têm que ser eliminados.
— Mas eles não acharam nada melhor do que os postes, correntes e barrancos?
— Mas — interveio Salvio — será esse um tratamento indigno, dada a psicologia particular dos selvagens?
— Está bem. Concordo em que são uns anjos. Mas, aquele altar coberto de sangue humano seco?
— Não é sangue humano, Jeremias.
— Salvio! Isso é o que eles dizem, e vocês parecem dispostos a acreditar em tudo. Será verdade?
— Por que não havia de ser? Terão eles medo de nós, para estarem mentindo?
— Não sei. Não gosto deles, e pronto!
Houve uma pausa. Depois, Salvio recomeçou a falar:
— Antigamente, os Postos Avançados que rodeiam o Núcleo Central eram mais afastados, e foi um deles que vimos destruído no caminho, lá onde havia casas de pedra destelhadas...
— Sei — interrompi — onde havia um barranco cheio de ossadas, como aqui...
— Justamente. Mas esses postos mais afastados eram muito hostilizados pelos selvagens. Havia demasiadas guerras e demasiadas mortes. Resolveram, então, transferir a linha mais para trás, diminuindo o círculo em torno do Núcleo. Assim estão mais seguros. Todos os Postos Avançados estão em constante comunicação entre si, e velam pela segurança do Núcleo.
— Mas que diabo fazem eles? Para que existem?
— Perguntei isso ao velho chefe. Não sei se entendi bem. Parece-me que eles se consideram um povo predestinado a grande missão no futuro. Há inumeráveis séculos, há milênios que vivem de acordo e respeitando certa missão sagrada, que vem de épocas esquecidas. O cérebro que dírige tudo está no Núcleo Central, perdido entre serras vastíssimas e inatingíveis.
— Mas que é que eles fazem?
— Nada. Conservam a tradição, e esperam.
— E que é que existe no Núcleo Central?
— Isso é que desejo saber. Pedi ao velho chefe que mandasse alguém nos acompanhar até lá. Ele se recusou. Não o pode fazer sem primeiro receber ordens. Já providenciou para se comunicar com o Primeiro Orientador...
Depois de longa pausa em que todos estivemos pensativos, Salvio continuou:
— Eles estão bem organizados e são muito hábeis. Há mais de um mês que nos vêm seguindo pelas selvas... Desde o encontro com os Selvagens Louros. Podiam nos ter matado facilmente.
— E por que não o fizeram?
— Não sei, mas penso que estão informados de nossa viagem desde o início. Aquele coronel Marcondes, por exemplo... — e depois de uma pausa: — Criaram todas as dificuldades em nosso caminho, para nos fazer retroceder e, talvez, para comprovar até que ponto somos tenazes. Não quiseram impedir deliberadamente a viagem. Acredito que é isso mesmo: queriam pôr à prova a nossa inteligência, a nossa capacidade de luta, a nossa resistência...
— Sendo assim, Salvio, temos que reconhecer a existência de um grande e poderoso superior entre eles.
— Assim deve ser, Jeremias. Deve existir um Superior, que tudo sabe, tudo vê e cujas ordens são indiscutíveis.
— Isso dá muito o que pensar...
— Pense, então. Eu não tenho feito outra coisa, desde que me pus em contacto com eles.
Quincas continuava sentado sobre o tronco, dando golpes com o facão no pedaço de pau. Também ele pensava.
Só eu, só eu teimava em permanecer surdo e cego para tudo o que me rodeava, para a significação estranha daquela bem organizada aldeia de pedra, erguida em plena selva, distante de todos os recursos, à margem de um inóspito deserto... guarda avançada de outra cidade que devia ser grandiosa! Só eu teimava em não tomar conhecimento dessa coisa maravilhosa e insuspeitada em todo o mundo! Teimava em pensar apenas em mim próprio, sem dar atenção a mais nada. Não refletia que havíamos chegado ali como intrusos, que me insurgia contra eles e agredira-os brutalmente; que eles, no entanto, nos alimentavam e abrigavam sem nada nos perguntar, como se nos devessem respeito. Confrontando serenamente os acontecimentos, concluía que o selvagem, ali, era, unicamente, eu...
Durante meia hora estive refletindo, pensando, e ninguém falou. Depois, pus-me de pé e caminhei, agitado, de um lado para outro. Quando parei, tomara uma resolução.
— Salvio... Quincas... Desculpem. Tenho sido um tolo, um criançola... Para o futuro...
— Ora... — interrompeu Quincas. — Compreendemos. Isso era natural. Você estava exausto com a viagem.
— Naturalmente — continuou Salvio. — Compreendemos perfeitamente. Nada temos que desculpar. Você tem estado com o sistema nervoso irritado, mas a culpa não é sua... Você tem sido sempre um excelente companheiro...
Os dois estavam visivelmente comovidos. Senti súbita exaltação, e grande ternura:
— Juro — disse eu solenemente — que aconteça o que acontecer, irei com vocês até ao fim, seja ele qual for! Não sei o que me deu...
— Não se fala mais nisso. Está acabado.
* * *
Saímos os três em direção à praça central, e só então notei que era revestida de grandes lajes de pedra, lisas, e iguais. Os grupos de casas estavam arrumados em pequenas ruas que irradiavam da praça. A grande casa onde morava o velho chefe, estava sozinha, no lado oposto à entrada, ocupando um quarteirão. Todas as casas eram térreas, do mesmo formato, embora umas fossem maiores e outras menores. Quebrando a linha do círculo havia duas grandes construções colocadas simetricamente, dois grandes galpões com jeito de oficinas ou depósitos. Ao fundo, vários outros galpões, do mesmo formato, e menores. Dos galpões menores vinham ruídos fortes, de martelos, guinchos, serrotes, arrastar de coisas, etc. — tudo o que caracteriza oficinas em atividade. Os atlantes se movimentavam, indo e vindo, cruzando a praça, entrando e saindo dos edifícios-oficina. Ao passarmos pela casa do chefe, vi, ao fundo da rua, lá atrás, uma nesga de verde — um gramado, e uma criança passou correndo. Cristalinas risadas infantis soavam longe. Fiz idéia de um “play-ground” e não me enganava. Pouco depois, no fim da rua, estávamos diante de um grande tabuleiro de grama sombreado com grupos de árvores. Crianças nuas, de ambos os sexos, corriam, saltavam obstáculos, lutavam, jogavam pelota, gritavam e riam — divertiam-se, como gostam de fazer todas as crianças de todas as partes do mundo. Ao lado, sob imensa pérgola coberta de vistosa trepadeira florida, mulheres atlantes sentadas em toscos bancos teciam fazendas de cores vivas, ou pintavam exemplares de cerâmica, enquanto vigiavam as crianças.
Ninguém se importou conosco, nem nos olhou de forma particular. As crianças nem se detiveram, nem alteraram o ritmo de seus brinquedos.
Ali estivemos longo tempo diante daquele divino espetáculo, aquelas crianças que viviam em plena natureza!
Um atlante chegou, sobraçando grande cesto cheio de frutos que depositou no chão, não longe de um grupo de meninos. Levantou-se logo de todo o bando uma gritaria infernal, e, como formigas atraídas por doce, todas as crianças se atiraram, correndo para o cesto. Em poucos momentos ele estava vazio, e os garotos, rindo com aquela alegria que vem da alma infantil e que só ela tem, metiam os dentes nas polpas saborosas.
Eu me esquecera do mundo. A inefável música da infância satisfeita e feliz transportava-me para um céu muito distante.
De repente, alguém se aproximou de nós e tocou no ombro de Salvio. Era aquele indígena alto e forte que estivera ao lado do barbaças.
— Chefe quer falar...
— Já vamos — respondeu Salvio.
CAPÍTULO 22
ANTE O PENHASCO SOMBRIO
O velho queria nos dar uma notícia:
— Estou admirado. Não esperava isto. Durante a nossa história aconteceu várias vezes recebermos estrangeiros, mas jamais passaram daqui, e quase todos foram exterminados depois de poucos dias. Esta é a primeira vez que pessoas não nascidas dentro de nossas cidades têm licença, já não digo de ir ao Núcleo Central, mas simplesmente de viver. Mesmo entre os nossos, posso contar pelos dedos os que já foram ao Núcleo. Recomendo-lhes que sejam prudentes. Creio ainda ser útil avisá-los que decerto jamais poderão voltar à sua terra natal. Para nossa segurança, ninguém pode saber que existimos, nem como vivemos.
— Como? — perguntei. — Ele diz que nunca mais sairemos daqui? Isso deve ser gracejo.
— Deixe o homem falar, Jeremias!
— Somos obrigados a tomar precauções porque não é chegado ainda o momento de revelar ao mundo a nossa presença...
— Quer dizer que os senhores são realmente Atlantes?
— Sim. Somos o que resta dessa gloriosa raça — a primeira raça civilizada do mundo.
— Mas por que vivem isolados?
— Porque o mundo, tal como está, não nos poderá receber. É cedo. Temos grande missão a cumprir, importante papel a representar na Comédia Humana. Mas a nossa hora de entrar em cena não chegou ainda...
— E... essa hora demorará muito?
— Não sei. Ninguém sabe. Mas o tempo não importa. Esperamos há séculos sem conta, e continuaremos a esperar enquanto isso for necessário. O importante é que estejamos aqui quando chegar o momento. Estamos organizados para quando chegar a nossa vez, e cuidamos apenas de o estarmos sempre. Somos os guardiões de alguma coisa imortal, que falta cada vez mais aos homens do vosso mundo. Eles se afastaram tanto da natureza que... — o velho interrompeu-se, e, dando um suspiro, continuou: — Bem... não me compete falar sobre estas coisas. Alguém lhes falará com maior autoridade do que eu...
— Sei. Os extremos se tocam...
— Perfeitamente, jovem. Os extremos se tocam. É bem isso... Os homens aprenderam a ser homens com os atlantes, e isso foi há muitas centenas de séculos e foi neste mesmo lugar... Depois, os homens progrediram e se encheram de orgulho, julgaram-se deuses e se esqueceram dos simples Mandamentos da Felicidade. Estão regredindo, certos de que continuam a progredir. Mas a civilização de onde vieram, morrerá. E daqui se espalhará, outra vez, a semente do Bem, da Esperança e da Vida...
— Mas...
— Chega — disse o velho erguendo a mão. — Não me perguntem mais nada. Vão, e lá alguém lhes poderá falar melhor do que eu.
Lentamente o velho desceu do estrado, encaminhando-se para a porta que ficava na parede de trás. Levantou a cortina e desapareceu. Nós ficamos olhando a tapeçaria que balançava suavemente.
Foi a última vez que o vimos.
O indígena espadaudo sorriu-nos e disse:
— Venham...
Guiou-nos para fora, mas não nos fez sair da praça pela larga porta que havíamos cruzado várias vezes. Conduziu-nos para trás da casa do velho, e, depois de nos fazer rodear o “play-ground” saímos por um pequeno portão que dava diretamente para a mata.
Uma larga estrada apareceu diante de nós, e, alinhados a um lado, oito atlantes. Quatro carregavam fardos e os outros quatro iam bem armados com lanças, arcos-e-flechas e facões reluzentes. O indígena apontou os homens e falou:
— Eles os levarão. Boa viagem!
Em seguida, retrocedeu, atravessou a porta e sumiu. No mesmo instante, os oito atlantes iniciaram a marcha pela estrada que varava a floresta. Pelo menos, eram camaradas decididos, que não perdiam tempo em conversa...
E foi assim prosaicamente, sem mais preâmbulos, que iniciamos a memorável marcha pela estrada da floresta, rumo ao Núcleo Central dos Atlantes... Os nossos guias caminhavam em passo cadenciado, igual, silencioso, de grande rendimento.
Com eles é que aprendemos a caminhar, a fazer longas marchas sem excessivo cansaço. Não conversavam. Apenas, de longe em longe, trocavam uma breve palavra, talvez de advertência para qualquer particularidade que nos passava despercebida. Nós três, porém, conversávamos, comentando a perfeição da estrada, pavimentada de pedra em todos os lugares onde isso era necessário. Os cursos de água eram atravesados em pontes de pedra. Os pântanos eram igualmente transpostos em sólidas pontes. A preocupação máxima dos construtores fora fazer, tanto quanto possível, uma reta. As rampas eram muito suaves e as curvas de longos raios. Havia obras de arte para passagem das águas e valas para evitar os estragos da erosão. Raríssimas vezes viajamos a céu aberto. Propositadamente, decerto, a estrada fora toda rasgada no seio da mata, ou então, haviam plantado bosques onde não houvesse matas naturais.
Como já tínhamos observado, os atlantes não tinham hora certa para comer. Comiam quando sentiam vontade. Quando perceberam que nós tínhamos horas marcadas para as refeições pouco se importaram com isso, e só ocasionalmente nos acompanharam. Nos quatro fardos vinham alimentos em abundância, o que nos deixou bem aliviados, porque sabíamos quanto custa a falta de alimentos na mata...
A marcha de quatro dias pela excelente estrada não tem nada que se possa contar. Foram quatro dias serenos, sem perturbações, durante os quais marchamos sem cansaço, comemos bem e dormimos melhor. Não havia ponte para atravessar o grande rio; usamos uma canoa. Do lado de lá, a estrada, sempre igual, penetrava em terreno montanhoso e começava a fazer curvas numerosas. A floresta não era contínua; largas clareiras a separavam. Subimos pouco a pouco, até nos encontrarmos na encosta de verdadeira serra. Levamos dois dias e quase todo o terceiro para galgar a serra, e, quando chegamos ao cimo, encontramo-nos diante de um extraordinário panorama, que mal se deixava ver sob a luz moribunda do sol poente.
Como amontoado de escuras nuvens, se desdobrava, até ao infinito, uma sucessão de montanhas de suave aparência. Era um ondear contínuo, interminável, como se um oceano tivesse subitamente petrificado suas ondas.
E além, quase na linha do horizonte, elevava-se um morro mais alto que todos os outros, dominando toda a terra em redor. Tinha a forma de um cone, e a impressão de majestade silenciosa que se desprendia dele é impossível descrever.
A obscuridade ia tragando o fantástico maciço. Um dos guias, ao nosso lado, estendeu lentamente o braço e murmurou:
— Geomá!
Não entendemos essa palavra, mas vimos os outros sete abaixar respeitosamente a cabeça e compreendemos que aquele cone era o marco do nosso destino. Senti um arrepio. O rosto de Salvio parecia iluminado por estranha luz interior; seus olhos brilhavam intensamente e nos lábios estava parado um sorriso extático. Quincas arregalava espantados olhos para a imensidão que a noite engolia paulatina e inexoravelmente.
Dispusemo-nos a passar a noite ali no alto da serra.
Os atlantes, segundo seu costume, ficaram juntos, a alguma distância de nós.
— Jeremias — escutei Salvio sussurrar depois de longo silêncio. — Estamos perto! Estamos chegando! Estamos no limiar da maior de todas as descobertas feitas até hoje pelo homem!... É lá adiante, Jeremias! entre aquelas montanhas atormentadas, naquele imenso rochedo... Geomá! Lá é que se encontra o segredo da origem do homem, e talvez também o segredo do seu fim! E estamos a poucos passos!
E eu, sob a pressão de uma emoção estranha, indefinível, sussurrei também:
— Isto tudo está me fazendo mal... é grande demais para a minha compreensão... Tenho medo!
— Eu também sinto certo receio, Jeremias. Mas passará. Temos que ir até ao fim.
Quincas, cujos olhos brilharam num relâmpago fugitivo, falou com simplicidade serena:
— Eu não sinto nada, nem medo nenhum. Mas estou pensando no jeito de voltar. Porque sei que teremos de fugir e que não o poderemos fazer por esta estrada...
— Deixe. Não vale a pena pensar na volta, se ainda nem chegamos.
Depois, ficámos os três em silêncio, e não sei quando adormecemos.
***
Acordei rudemente sacudido pelo braço, e ouvi a voz enrouquecida de Salvio, junto ao meu ouvido:
— Depressa! Olhe, Jeremias! Olhe!
Sentei-me, ainda a tempo de ver uma grande bola de fogo que atravessava o céu, iluminando as montanhas com palor espectral. O grande cone, Geomá, era uma massa negra, imóvel lá no fundo. De repente, porém, iluminou-se e ficou coberto de estrias de luz. A bola de fogo caíra sobre ele e se desfizera em milhares de línguas rubro-brancas, logo desaparecidas, engolidas pela escuridão.
Pouco depois, como que saído de um letargo, Salvio falou:
— O sinal, Jeremias! A “mãe-do-ouro”! O símbolo do poder!
E sua voz parecia estranha, longínqua, tal a emoção que a embargava.
Teriam os atlantes também observado o estranho fenômeno? Não sabemos. Pelo menos, não ouvimos as suas vozes, e não percebemos movimento algum entre eles.
Quincas não viu nada. Dormia pesadamente.
Nós dois não conseguimos dormir o resto da noite. Ficamos sentados, olhando o horizonte negro, olhando para as estrelas, tão numerosas como eu nunca vira. Lá no fundo de nossa alma pressentíamos um novo fenômeno. Qualquer coisa estranha devia suceder ainda, qualquer coisa que não podíamos saber o que fosse. E as horas passaram, sem que nada acontecesse. Afinal, uma grande bola de fogo começou a surgir por trás da morraria, enchendo o céu de faixas vermelhas, roxas e amarelas.
Era o sol.
Os oito atlantes puseram-se de pé. Pouco depois, Quincas levantava-se também, satisfeito. Depois de comer frutas, pusemo-nos novamente a caminho pela estrada, diretos ao grande cone lá no horizonte, agora nimbado por uma poeira de luz dourada.
Daí em diante a caminhada se tornou mais difícil. Durante horas descíamos a profundos vales, e durante outras horas infindáveis subíamos intermináveis encostas. Ondeávamos com as montanhas, acima e abaixo, como um barco perdido no mar, mas seguindo um rumo certo.
Cada vez que chegávamos ao alto da uma serra, avistávamos mais perto o gigantesco penhasco sombrio que nos atraía como um imã. Depois do segundo dia, só o perdíamos de vista quando descíamos a profundas ravinas. Lá estava ele, ao longe, como um gigantesco dedo erguido para nos indicar o caminho.
Durante quatro dias subimos e descemos morros
E, afinal, vencida a última etapa, vimo-nos frente a frente com o colosso. Ele se erguia nascendo, inesperadamente, do chão, ao centro de imensa planície que verdejava aos nossos pés. Era u’a massa negra, empolgante, alcantilada, tão a pique, que alpinista algum poderia jamais pensar em escalá-la.
Ao seu redor, a planície plantada com árvores dispostas em círculos concêntricos ao monstruoso morro. E a estrada, que vínhamos palmilhando, descia diante de nossos olhos, serpenteando, escorrendo por baixo das árvores da planície para ir desaparecer de encontro à muralha do rochedo.
Estávamos parados, imóveis, mudos de emoção. De repente, vozes se ergueram, ao nosso lado:
— Geomá! Geomá!
Os oito atlantes estavam ajoelhados, de cabeça baixa, murmurando a palavra sagrada. Depois, ergueram-se, e, de braços estendidos para a montanha, começaram a recuar, até que se voltaram e partiram, de volta, sem nos dizer uma palavra, sem nos lançar um olhar.
— Decerto, estão proibidos de passar daqui...
— Eu também o queria estar, Salvio. Para dizer a verdade...
— Não comece de novo — interrompeu Salvio — não recomece. Vamos descer.
Quincas já ia descendo e foi a contragosto que os acompanhei estrada abaixo. Parecia preso por algum poder misterioso. Mas nada podia fazer. Naquele ponto, tínhamos que ir adiante, de qualquer modo.
Creio poder afirmar que os três retardamos a descida o mais possível. Parávamos sob qualquer pretexto, e também sem pretexto nenhum. Que nos retinha? Medo?
A noite veio surpreender-nos ainda a meio caminho da encosta. Deixamos a estrada e nos abrigamos sob uma árvore bem copada. Sentamo-nos, à espera de que alguma coisa nos viesse fazer andar. Tentamos conversar, mas só o podíamos fazer em voz baixa e as palavras morriam muito depressa.
O sono não vinha. Nossos olhos estavam presos ao colosso de pedra, muito vagamente delineado na escuridão, visível apenas como uma mancha mais negra. E as horas se arrastavam.
***
Em meio a penosa vigília, ouvimos sons, que nos puseram-se imediatamente alerta. Era como o tanger de numerosos sinos, mas sem o som metálico dos sinos; chegavam até nós como que envoltos em flocos de algodão, suaves, macios, lentos... O volume foi aumentando, mas a quantidade permaneceu a mesma: aveludado, macio, dolente. Lembrava certas modulações da música oriental, imprevistas, aparentemente desconexas, mas cheias de fascinante encantamento.
Erguemo-nos. E, subitamente, uma luzinha apareceu tremulando, lá em baixo na planície, como um furo candente no negror. Pisca-piscou um instante, movendo-se para um lado. De repente, outra surgiu atrás dela; hesitou por um segundo e seguiu após a outra. Depois outra, mais outra, mais outra... todas surgindo assim de súbito, como se saíssem de um buraco negro, invisível. E continuavam a surgir, e caminhavam, umas atrás das outras, em fila, numa procissão ondulante. Centenas de luzes ambulantes, persistentes, misteriosas... E os sinos tangiam, enchendo o ar daquele som macio, maravilhoso, monocórdico e, contudo, fascinante — música estranha para nossos ouvidos, melodia monótona, enervante, abissal, que provocava vertigem.
Enfim, a última luz surgiu e seguiu atrás das outras. A procissão estava completa; em longa fila estendia-se pelo terreno, interrompia-se aqui e ali, escondida decerto por algumas árvores, e continuava lá adiante, vasta curva que, ao que imaginamos, passava por trás do colossal rochedo.
Depois, a brisa nos trouxe o som enfraquecido de um imenso coro de vozes cantando uma litania onde não se distinguiam sons agudos nem graves. Era como o fluir e refluir de ondas numa praia distante. Não tinha palavras. Ondulava como o som dos sinos e como a procissão de luzes. Espaçadas, longas, moduladas num ritmo enervante, as notas longínquas chegavam até nós assim:
— I... A... O... E... U... O... E...
E, vibrante, claro, como que animado de estranha vida própria, um trecho se destacou:
— I... E... O... U... A...
A litania foi se extinguindo suavemente na distância, com a procissão que também desaparecia na grande curva. Vimo-la ainda durante algum tempo, caminhando na escuridão, como uma infindável lagarta de olhos luminosos. Afinal, a última luz tremulou e desapareceu, engolida pela sombra, decerto por trás do rochedo.
O som dos sinos durou mais alguns segundos, e morreu tão suavemente como começara. Tudo ficou profundamente silencioso, profundamente escuro, profundamente imóvel. E nesse silêncio, nessa imobilidade, nessas trevas palpitava vida, uma vida que sentíamos roçar pelo nosso espírito, mas que não compreendíamos.
Nenhum de nós disse uma palavra.
Deitamo-nos em silêncio sob a árvore. Eu adormeci pesadamente. Quando acordei, o sol estava alto. Meus companheiros acordaram, um após outro. Estávamos cansados, esmagados, e sem apetite, mas comemos algumas frutas do grande cesto que Quincas trazia.
Pusemo-nos a descer o que restava da montanha, e, com o sol a pino, pisávamos a planície verdejante. O solo era coberto de fino capim. A estrada, pavimentada de pedras brancas, seguia até à boca escura aberta na base do rochedo.
Quando chegamos ao umbral da imensa porta, detivemo-nos.
CAPÍTULO 23
UM ATLANTE FALA SOBRE O MUNDO MODERNO
— Sejam bem-vindos!
A voz vinha de dentro, das trevas. A pronúncia tinha estranho acento. Em seguida, um atlante surgiu das sombras do imenso portal. Assemelhava-se aos que já conhecíamos. Fisionomia acentuadamente decidida, tez bronzeada, grande nariz aquilino.
— Bem-vindos a Atlantis, a Eterna.
— O mesmo nome! — murmurou Salvio, fascinado. — O nome antigo.
— O mesmo nome, o mesmo povo, os mesmos costumes — falou o atlante num sorriso bondoso. Entrem.
Voltamo-nos, porém, a um chamado de Quincas.
— Venham ver...
Fomos. Salvio arregalou os olhos.
— Céu! O símbolo, Jeremias! O símbolo!
— Sim! — consegui exclamar, fascinado também. — A “pedra”... O grande círculo sobre o triângulo... o lótus de mil pétalas... as runas... o sol e a lua!...
E ali ficamos os três, embasbacados, olhando o miraculoso símbolo que nos trouxera desde São Paulo, agora ali perfeitamente reproduzido em gravação na rocha, ao lado da monumental entrada. Era estonteante e dava vertigens. Quantos milhares de quilômetros — de intransponíveis quilômetros! — separavam aqueles dois símbolos! Um, em São Paulo, dentro da velha arca vinda das Guianas ou da Venezuela, e o outro aqui, no centro do sertão, quase na fronteira entre o Pará e o Amazonas, junto a uma porta que dava para o mistério! Tão separados, e, no entanto, tão unidos!
O atlante olhava para nós, sorridente.
— Conhecem? — perguntou ele.
— Conhecemos — respondeu Salvio. — Isso é que nos trouxe até aqui. Foi a primeira revelação. Um pedaço de grade de ferro que o tio de Jeremias trouxe das Guianas, ou da Venezuela, não sabemos.
— Nem de uma, nem de outra. Do Peru. Do grande Templo do Sol no Peru. A grade do altar dos sacrifícios. Há muitos anos ela foi destruída e despedaçada.
Era um farrapo de história que fazia reviver grandes dramas sombrios. Mas o atlante não queria contar a história.
— Entrem.
Seguimo-lo através da porta. Não era porta. Era túnel. Para que os leitores possam fazer idéia do local, vamos tentar explicar aquela construção. De longe, víamos o grande cone de rocha como se fosse uma peça única e lisa. Mas, na verdade, ele era rodeado de uma muralha, também de granito. A conformação das crateras lunares pode dar idéia aproximada da estrutura. Entre o cone propriamente dito e a muralha que o envolvia ininterruptamente havia um espaço amplo, de um quilômetro, talvez, coberto de vegetação. A porta que acabávamos de transpor era o túnel que atravessava a muralha, um túnel longo e tortuoso. Creio que aquela porta podia ser fechada de modo a vedar qualquer entrada no recinto, porque escalar a muralha seria impossível.
Jamais o homem pudera dispor de tão inexpugnável fortaleza.
— Por que tantas precauções? — indaguei.
— Porque não confiamos nos homens que povoam o mundo de onde vêm. Sofrem da fúria da conquista. Querem conquistar tudo. Até o que não precisam, até o que não podem conservar. E é essencial que nós possamos viver em absoluta tranqüilidade e segurança. O nosso sistema é simples e eficiente. Só poderão chegar aos nossos Postos Avançados aqueles a quem quisermos deixar passar. Mesmo sem a nossa intervenção, os que se aventuram nessas florestas são logo vitimados, pelos selvagens, pelas febres, pela fome, pelas serpentes, por milhares de perigos. Mas os que conseguem escapar de tudo isso não passarão dos Postos Avançados, sem o nosso consentimento. Evitamos, assim, a visita de importunos que trariam atrás de si outras visitas, mais importunas ainda. Somos intransigentes, pois que temos uma missão a cumprir no futuro, e havemos de cumpri-la.
— Que missão é essa?
— É humana e divina, e só terá lugar quando surgirem certas circunstâncias, quando a atual civilização tiver destruído tudo quanto no mundo existe de respeitável e de humano — o que não demorará muito, porque o homem enlouqueceu de puro orgulho. Então, entraremos em cena, com novas bases de vida. Até lá, não podemos ser perturbados, e não perturbaremos ninguém. Deixamos que os homens se entredevorem à vontade em nome de direitos e de poderes que eles não entendem nem dominam.
— Mas pode vir um exército e...
— Impossível. Totalmente impossível.
— Mas há outros meios. A civilização vai avançando, as cidades se estendem, vão conquistando os desertos e as matas, e qualquer dia estarão próximos deste lugar. Então...
O atlante riu gostosamente.
— Que sonho, meu amigo! Que sonho! Só de quem se entusiasmou com os progressos da técnica moderna e se esqueceu de tudo o mais... A civilização de que o senhor fala jamais chegará até qualquer dos nossos Postos Avançados. Não terá tempo. Na verdade, ela já está em adiantado processo de decomposição. Pensa que está viva e forte, mas engana-se. Está ôca e apodrecida. Só tem casca. Daqui por diante os homens lutarão barbaramente para conservar o que têm, e essa mesma luta será um processo de destruição, tanto mais que, empenhados a fundo nessa luta, não poderão progredir. Regredirão, então, segura e paulatinamente, até o fim. Seria magnífico se eles pudessem voltar ao estado de selvagens. Mas não o poderão. Agarrar-se-ão desesperadamente aos restos de um conforto fictício e fatal, e para o conservar, matar-se-ão impiedosamente. Os dois últimos homens seriam capazes de lutar até a morte pela posse de um aparelho de barbear... — Depois de curto silêncio, continuou: — As guerras se sucederão sem interrupção. Depois de cada guerra haverá desordem, roubos, fome, e guerras civis. Enquanto alguns países estiverem assim lutando, outros estarão tratando de alimentar essa luta e essa desordem, para os dominar. Depois, os países que se conservaram fortes lutarão entre si para disputar a posse das vítimas, e as vítimas serão arrastadas à luta, de um e de outro lado — tudo isto em nome da humanidade, da bondade, da justiça, do direito — notem bem. Ao fim de cada guerra, haverá países certos de terem alcançado vitória esmagadora, e estabelecerão as normas da futura paz, para garantia da qual só eles, vencedores, deverão permanecer fortes e armados. Na realidade, não conseguiram senão destruir mais um bocado do mundo e terão anexado aos seus próprios e árduos problemas, muitos outros problemas referentes aos povos sob sua dependência que devem organizar e defender. Estes povos um dia se revoltarão, se levantarão para destruir por sua vez. Sempre foi assim, mas o perigo está em que as armas que se inventam são cada vez piores e mais destruidoras, daí a destruição final inevitável. Os homens viverão assim, empregando toda a sua indústria, toda a sua inteligência, todo o seu poder no afã de se defenderem de ataques, de se prepararem para outras guerras, de impedir de que outros pratiquem invasões. E todos os dias perderão terreno, e cada dia serão mais intransigentes, mais animais, menos humanos.
O rumo que a vossa civilização tomou é o rumo da ruína. Nada mais poderá fazer o Moloch parar, porque a grande mola que o move é a Cobiça... Os homens do seu mundo prometem, falam, fazem planos — sem a mínima intenção de cumprir suas promessas. Os seus homens de governo estão de tal maneira escravizados aos industriais e argentários que só governam tendo em vista o interesse destes e apenas quando coincide o interesse do povo com os daqueles é que fazem algo acertado. A Cobiça perdeu os homens, meus amigos.
— E os senhores, têm algum remédio contra a cobiça?
— Temos. Todos o têm ou o conhecem. O que falta é a coragem de o aplicar.
— E qual é esse remédio?
O atlante sorriu.
— Como perderam de vista as verdades mais simples!
— Que verdades?
Ele sorriu mais uma vez, fez uma ligeira mesura, e disse:
— Meu dever é trazê-los até aqui.
Sem o perceber, enquanto ele falava, tínhamos atravessado o jardim interno, penetrado no rochedo central, por um longo túnel e estávamos agora numa sala de dimensões normais, mobiliada confortavelmente, como qualquer sala sem luxo. Boas poltronas, uma mesa.
— Sentem-se e esperem um pouco.
Sentamo-nos, e ele saiu sem dizer mais nada.
— Então, Jeremias? Que diz disso tudo?
— Nada posso dizer. Esse homem impressiona a gente.
— A verdade dita com simplicidade sempre impressiona.
— Não sei se ele tem razão... — murmurou Quincas.
— E eu creio que tem... Acredito no que ele diz e também penso que aqui pode estar a semente de uma nova humanidade, mais coerente e mais “humana” — respondeu Salvio.
— Pode ser... Eu...
— Ouça, Quincas. Estou sentindo uma impressão estranha e nova. Agora, depois que esse homem falou, dizendo claramente coisas que todos nós sentimos mas não temos coragem de declarar, agora compreendo que estamos, realmente, no fim da nossa orgulhosa civilização. Os sinais estão todos lá, evidentes: a devassidão, a imoralidade, o despudor, a ânsia de rapinagem, o desprezo pelos humildes — sinais que acompanham sempre a degenerescência provocada pelo “clímax” da civilização. Creio que estamos começando a descer o outro lado da montanha. Outro sinal é a constituição dos governos absolutistas, é o domínio cada vez maior da força. As democracias atuais são farsas, e não têm mais campo. Elas quererão reagir, lutarão, mas se transformarão, sem o sentir, em ditaduras também. Quer dizer: estamos vivendo uma época de violências. Daí, os grandes exércitos, as grandes polícias, a escravização do povo. Este reagirá a princípio, mas se adaptará com o correr dos anos, e cada país será, então, um rebanho de escravos trabalhando sob domínio dos “representantes da lei”: fuzis, baionetas, metralhadoras e bombas atómicas... E dominando tudo — o orgulho, a volúpia do poder e do mando, do domínio absoluto. Isto leva os homens à loucura, ao desvairamento e ao crime — sempre em nome da “honra da pátria”!
— Você se adaptou muito depressa! Está falando como eles. Até parece que o atlante lhe deu a palavra...
Salvio olhou-me de modo particular, percuciente e bondoso, e murmurou, lentamente:
— E por que não seria eu, também, um atlante?...
Quase dei um pulo, e foi como que se uma cortina se tivesse descarrado de repente. Compreendi, num relance, uma porção de coisas que até então me eram inexplicáveis. Salvio estava sereno, perfeitamente senhor de si, como se se encontrasse no seu elemento natural. Não sei o que lhe ia dizer, porque um homem entrou:
— Sejam bem-vindos a Atlantis, a Eterna! — cumprimentou ele com agradável sorriso. Era uma criatura simpática, como, aliás, todos os atlantes que tínhamos visto até então. Sentou-se e, como se nos conhecesse há muito tempo, começou a conversar conosco sobre diversos motivos, a viagem, a vida nas grandes cidades brasileiras. Em verdade, ele conversava com Salvio. Quincas e eu éramos meros espectadores. Durante algum tempo, estive alheio à conversa, absorvido em pensamentos próprios diferentes. Depois, voltei ao cenário, e prestei atenção.
— É natural que assim seja — dizia o atlante — porque somos a raça mais antiga do universo. A nossa língua é a língua-mater. A nossa grafia hoje está evoluída, mas ela se compunha de certo número de sinais que deram origem aos sinais gráficos de todos os alfabetos do mundo. Por isso, todos eles se assemelham aos nossos. Os caracteres sabeanos, por exemplo, têm 40 formas idênticas às dos nossos; os megalíticos, 23; os ibéricos, 16; os cretenses, 15; os gregos, 14. Com este mesmo número vêm os sumerianos, etruscos, pré-históricos do Egito, fenícios, púnicos, sinaíticos, oghânicos da Irlanda e rúnicos da Escandinávia.
— Isso quer dizer — falou Salvio — que a escrita pré-histórica do Brasil constitui o resto de uma escrita antiquíssima e universal, a mãe de todas as escritas atuais?
— Claro, meu amigo! E todos aqueles que conhecem a sagrada ciência do Verbo e do Ritmo estão aptos a penetrar a magia misteriosa das palavras.
— Magia das palavras? — perguntei. — Mas que tem isso que ver com os caracteres antigos do Brasil?
— A pergunta seria embaraçosa para aquele a quem a Ciência do Verbo fosse estranha... Meu amigo, o homem não inventou lei alguma. Todos os fenômenos, compreensíveis ou não, repousam em leis das quais muito poucas são hoje definidas e estudadas. Mas há uma lei básica cujo conhecimento permite ao homem o domínio das forças sutis da natureza. É a lei que rege o fenômeno da Palavra, lei intimamente ligada aos fenômenos da sonometria, cronometria... enfim, a própria Lei Matemática do Cosmos...
— Um momento — interrompi. — Não consigo compreender o rumo desta conversa. Parece-me confusa e sem lógica...
O atlante olhou-me com ar de paternal tolerância. Depois, como que em monólogo, continuou:
— Oh mistério dos mistérios! Oh drama humano da incompreensão! Há quantos séculos o homem, na sua vida diária, a cada momento, prostitui a Palavra — instrumento mágico por excelência e sem o qual as mais elevadas operações do pensamento jamais atingiriam o mundo sensível! A palavra põe em jogo forças que o mundo não conhece e provoca reações de cuja existência ele nem sequer suspeita! Como nasceu a escrita? Oh, inefável mistério da concepção! Ensina a nossa velhíssima tradição que, para representar graficamente cada um dos sons da nossa língua, os augures empregaram sinais que correspondiam a cada uma das posições que o homem assume nos atos principais da vida. Cada sinal corresponde a um som determinado e corresponde, também, a um modo de exprimir a própria vida. Como sabem, os atlantes se espalharam por todo o mundo, e as condições de vida que encontraram nos vários pontos do globo foram alterando a base de cultura que lhes era própria, e modificando a mentalidade, e, portanto, a linguagem escrita e falada. Não é, portanto, ilógica nem confusa a nossa conversa... Aqui no Brasil, por exemplo, pátria de origem do primeiro homem e da primeira civilização — a terra que mais cedo assistiu à evolução do homem, porque é a terra mais antiga do mundo — aqui mesmo temos frisantes exemplos da força das palavras...
— Aqui? — perguntei, mais para dizer alguma coisa.
— Sim. A palavra “Brasil”, por exemplo... Há quantos milhares de anos ela designa esta parte do mundo! Quiseram impor-lhe outros nomes, mas nada pôde vencer a força do primitivo, porque a ele está ligado o próprio destino da terra. Era Brasil, e ficou Brasil. E será Brasil, enquanto houver sobre a terra um homem capaz de pronunciar um nome...
Por um momento ficamos calados. Fitávamos o atlante, como se ele fosse um prestidigitador prestes a nos assombrar com alguma habilidade fenomenal. Serenamente, continuou :
— E a palavra América? Pensam acaso que se deve ao nome daquele navegador? Não. Nem ele se chamava Américo, e sim Alberrico. Ele é que modificou seu nome por vaidade. América, com pequena modificação, foi sempre o nome de todo o continente... Amerríqua, era como nós, os atlantes, o chamávamos há muitos milhares de anos — “amerríqua”, lugar onde sopram livremente os ventos...
Houve um silêncio mais longo. Eu parecia sonhar. E ouvi a voz de Salvio, clara, vibrante:
— Tudo isso é maravilhoso e intuitivo.
Quincas, com os olhos arregalados, iluminados por uma chama de entusiasmo, estourou de repente:
— Caramba! Isto é formidável!
Aquela burlesca, mas entusiástica exclamação pusera fim à entrevista. O atlante levantou-se, sorrindo, deu-nos algumas informações e terminou:
— Amanhã, depois do exercício matinal no parque, virei buscá-los para apresentá-los ao Primeiro Orientador.
Depois de ter saído o atlante, Quincas declarou que estava com fome:
— É sempre assim. Quando ouço alguém falar muito, fico com uma fome louca.
— Mas que é que você diz do homem, Quincas?
— Ora... os homens são todos iguais. Quem está por cima é quem sabe tudo e tem razão...
E com essa estarrecedora opinião, saímos do nosso quarto e, pelo longo corredor, dirigimo-nos ao refeitório. Não havia porta. O corredor desembocava numa grande sala circular iluminada por muitas janelas. Espalhadas em volta havia mesas de pedra de tampo côncavo. Sobre quase todas se encontrava grande quantidade de frutas, algumas das quais eu não conhecia. Na parede, por baixo das janelas, havia pequenas portas, como portas de fornos. Abrimos algumas. Por trás de cada uma delas havia uma cavidade e, na cavidade, uma bandeja enorme, com pedaços de carne assada.
Como nos dissera o atlante, esse era o regime dos habitantes: frutas e carne assada. Não havia horário de refeições. Cada um comia quando lhe apetecia. Já nos havíamos habituado àquele regime de carne e frutas, e, por isso, comemos com satisfação. Depois, voltamos pelo longo corredor, e diante de nossa porta, paramos. Havia nela uma inscrição:
“SÁLVIO, JEREMIAS, QUINCAS
HÓSPEDES DE HONRA DE
ATLANTIS — A ETERNA”
CAPÍTULO 24
O TEMPLO DO SOL
Durante o resto do dia ninguém nos perturbou e desfrutamos de completa liberdade. Íamos e vínhamos pelos corredores; fomos ao parque que já atravessáramos naquela manhã; encontramos muitos atlantes, e todos nos cumprimentavam, ou, pelo menos, assim pensamos, porque nos dirigiam a palavra “Geomá”! Pela tardinha, fomos repousar em nosso quarto. Sentíamos um grande bem-estar, como se a própria atmosfera que respirávamos fosse qualquer coisa boa e repousante... Estranhamente, “sentíamos” que ali só havia bondade e boas intenções. Não sei como explicar isto, mas creio que deve haver muitas pessoas que o saibam.
Anoiteceu, e adormecemos suavemente. Estávamos, em verdade, cansadíssimos, pela caminhada e pelas emoções daquele dia cheio de mistério.
***
Acordei devagarinho, despertado pelos sons plangentes e opressivos que pareciam estar ressoando há muito tempo dentro do meu crânio. Reconheci-os. Eram os sinos que plangiam, naquelas mesmas notas longas e aveludadas que já ouvíramos, na noite anterior, na encosta da montanha.
Durante algum tempo ouvi, imóvel, aqueles sons fascinantes. Depois, sentei-me e uma voz chegou até meus ouvidos, baixa e cuidadosa:
— Está ouvindo, Jeremias?
— Estou. E você?
Decerto ele não reparou na tolice da pergunta.
— Estou também, há muito tempo.
— E o Quincas?
— Deve estar dormindo.
— Quem é que pode dormir? — perguntou Quincas.
— Que será isso? — continuou pouco depois.
— Deve ser a procissão das tochas...
— Será que eles fazem isso todas as noites?
— Seria absurdo. Talvez tenhamos chegado num momento especial.
O luar penetrava pelas duas grandes janelas — um luar maravilhoso. Essa pálida claridade e o som distante dos sinos davam ao ambiente um sabor de irrealidade que perturbava e acabou por me incomodar.
— Vamos ver a procissão?
— Vamos. Vem também, Quincas?
— Claro. Que é que eu ficaria fazendo aqui?
Deixamos o nosso quarto e caminhamos pelo corredor, para o lado do parque. Mas percebemos que o som dos sinos ia-se tornando menos distinto. No parque, caminhamos de um lado para outro, estranhas sombras inquietas, indecisas ao luar, e acabamos voltando ao corredor. Caminhamos para o lado da sala de refeições, notamos que se ia ouvindo melhor.
— Deve ser para os fundos — observou Quincas.
No salão de refeições demos com uma porta aberta em frente àquela do corredor. E era evidente que os sons se ouviam agora mais nitidamente.
Avançamos sôfregos, certos de que além daquela porta havia algo para ver. Era um longo corredor, escuro e curvo. Quando iniciávamos a caminhada no interior daquele túnel chegou até nossos ouvidos, pela segunda vez, aquela litania plangente. As estranhas palavras compostas de vogais apenas, flutuavam no espaço com singular doçura, em grande extensão e profundidade.
O corredor subia sensivelmente, sempre em curva, subindo para inesperada altura. Novo corredor, sempre volteando para a esquerda, mais plano. E agora, os sons que ouvíamos era música. Música dolente, estranha, de notas lentas e trêmulas, que se demoravam no ar, como se ficassem agarradas a ele e com preguiça de se esvair. Seriam sinos ou órgãos? E a litania de vogais ondeava rio espaço, deslizando ao lado das fascinantes notas do desconhecido instrumento.
De repente, o corredor terminou e vimo-nos diante do céu, um céu claro, recamado de estrelas. Estávamos sobre uma plataforma estendida sobre o abismo.
E o abismo...
Lá no fundo, a uns trinta metros, ou mais, estávamos vendo a perfeita reprodução da placa de barro do coronel Marcondes. As quatro conchas dos anfiteatros estavam cheias de assentos, e multidão de atlantes já ali se encontrava. Por uma abertura negra penetrava a procissão, cada um empunhando a sua tocha. Não é possível descrever o quanto deslumbrante e irreal era aquilo. Centenas de tochas iluminavam o vasto espaço em forma de cruz de braços curtos. Mais tochas entravam pela abertura e os seus portadores, lentamente, iam tomar lugar nas conchas, segundo uma ordem que não podíamos compreender ainda. E aquela multidão cantava e a música subia serenamente na noite. Estávamos deslumbrados, fascinados sobre a plataforma. E, de repente, Salvio murmurou:
— O Templo do Sol!
Os seus olhos cintilavam, e ele estava, em verdade, transfigurado. Não era o Salvio, o meu amigo de vinte anos; era outra criatura, um ser que surgia naquele momento, que nascia com as notas plangentes dos sinos, com a litania adormecedora de mil vozes. Apertando-me o braço perguntou :
— Que dia é hoje?
— 18 de março... por que?
Senti que Salvio estremecia. E foi com voz estranhamente suave e profunda que murmurou:
— Equinócio do Outono!... E, depois de uma pausa, como que para responder ao meu olhar interrogador, acrescentou: — É neste dia que os atlantes celebram o grande Ritual Humano e Solar...
Parece que só então percebi quanto era real, significativa e séria aquela cena que se desenrolava lá em baixo.
A procissão acabara de entrar. Todos estavam agora sentados, vultos imóveis e negros sob o palor do luar, sinistros à cintilação irregular de milhares de tochas. O canto prolongava-se numa nota interminável e o som estava parado, preso às anfratuosidades da rocha.
Depois, o silêncio caiu, súbito, sobre o anfiteatro, encheu-o e subiu até nós, opressivo como u’a mão que estrangula.
Diante dos anfiteatros havia um espaço vazio; espécie de arena, em cujo centro se erguia uma mesa de pedra lisa. Diante dela via-se uma grande cruz, aparentemente de pedra também. Era impressionante aquele espetáculo, agora, sob o silêncio e a imobilidade. Só as tochas palpitavam.
E então, de uma porta que devia ficar por baixo da plataforma onde estávamos, começaram a sair, em procissão, vultos cor de cinza, que, lentamente, de mãos atrás das costas e cabeça baixa, rodeavam o altar e iam formar grupos uniformes diante das quatro conchas do anfiteatro em torno da coluna. Outros, que chegaram após curto intervalo, rodearam o altar de pedra. Depois, num silêncio que pareceu maior e mais pesado, entrou a impressionante figura do Grande Sacerdote, envolta em ampla e flutuante roupagem branca. Em passos lentos chegou ao altar, parou, apanhou de cima dele uma grande espada reluzente que só então vimos. Desceu as escadas, e sempre em passo lento, dirigiu-se à coluna do nascente. Empertigou-se e ergueu a cabeça e os dois braços, a grande espada rebrilhante apontada para o céu. Irrompeu, de súbito, da multidão, um cicio que se ergueu, rolou abafado, monstruoso, e cessou de repente. O Grande Sacerdote dirigiu-se à coluna fronteira, e a cena se repetiu. Depois, repetiu-se ainda nas duas outras colunas. E então, o Grande Sacerdote, em passos majestosos, voltou ao altar do centro. Colocou-se de frente para a cruz e permaneceu erecto, imóvel, a mão direita com a espada erguida para o alto, a esquerda para a frente. Parecia uma estátua tão pétrea como o próprio altar. Assim permaneceu por um espaço de tempo que me pareceu interminável. Depois, a espada desceu e sua ponta tocou o altar. No mesmo instante, a voz cristalina do Grande Sacerdote elevou-se no grande silêncio:
— “Vem, ó Santa Palavra! Vem, ó Nome Sagrado! Nome Sagrado da Força Suprema! Vem, Energia Sublime, suprema Dádiva do Altíssimo!”
Meu Deus! Que força! Que terrível força havia naquela invocação! A rocha, o ar, tudo pareceu reagir e estremecer no contacto da prece misteriosa!
Vimos, então, com imenso espanto, a Sacerdotisa nua, levantar-se dos pés da grande cruz e caminhar com passos elásticos para a frente do altar. Levantou ambos os braços para o céu, ergueu o rosto e iniciou uma prece, as primeiras palavras estranhas e misteriosas de um cântico macio e envolvente:
— “Panphage... Hagios... Chaire!... Ischurion.. Abraxas... Abroton... Pangenetor... Athanaton... Hagios! Hagios! Hagios!”
E a multidão das tochas repetiu num potente coro:
— Hagios! Hagios! Hagios!
Seguiu-se, então, a litania langorosa: “I... A... O... ” que prosseguiu, acompanhando os sons dos sinos que de novo encheram o céu e a terra. Durante algum tempo ouviu-se a litania, que cessou, afinal, numa nota longa e triste. Imediatamente depois, ergueu-se novo cântico, entoado por uma única voz. Era o Grande Sacerdote que cantava o louvor do Grande Nome. Foi rápido e, uma vez terminado, ele se dirigiu aos seus discípulos, com voz potente que penetrava a rocha:
— Vinde a mim!
E os discípulos assim o fizeram. Deixaram seus lugares junto às quatro colunas e convergiram em massa para o altar. A Sacerdotisa estava abatida aos pés da cruz, forma indefinível e encantadora.
Tendo em volta de si os discípulos vestidos de cinzento, o Grande Sacerdote voltou-se solenemente para cada uma das quatro colunas que simbolizavam os quatro pontos cardiais, e quatro vezes pronunciou o nome profundamente sagrado:
— “IEOUA!”
Abençoou os discípulos, soprou nos olhos dos mais próximos e exclamou:
— “Eu sou a fonte eterna, manancial da doce ambrosia da qual brota a vida”...
A Sacerdotisa ergueu-se num movimento elástico, e executou uma dança maravilhosa em torno do altar, uma dança de silêncio e de ritmo fascinante. Quando ela parou no seu lugar, o Grande Sacerdote tomou do cálice que estava sobre o altar, abençoou-o e apresentou-o à multidão em torno, dizendo :
— “Eu sou o Caminho, a Verdade, a Vida!”
E toda aquela multidão, erguendo para o céu as tochas, recitou em uníssono a grande prece:
— “Escuta, Pai de tudo o que foi criado, Luz Divina, Grande Deidade! Tu, causa infinita de tudo o que existe, dá vida a este teu povo! Dá vida àqueles que nos seguem e nos ouvem, visíveis ou invisíveis — para que todos possamos participar do Reino da Justiça, pois que cumprimos a LEI!”
A multidão silenciou. A Sacerdotisa de novo executou a sua dança mística, desta vez percorrendo todo o espaço e detendo-se diante de cada uma das conchas onde estava o povo. Quando voltou ao seu lugar, o Grande Sacerdote ergueu os braços e recitou a prece final:
— “Oh tu, beleza imaculada! Tu, que dás o bálsamo para todas as chagas e que alentas o fogo que alimenta a vida! Tu, que dás a vida, permite que reconheça em ti a minha própria vida e a vida do meu povo! Eu conheço o teu mistério, o sagrado mistério que te envolve. Sei que foste dada ao mundo para tornar infinitas as coisas finitas e limitadas! Tua cabeça, ó Cruz, ergue-se majestosa para o céu e simboliza a vida! Teu pé, como uma lança, está cravado na terra, para que ajudes, em seu impulso volitívo, todas as criaturas! Tu és o Símbolo da Vida Eterna, ó Cruz!
E o silêncio recaiu. Agora era um silêncio opressivo, esmagador, cheio de terríveis promessas! Todas aquelas faces, voltadas para o céu, pareciam esperar um milagre.
O Grande Sacerdote, imóvel, com os dois braços e o rosto erguidos para o alto, o corpo inclinado para trás, parecia ter-se transformado em estátua de branco mármore.
Meu coração diminuiu dentro do peito. Que teria acontecido? Teria toda aquela gente se transformado em pedra, como as vítimas do rei da Thessália?
Mas eis que súbito tudo se ilumina de extraordinária luz. Olhei para cima, e — oh, maravilha das maravilhas! — vi a bola de fogo, a “mãe do ouro”, que das alturas descia sobre o anfiteatro. Terrível medo me invadiu e instintivamente ia recuar, mas um pulso de ferro me reteve. E eu tive que ver! A bola de fogo desceu sobre o altar, e, silenciosamente, se desfez em línguas, jactos, chamas e lençóis ígneos, envolvendo, num banho de fogo, o Grande Sacerdote, a Sacerdotisa, os discípulos, salpicando ainda a multidão imóvel!
E o Grande Sacerdote, com os braços abertos em cruz sob o banho luminoso, exclamou em místico transporte:
— “Recebei o santo sinal sobre o vosso pescoço, sobre os vossos lábios, sobre o vosso coração — para que vos torneis os Herdeiros da Luz!”
A bola de fogo se desfizera completamente. Mas o Grande Sacerdote permaneceu hirto, sorridente e feliz. Os sinos recomeçaram a tocar e a multidão recomeçou sua plangente litania; as vozes se ergueram pouco a pouco, até encher o espaço. E, lentamente, a procissão recomeçou. Cada um se foi levantando e encaminhando para a porta negra. As tochas movimentavam-se devagar, uma após outra desaparecendo sob a abóbada.
Meia hora depois ainda estávamos ali, petrificados, contemplando o grande anfiteatro vazio de povo, mas onde o Grande Sacerdote, a Sacerdotisa e os discípulos continuavam, imóveis, perante o altar. O Grande Sacerdote estava ainda com os braços abertos em cruz e a face voltada para o céu.
A angustiosa magia foi rompida pela voz de Salvio, que segredou:
— Vamos. Eles precisam ficar a sós.
Olhei ainda e vi a espada reluzir uma última vez sobre o altar. Num relâmpago de lucidez, percebi, sobre a pedra do altar, manchas escuras; no centro havia um orifício...
Salvio, porém, me arrastava, e eu estava emudecido.
CAPÍTULO 25
O PRIMEIRO ORIENTADOR VOLTA AO TEMA
No dia seguinte, pela manhã, andamos pelo parque, em meio a várias dezenas de atlantes. Aquele ritual da manhã era curioso. O parque enchia-se de homens e mulheres de várias idades e era como se todos fossem crianças soltas em liberdade de recreio. Corriam, pulavam; positivamente, brincavam! Chamavam-se aos gritos, riam muito. Alguns passeavam solitários e pensativos, sob as graciosas árvores e outros ficavam sentados sobre a grama ou nos bancos de pedra.
A cena era cinematográfica. Desprendia-se dela tal atmosfera de felicidade e descuido que a gente esquecia a idade e sentia no peito, novamente, o coração infantil.
Nós éramos solicitados por estranhos ímpetos. Tínhamos vontade de correr e pular pelo gramado, mas éramos, ao mesmo tempo, retidos por um escrúpulo compreensível. No entanto, eles nos deixavam num à vontade natural, como se fôssemos velhos amigos.
As mulheres vestiam túnicas esvoaçantes, e tinham os cabelos negros arrumados em forma de coroa. Não eram belezas, mas tinham um encanto tão natural, tão espontâneo e saudável que a gente as achava logo formosas — tão incerto é o conceito de beleza.
Dentro de algum tempo, uma hora, talvez, os grupos começaram a diminuir. Pouco a pouco, homens e mulheres iam desaparecendo, caminhando sem pressa, felizes, rindo e conversando animadamente.
Ficamos, afinal, só nós três no parque, imóveis e mudos, contemplando o cenário vazio. Em meus ouvidos ressoava ainda a alacridade daquelas criaturas.
Salvio permanecia de olhos fixos num ponto vago, e Quincas sorria, feliz.
— Que bonito! — foi o comentário ingênuo e instintivo do nosso guia e, agora, dileto companheiro.
Olhei para ele, e depois para Salvio, no momento em que este, suspirando, dizia, pensativo:
— Eles descobriram a felicidade...
* * *
Depois de termos comido algumas frutas no “salão de refeição”, voltamos ao nosso quarto e encontramos ali à nossa espera aquele homem que nos recebera no dia anterior. Depois de algumas palavras, ele nos anunciou, solenemente, que o Primeiro Orientador queria falar conosco.
Tomamos o caminho que tínhamos feito durante a noite. Subimos o mesmo corredor e as mesmas escadas, mas, antes de chegar à plataforma sobre o abismo, o atlante abriu uma porta e seguimos um corredor à esquerda. Chegamos logo a outra porta que estava entreaberta. O atlante empurrou-a e deu-nos passagem.
Era uma cela de pedra, do tamanho de um quarto comum. Sentado, olhando para fora pela ampla janela, estava um velho de longa cabeleira e longa barba brancas. Quando se voltou para nós, vimos que sua idade devia ser considerável, mas de sua fisionomia transpirava bondade e franqueza — e isto me lembrou que não vira ainda em pessoa alguma daquele povo as características tão comuns no nosso mundo, dos temperamentos impacientes, cruéis, egoístas. Todos tinham aquele ar de franqueza e lealdade que inspirava, logo, ilimitada confiança.
O atlante que nos trouxera deixou-nos, voltando, e a porta foi novamente encostada.
O velho observou-nos durante alguns momentos, sem nada dizer. Depois, recostou-se mais e começou a falar. Sua palavra era calma e simples:
— Não sei se deva lamentá-los ou felicitá-los por terem chegado até aqui... Decerto, perderam-se nalguma floresta e vieram por acaso...
— Não senhor — contestou Salvio, que era naturalmente o mais indicado para falar por nós. — Viemos deliberadamente procurar o Templo do Sol.
— Sabiam então da sua existência?
— Não sabíamos com certeza, mas aventuramo-nos e, durante a viagem, nossas esperanças aumentaram e se transformaram em certeza.
— Que esperavam encontrar?
— Esperávamos, apenas, encontrar provas de que o Brasil foi o berço da humanidade e da civilização, através dos atlantes. Não esperávamos, porém, encontrar os próprios atlantes, vivos...
— Mas qual é o interesse em saber que o Brasil foi o berço da humanidade?
— O interesse pela verdade. A ciência, monopolizada por alguns sábios europeus, insiste em afirmar que o berço da civilização teria sido a África e o da humanidade a Ásia. Manifesta completo desprezo pelo Brasil e pela América, nesta questão.
— Bem. Mas qual é a vantagem, em se estabelecer esse ponto?
— A vantagem é esclarecer os problemas da História.
O ancião sorriu.
— Duvida? — perguntou Salvio.
— Naturalmente que duvido.
— Por que?
— Por que? Eu sei que vocês só se movem por vaidade. A verdade é secundária, e só se respeita quando coincide com os desejos. O que vocês procuram são sinais de superioridade em relação aos outros povos...
Ele parou e fitou-nos. Eu ia me irritar. Decerto, ele era uma dessas pessoas que pensam monopolizar a sabedoria. Mas o velho continuou:
— No estado em que vocês se encontram não há nenhum interesse imediato em saber-se dessas coisas. Se vivessem em paz e se compreendessem perfeitamente uns aos outros; se tivessem os seus principais problemas resolvidos — então poderiam pesquisar por amor à verdade. Mas não é assim, e tudo o que fazem tem um segundo motivo, uma intenção oculta e é para conseguir vantagens. Vocês não vivem. Lutam como se cada um dos povos de língua diferente, e às vezes de língua semelhante, fosse constituído de uma espécie diferente de animais ferozes que é preciso destruir a todo o custo. Vantagem! Vantagem pessoal e vantagem coletiva — eis a idéia fixa! Nada fizeram até hoje para conseguir harmonia e paz, senão discursos. Discursos e planos inexequíveis, traçados pelas nações mais fortes com o intuito secreto de manter as outras sob o seu domínio, embora aparentemente assim não seja. Esquecem-se sempre de uma coisa importante: onde há vencedores, há vencidos, e como a paz nunca é assinada em termos justos, o vencido continua vencido e se prepara incansavelmente para ser vencedor algum dia, não importa quando. As lições de ódio são transmitidas de pais a filhos, no lar e na escola, de geração em geração...
— Bem sabemos disso — interrompi, irritado — mas não podemos reformar o mundo.
O velho olhou-me e, com uma voz pausada, continuou:
— É verdade. Nem vocês, nem nós. Agora é tarde para isso. O ódio é uma floresta plantada na alma universal e tem raízes demasiado profundas. A humanidade caminhará assim, pelo caminho da ruína, até a total destruição. Mas isto é uma lição, e tem que servir a alguém. Por isso estamos nós aqui, vendo e aprendendo, e ensinando aos nossos descendentes algumas noções fundamentais de vida que os há de fazer viver em paz num mundo melhor.
Ri-me francamente:
— Noções? Mas noções todos nós temos, senhor Primeiro Orientador. Conhecemos as boas regras da Justiça, da Bondade...
— Não acredito. Mas embora assim fosse, isso só provaria que conhecer as boas normas não adianta. É preciso vivê-las e aplicá-las. O simples conhecimento da Justiça não faz ninguém justo. Seria preferível que os homens não conhecessem regra alguma e vivessem em lealdade e harmonia.
— E quem conseguirá esse milagre? — perguntou Salvio.
— No mundo em que vocês vivem, isso será impossível. Vocês praticam o mal deliberadamente, sabendo o que fazem e procurando enganar aos outros e a vocês mesmos. Os homens de governo, sem exceção, cuidam unicamente de fortalecer sua posição no poder, e estender os tentáculos o mais longe possível, embora à custa de crimes, injustiças e desumanidades. Governar já não significa coisa alguma senão “dominar”. E os dominados sabem disso e não procuram evitá-lo senão por palavras inúteis. Nada poderá mais incutir no espírito dos homens de hoje as mais simples noções de uma vida digna e limpa.
— Quer dizer que estamos perdidos?
— Exatamente. Estão perdidos.
— Como vai ser então? — perguntou Salvio.
— Nós temos um livro — falou pausadamente o ancião — que nos guia há milhares de anos. Por ele temos conduzido a nossa vida, e graças a ele temos vivido em perfeita paz e cultivando a semente de onde há de surgir a humanidade do futuro. Através dos séculos tem sido o nosso guia e o nosso profeta.
— Que diz o seu livro sobre o nosso mundo?
— O que eu já lhe disse. Que não há salvação. Nós, os atlantes, fundaremos a futura civilização — a civilização definitiva, onde se aproveitarão todas as grandes lições do passado.
— Sabe que estamos em guerra? — perguntou de repente Quincas. — Alemanha, Japão e Itália contra os outros. São os totalitários fascistas e nazistas contra as Democracias...
O velho soriu.
— Ingênuos! Esses nomes nada significam. Todos os governos que vocês têm são to talitários e fascistas. O poder dominou definitivamente os homens através de uma minoria de atrevidos aventureiros, que monopolizam as indústrias, os armamentos e o dinheiro. Estão em guerra... e quando não o estiveram? Sempre o homem matando o homem, porque a sua política é tão arbitrária, nefasta e desumana que tende inevitavelmente a explodir em guerras periódicas. O que vocês chamam de paz não é senão um período confuso de esgotamento material e cansaço moral, durante o qual se preparam ativamente para a guerra seguinte...
Depois de uns momentos de pausa, ele continuou:
— São tão néscios que se julgam senhores de todas as forças e acreditam ter dominado a própria Natureza! Durante a guerra, tomam-se de furor assassino, matam-se aos milhões e destroem tudo impiedosamente. Nada mais tem valor. No entanto, conseguido o armistício, pelo total domínio do povo destruído, toda aquela coragem, aquele fervor desaparecem, e não são capazes de fazer a única coisa sensata: destruir todos os instrumentos mortíferos e guerreiros! Querem, sempre, ó geniais covardes, a “paz armada”! E então, só então, quando os campos e as cidades estão juncados de destroços e de cadáveres de crianças trucidadas — invocam os tais preceitos de justiça, igualdade, humanidade...
— Realmente... é uma loucura! — murmurou Salvio.
— Vocês fabricaram uma engrenagem de loucura, e foram tomados por ela. Não se deterão, a menos que destruam a engrenagem... mas não a destruirão nunca.
— Mas qual é a causa disso?
— A Cobiça! Ela perdeu os homens. O desejo desenfreado de lucros, cada vez maiores, cega os homens. Vocês se lançaram numa corrida desesperada para a conquista do luxo, do conforto, dos bens materiais, da riqueza, esquecidos de que a carne não vive, quem vive é o espírito. Jamais houve no seu mundo tão descontrolado desejo de dominar e gozar, como agora. E talvez, também, em época alguma, houvesse tantos milhões de criaturas sofrendo fome, miséria e frio. A guerra que vocês fazem não é como a guerra “normal”, que atira o tigre contra o leão, o lobo contra o cachorro. É, ao contrário, uma ação cuidadosamente preparada pela minoria dominante, que com ela auferirá grandes lucros e vantagens. As minorias alimentam a guerra com a carne, o sangue e os sonhos daqueles mesmos a quem exploram, prendem e atormentam durante a paz. Mas não será isto bastante claro? É durante as guerras que se acumulam grandes fortunas, mas as grandes fortunas nunca são para aqueles que se arrastam nas trincheiras, que respiram os gases deletérios e são atacados de disenteria e se abrigam, para atirar, atrás de montes de cadáveres apodrecidos. Esses, quando conseguem voltar, andarão, depois, à procura de emprego, pobres enjeitados da vida, inutilizados e tontos. Reparem que as nações mais imperialistas e cínicas procuram dar aos seus soldados de todas as categorias, na frente de batalha, o máximo conforto, o melhor alimento... É preciso iludi-los, alimentá-los e conservá-los, porque eles são “máquinas de fazer dinheiro”...
O velho interrompeu-se de novo. Olhava-nos, como a observar o efeito de suas palavras. Eu começava a acreditar que estávamos diante de um perigoso desequilibrado.
— E fora da guerra é o mesmo — continuou ele — Ninguém mais tolera a modéstia e a simplicidade. Ninguém compreende que a verdadeira função do homem é “viver”. Todos: pobres, remediados, ricos e milionários correm desenfreadamente atrás de três coisas: dinheiro, dinheiro e dinheiro. Sempre mais dinheiro! E, se observarem bem, verão que todos os meios servem. Se o homem se envenena, enfrenta perigos e arrisca a vida para enriquecer — como há de respeitar os direitos e a vida do seu próximo? Eis o que vocês fizeram do mundo!
Eu estava farto daquela conversa. Queria ir embora. Salvio, porém, e até Quincas, pareciam fascinados. E o velho continuou a falar. Depois contou como a Atlântida tinha sido destruída por um desequilíbrio, ao surgir, num grande movimento telúrico, a cordilheira dos Andes. Como os atlantes se haviam espalhado pela América do Sul, pela África, dando origem aos outros povos. Como depois da invasão de estranhos povos, terrivelmente selvagens, que dominaram as cidades da África e fundaram cidades na Europa, um grupo seleto de Atlantes tinham voltado ao ponto de partida, o coração do Brasil, trazendo o seu Livro, o Oráculo e a semente da Idéia. E aqui tinham ficado, à espera...
— E aqui estamos até agora, e aqui ficaremos ainda quem sabe ainda por quantos séculos... daqui irradiará a civilização, para tomar conta de um mundo novo. Tudo se fará lentamente, sem lutas nem choques. Levará milênios, talvez, mas valerá a pena, porque será a única oportunidade, para a humanidade, de assumir o seu verdadeiro papel sobre a terra.
— Quer dizer que os senhores são atlantes legítimos?
— É claro. Os que aqui se estabeleceram, há milhares de anos, eram os maiores, os mais sábios e perfeitos homens da nossa raça. Trouxeram consigo o Oráculo e a Idéia que há de criar a humanidade perfeita. Nós somos seus descendentes, continuamos a sua obra, e os nossos descendentes assim continuarão, sem esmorecer. Sabemos que somos a humanidade em marcha. Sabemos para o que viemos. Sabemos que o Tempo não tem limites, e, por isso, não temos pressa...
CAPÍTULO 26
VANILA
Estávamos outra vez no parque, depois de termos passado uma parte da noite discutindo as palavras do Primeiro Orientador. Eu não estava de acordo com ele, mas tinha que o respeitar, porque era a expressão do pensamento de um povo.
Mas achávamos-nos deslocados naquele ambiente. Não podíamos compreender a vida daquele modo. Se não era possível enriquecer e progredir, que se podia fazer? Onde estava o estímulo?
Eram quase sete horas da manhã e grande número de atlantes enchia o parque. Em grupos, eles folgavam, riam, corriam e gritavam, cheios de vida e de um prazer infantil que dava inveja.
Foi numa dessas correrias que uma pequena veio, de reponte, cair de joelhos diante do nosso banco. Levantou-se lentamente, antes que pudéssemos ajudá-la. Por um momento, olhou-nos, sorrindo. Depois, sentou-se na relva à nossa frente e falou:
— São os brasileiros, não?
— Somos. Chegamos há poucos dias...
— Sei. Sabemos de tudo. Viemos acompanhando a viagem desde que vocês chegaram ao Xingu.
— Somos os primeiros estranhos a chegar aqui? — perguntou Quincas.
— Não. Já chegaram outros. Os últimos foram dois homens, há muitos anos, quando eu era ainda menina. Um era velho e o outro, moço. Chegaram quase mortos. Os nossos companheiros tiveram que os carregar desde o rio Iriri...
Quincas teve um lampejo no olhar. Fitou a moça e perguntou, com voz mal segura:
— Como se chamavam?
— O velho chamava-se José...
— ...e o moço, Leandro — continuou Quincas. — José era meu pai... Onde está ele?
— Leandro vive do outro lado do rochedo. José morreu.
Quincas abateu-se. Sua fisionomia mudou visivelmente, enchendo-se de rugas. Murmurou:
— Pai... pobre pai...
Ficamos em silêncio. Quincas esforçou-se para serenar.
— Posso ver a sepultura de meu pai? — perguntou.
— Não temos sepulturas. Os mortos são cremados.
Quincas permaneceu absorto em sua dor, e Salvio tomou a palestra, perguntando se podíamos falar com Leandro.
— Naturalmente que podem. Quando quiserem... ele vive no Bairro Leste.
— Todos os mortos são cremados? — perguntei.
— Todos. Não há espaço para cemitérios.
— Mas nós vimos um cemitério subterrâneo...
— Ah! Também temos um, dentro da montanha. Mas destina-se exclusivamente aos Orientadores. Esses são conservados para sempre.
— Embalsamados? — perguntou Salvio.
— Ao morrer, substitui-se o sangue de suas veias por um líquido oleoso. Depois, extraem-se algumas vísceras, e defuma-se o cadáver com fumaça de certas ervas e óleos aromáticos. Em seguida é encerrado numa gaveta que se fecha hermeticamente. Duram assim eternamente.
Quincas parecia surdo e alheio a tudo. Seu ar pensativo e triste penalizava-me.
— Não há razão para você ficar triste, Quincas. Se seu pai tivesse morrido na selva, longe de todo socorro, ou nas mãos dos selvagens, entre sofrimentos, seria terrível. Mas ele morreu aqui, entre estas boas pessoas, cercado de amigos e de atenções...
— É certo — disse a moça. — Foi tratado com todo o carinho, como se fosse um dos nossos. E, agora, venham. Vamos brincar.
Não quisemos. Não nos sentíamos ainda suficientemente integrados naquela vida e parecia-nos ridículo sair a correr pelo gramado. Ela resolveu ficar conosco.
— Que pretendem fazer? — perguntou.
— Não sabemos — respondeu Salvio. — Nem sabemos ainda quanto tempo ficaremos aqui...
— Quanto tempo ficarão? Ora essa... ficarão para sempre! Daqui ninguém sai, especialmente estrangeiros.
— Ninguém sai? Nem os atlantes?
— Bem. Alguns saem. Os que são escolhidos todos os anos para desempenhar missões lá fora... Temos milhares de companheiros espalhados por todos os países.
Aí estava uma revelação positivamente espantosa. Incrédulo, perguntei:
— Como é? Há atlantes espalhados por todos os países?
— Sim. Em todos. Temos atlantes que são engenheiros, médicos, técnicos de toda espécie, formados em famosas universidades do seu mundo. Alguns são, até, pessoas de importância na administração, nas letras e na ciência, mesmo no Brasil.
— Mas isso é assombroso! Parece fantasia!
— Por que? Tem algo de impossível?
— Impossível, não. Mas é assombroso. Custa a acreditar.
— Mas é claro! A gente precisa saber o que vocês fazem, como pensam, como governam, e, para isso, temos que estar em contacto com vocês, e esse é o meio mais natural.
— De tudo quanto vimos e ouvimos aqui — disse Salvio — isso é o mais impressionante. Ouça...
A moça, porém, já não nos ouvia. Segurara as mãos de Quincas:
— Você está muito triste, Quincas. Isso não serve de nada. Venha comigo, que vou lhe mostrar algumas coisas bonitas do nosso parque...
Ela levantou-se e puxou-o pelas mãos. Quincas deixou-se levar e, pouco depois, ambos desapareciam entre grupos de atlantes, para o lado do bosque de acácias.
— E esta? — perguntou Salvio passando a mão pela careca. — Que é que me diz, Jeremias?
— Que é que posso dizer? Isto é espantoso. Estamos diante de um povo que sabe o que faz, tem uma diretríz definida e parece governado pelas verdadeiras leis naturais do homem...
— Felizmente para o mundo, Jeremias. Felizmente para a espécie humana. Isto é uma grande esperança, porque, na verdade, lá o nosso mundo está pervertido, desmoralizado e nada se poderá esperar de bom.
— Mas imagine isso, Salvio... atlantes espalhados pela terra, em todas as grandes cidades, observando, trabalhando... Imagine, atlantes no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre, Belo Horizonte... em todas as capitais, indo e vindo como se fossem bons brasileiros...
— E não o são, Jeremias? Mais brasileiros do que quaisquer outros!
— Sim. Mas falo de outro ponto de vista. Você compreende. É uma coisa inacreditável! Isto prova que estamos lidando com um povo realmente bem organizado. Faz-me acreditar em tudo mais do que aquilo que ouvi ontem, do Primeiro Orientador... Diga-me uma coisa, Salvio, que é que você pensa, sinceramente, disto?
— Penso que eles têm razão. Admiro, acima de tudo, a inquebrantável fé que têm no futuro. Aqui estão há centenas de séculos, dispostos a esperar outras centenas, até que chegue o momento que aguardam. Repare que nenhum deles pensa em si próprio, mas todos trabalham para um fim comum que não beneficiará a nenhum dos que vivem neste momento. Trabalham para o Mundo, para a Humanidade, para aqueles que hão-de nascer quem sabe quando!
Salvio calou-se e seu olhar introverteu-se, perdendo-se no futuro, muito distante, quando toda a humanidade seria feliz...
Meu pensamento saltou para acontecimentos mais recentes. Pensei na moça que levara Quincas. Era bonita e gentil, alegre e saudável como só se encontravam ali. Cheia de vida e com cérebro claro e arejado.
— Onde andarão aqueles dois? — perguntei.
— Devem andar por aí. O pessoal já está se retirando... daqui a pouco eles aparecem.
— Ela é bonita.
— Você achou? Eu não gostei. Não me pareceu bem mulher. A gente sente-se, desde logo, à vontade demais com ela. Não gosto. E parece que todas as mulheres atlantes são assim.
— Ora... pois eu achei-a muitíssimo feminina. É que estas moças têm saúde perfeita, e pensam claramente demais. Não estamos acostumados.
— Pode ser. Mas não me agradam.
— De outra vez, traga uma companheira.
— “De outra vez”? Você pensa que sairemos daqui?
— É claro! Pretenderá você ficar?
— Eu não. Mas eles pretendem que fiquemos, e não sei como poderíamos escapar. Aliás, você deve compreender que a segurança deles exige que não possamos voltar para a nossa terra.
— Ora... poderemos muito bem guardar segredo. E ninguém me obrigará a ficar.
— Pois sim... guardar segredo... Então eu não conheço você, Jeremias? Se voltarmos, a primeira coisa que você vai fazer, quando chegarmos, será escrever um livro a respeito...
— Não escreverei nada.
— Vá falando... eu bem sei... Olhe. Aí vêm eles...
Os dois vinham vindo, lentamente, entretidos em animada conversa. Chegando perto de nós, a moça tomou ambas as mãos de Quincas, olhou-o bem nos olhos, sorrindo e disse:
— Não falte amanhã, Quincas...
— Não faltarei, Vanila.
— E vocês venham também — disse ela sorrindo. E despediu-se. Saiu correndo e pouco depois desaparecia atrás de uma ponta de rocha. Quincas acompanhou-a com olhos felizes. E murmurou:
— Encantadora!
— Está sendo conquistado, hein, Quincas? — perguntei, zombeteiro.
— Não. Nada demais. Uma boa amiguinha...
— Bem — suspirou Salvio. — Vamos comer as nossas frutas.
* * *
Foi um dia monótono. Quincas parecia no mundo da lua, animado como eu ainda não o vira. Salvio resolvera fazer piadas — as piadas mais sem graça do mundo e eu sentia uma irritação surda e incompreensível. Eles interpretaram mal a minha irritação e Salvio resolveu fazer-me alvo das suas infames graçolas. Se pensavam que eu cobiçava Vanila, estavam muito enganados! Quincas que ficasse com ela — se era o que pretendia!...
Ninguém nos procurou durante o dia todo. Pouco depois de anoitecer, Vanila irrompeu no nosso quarto, como se fizesse parte da família. Esteve por muito tempo conversando conosco sobre vários assuntos, e admirou-se quando soube que não nos haviam dado uma ocupação que nos ajudasse a passar as horas.
Depois de termos conversado por largo tempo, Vanila convidou-nos para irmos ao parque, que estava um luar maravilhoso.
Fomos.
Realmente, a noite era excepcionalmente clara e bonita. O parque parecia um jardim de sonho banhado pela luz argêntea da lua. Sentamo-nos num dos bancos e divisamos, ao longo da muralha, outros bancos ocupados por pessoas aos pares. Vultos claros se moviam também entre as árvores, em passos lentos. Percebemos, em breve, que nós dois, Salvio e eu, estávamos sobrando. A coisa não era conosco, e sim com aquele diabo de goiano que viera para nos guiar... Quisemos levantar-nos, mas Vanila não nos deixou. Começou a explicar como estavam divididos os bairros residenciais.
— Neste núcleo só moram os casados e suas famílias — explicou ela — e os filhos até 20 anos. Vocês, quando se casarem, virão para aqui, também...
— Vai demorar! — disse eu, rindo.
Em seguida, Vanila deu-nos as últimas novidades: A guerra prosseguia, terrivelmente cruel. Os russos entravam violentamente na Alemanha. Os americanos, depois de atravessar a Holanda, também combatiam em solo alemão. Ingleses e americanos começavam a despencar sobre a Alemanha, do alto dos Apeninos. O Japão estava sendo bombardeado pelos americanos, desde bases em ilhas do Pacífico e de porta-aviões. Guerra, morticínio, destruição, sangue... como se todos os homens não fossem irmãos e como se não vivessem todos em busca de um mesmo fim: a felicidade!
CAPÍTULO 27
PONTOS DE VISTA DE UM ATLANTE
Estávamos conversando sobre a guerra, quando se aproximou de nós um indivíduo, que, sem maiores cerimônias, se incorporou ao grupo.
O tema da nossa conversa deixou-nos numa situação humilhante, perante os dois. De longe não percebíamos claramente quais eram os “nossos” ideais — os ideais que desencadeiam guerras, destroem cidades, chacinam milhões de criaturas humanas. Não compreendíamos bem que uma cousa — fosse ela qual fosse — conseguisse justificar tamanha hecatombe. O homem nos dizia que não há ideal algum, reivindicação nenhuma que possa justificar tamanha barbárie. Nós nos esforçávamos para ver a coisa por outro prisma. Quando eu lhe disse que precisávamos, a todo o custo, derrotar os nossos inimigos, ele riu e perguntou:
— Que inimigos?
Era difícil explicar-lhe. Falei nos interesses nacionais, no intercâmbio, nos mercados, nas fontes de produção.
— Francamente — disse ele, — Não compreendo porque possa haver barreiras e mercados a conquistar e interesses que são de um povo e não são igualmente do outro. Mas, se há isso, se vocês se dividiram como inimigos, interpondo muralhas entre uns e outros, isso prova, apenas, que são profundamente estúpidos. Esta não é a primeira guerra. Ora, se as guerras foram motivadas por essas questões, vocês já deveriam ter eliminado as causas, reformando a estrutura da sociedade e das relações entre os povos, destruindo as barreiras, libertando o comércio, fazendo-se amigos, enfim. Por que razão, depois de cada guerra, persistem na manutenção do estado de coisas que gerou a guerra? Se têm coragem suficiente para desencadear hecatombes em que morrem milhares e milhares de pessoas e em que os prejuízos materiais tomam vulto assombroso e ruinoso — por que não têm a coragem simples e mais humana de modificar toda a estrutura da administração? Deve haver, nos seus países, certos pontos, certas instituições, certas normas de direito que, por certo, são a causa dos atritos e das guerras — e vocês não podem ignorar quais sejam. Será, por acaso, mais penoso suprimir esses focos do que destruir cidades inteiras?
— O senhor não compreende — disse eu. — Seria difícil de explicar...
— Difícil, não. É impossível explicar, desde que não queiram confessar que estão errados e agem estupidamente, por estarem escravizados a princípios errados e por estarem sujeitos a grupos de pessoas que manejam os homens à vontade. Vocês pagam para serem desprezados, escarnecidos, presos, usados como animais de tropa e como animais de matadouro. Enquanto houver quem enriqueça à custa da desgraça alheia, à custa da destruição — vocês estarão errados.
Enfim, não adianta nada reproduzir tudo o que aquele intrometido atlante veio nos dizer. Ele falava como um papagaio, por ouvir dizer, e soltava tudo o que lhe vinha à cabeça, como um ingênuo, desconhecendo as causas reais dos nossos sagrados conflitos.
Quem não se interessou pela conversa foi o par Quincas-Vanila, que, sentado na grama, ao nosso lado, parecia embebido em uma conversa muito diferente da nossa. Salvio me disse mais tarde que eu azedara a discussão com observações impertinentes e inoportunas, e que muitas vezes perdera o fio da conversa, preocupando-me muito em lançar olhadelas para o par e, mesmo, esforçando-me para ouvir as palavras que eles trocavam. Afirmo, porém, que isso não é verdade. Se olhei o par uma vez ou outra, foi por acaso, e se azedei a discussão foi porque o atlante intrometido dizia asneiras e não respeitava devidamente os sagrados direitos de uma pátria. Ele não vivia entre nós, e, portanto, nada podia saber do que estava falando.
Imagine-se, por exemplo, quando chegamos ao ponto em que se tratou das classes trabalhistas! (Isto foi depois de ele ter descrito um complicado sistema em que vivem, onde tudo é de todos, e a terra não tem dono, e cada Núcleo se encarrega da instrução obrigatória, e mais uma porção de coisas sem nexo). Eu perguntei-lhe:
— Espere. Fale-me da proteção ao trabalhador.
— Que proteção?
— Oh, senhor! Mas, as leis trabalhistas! As garantias oferecidas aos operários!
— Não entendo.
— É tão simples! Como é que se garante estabilidade aos trabalhadores? Qual é a garantia que vocês lhes dão de que não serão explorados, maltratados...
— Não sei o que quer dizer. Mas de qualquer modo, aqui não temos garantias. Por que haviam uns de ter garantias e outros não? Não somos todos trabalhadores?
— Conheço essa cantiga... Sei o que quer dizer com isso de “Somos todos trabalhadores”... Há uma classe de homens que se empregam em serviços mais pesados, mais humildes, como os ferreiros, os fundidores, os pedreiros, os marceneiros, os agricultores... Esses homens, em todos os países civilizados, são objeto de uma legislação especial que é a última conquista das classes pobres!
— Legislação especial? — perguntou ele espantado. — Mas por que?
— Que ingenuidade! Para que não sejam explorados pelos patrões, para que tenham garantia de um ordenado mínimo, de aposentadoria, de assistência médica, de férias, e outros direitos...
— Espere! — exclamou ele levantando-se. — Isso quer dizer...
O atlante interrompeu-se, com fisionomia de espanto e olhos arregalados. De repente, exclamou:
— Absurdo! Quer dizer, então, que no seu país os operários pertencem a uma espécie inferior, são talvez animais domesticados, diferentes de você?
Fiquei furioso com tamanha estupidez que era uma ofensa para os nossos nobres trabalhadores e gritei:
— O senhor é idiota! Os operários são gente como nós! E é justamente para que sejam tratados como gente, com toda a consideração e justiça, é que criamos a legislação trabalhista!
— Mas é justamente o que eu penso! — respondeu ele, sem se alterar. — É justamente isso! Se existe a necessidade de se criar uma legislação especial para proteger o operário e dar-lhe um certo nível de vida, é porque eles, na verdade, são seres inferiores, abaixo da escala humana comum. Se não fossem, estariam enquadrados nas leis comuns, que regem todos os direitos humanos...
— Ora, pílulas! O senhor não entende nada disso! Em todo o mundo há leis protegendo os trabalhadores...
— Realmente, não entendo, não. Desculpe. E, se é assim, como você diz, estão fazendo muito mal, porque estão dividindo a humanidade em dois grupos distintos, com legislações diferentes para cada um. Isto tem que ir aumentando, aumentando sempre, e será a causa de conflitos tremendos no futuro. O que fazem é desumano. Não pode haver diferença entre os homens. Somos todos iguais.
— Sabe de uma coisa? — disse eu, contendo-me a custo. — Não é possível conversar com o senhor.
— Acredito. Estamos colocados em pontos de vista tão diferentes, que não nos entenderemos... pelo menos tão cedo.
— Não nos entenderemos nunca! — berrei. — Vocês são loucos e visionários.
— Loucos? Nós? — ele riu. — Mas, meu amigo, observe que nós não fabricamos arma de espécie alguma, não temos barreiras alfandegárias, não temos legislação trabalhista, não vendemos coisas que não são nossas, como terra, casas, etc. Não destruímos cidades nem criaturas humanas, a não ser quando nos vêm atacar... Somos loucos?
— Com licença. Salvio, vamos embora?
— Vamos. Com licença. Precisamos pensar muito sobre isto, para poder voltar ao assunto. É difícil para nós.
Quincas concordou de má vontade. A conversa entre ele e Vanila estava mais animada do que nunca. Afinal, ergueu-se ao mesmo tempo que ela, ambos com as mãos dadas. Durante longos momentos ficaram assim, mãos nas mãos, olhos nos olhos, sorrindo. Afinal, Vanila saiu correndo, e ele ficou ainda com os braços estendidos e um sorriso nos lábios, como um bocó.
Quando chegamos ao quarto, eu ainda estava nervoso.
— Temos que voltar, o mais depressa possível. Esta gente é maluca e perigosa.
— Ué... mas você parecia satisfeito, Jeremias...
— Não, não. Esperava outra coisa. Precisamos falar com o Primeiro Orientador e dar um jeito de sair daqui. Isto é uma jaula cheia de loucos perigosos.
Quincas não pensava assim:
— Não sei para que tanta pressa. Não vimos nada, ainda!
— Para mim, já vimos de mais. Precisamos fugir. Isto me cheira a tragédia.
— i Pois eu estou com vontade de ficar — declarou o guia.
— Isso é a primeira impressão. A coisa vista por fora. Mas, se você usasse o cérebro...
— Não. Nunca vi ninguém tão tranqüilo e feliz como esta gente. Depois, aqui morreu meu pai. Leandro anda por aí... tenho vontade de ficar...
— Mas que diabo quer você fazer nesta terra de loucos?
— Quero viver entre eles!
— Já decidiu isso?
— Não ainda, mas não há-de ser difícil. Vanila disse-me que aqui se faz tudo o que se faz na nossa terra — menos pólvora, armas e munições...
— É uma pena! Francamente: uma pena!
— Ora essa! Por que?
— Porque, se fabricassem pólvora, poderíamos tentar fazer isto ir pelos ares!
CAPÍTULO 28
“DAQUI NINGUÉM SAI!”
Só três dias mais tarde é que conseguimos nos avistar novamente com o Primeiro Orientador. E durante esses três dias, Quincas andou sempre fora das nossas vistas. Não sei que é que ele andou fazendo, mas eu não estava gostando. Já Salvio pouco se interessava com o desaparecimento do nosso companheiro. Dizia que o amor tudo justifica: “as tolices e as adesões”...
— Têm-se divertido? — perguntou o velho atlante.
— Sim. Estamos satisfeitos, e queremos partir.
— Para onde? Este Núcleo não lhes agrada?
— O que desejamos é voltar ao Brasil, à nossa terra.
— Então, é porque não estão satisfeitos. Que lhes aconteceu?
— Nada. Esperávamos coisa diferente.
— Diferente? Que é que esperavam?
— Em primeiro lugar — expliquei, tomando a palavra — nunca supusemos vir encontrar um povo neste fim de mundo, a não ser alguma tribo selvagem. Nossa esperança era encontrar ruínas, vestígios de uma civilização que aqui teria crescido em outros tempos. De modo que foi essa a nossa primeira surpresa.
— E ficaram tão decepcionados assim?
— Bem... Não é isso. Mas os senhores têm uma organização que não compreendemos nem aprovamos.
— Mas o fato é que todos aqui a aprovamos e estamos satisfeitos com ela. Não acredito que haja mais tranqüilidade e felicidade lá onde vocês viveram.
— Não sei. Mas há mais estímulo. Cada homem sabe que tem que lutar, sente perfeitamente a própria importância, e tem necessidade de se aperfeiçoar para progredir, alcançar posições... Ao passo que aqui...
— Aqui é o mesmo, meus amigos. Nada se faz sem luta. Cada homem tem que lutar pela sua posição na coletividade. Há graus infinitos de prestígio. Apenas, nós nos respeitamos integralmente. Ninguém seria capaz de usar seu poder para se aproveitar do seu trabalho. Não existe a exploração do homem pelo homem.
— Já falamos sobre isso e não chegamos a um acordo. Os senhores condenam a nossa civilização sem a conhecer devidamente.
— E parece que os senhores querem fazer o mesmo com a nossa. Como podem declarar que não concordam? Tiveram, por acaso, tempo suficiente para estudar a nossa organização?
Salvio entrou na conversa, com um derivativo:
— Qual é a religião?
— Adoramos o Sol.
— Isso é idolatria — bradei eu.
— Pode me apontar, por acaso, um poder mais real, mais universal, mais indispensável do que o Sol? Haverá algo do nosso conhecimento indiscutível que tenha maior influência sobre a vida humana, sobre a terra e sua fertilidade, sobre todas as energias conhecidas?
— Isso é outra coisa. Deus...
— Não discutamos esse ponto. O nome da Divindade não importa. Não podemos entrar em detalhes, nem discutir, porque se os senhores não compreendem a nossa organização social e política, muito menos compreenderão a nossa organização religiosa. Não acredito, por exemplo, que consigam entender, jamais, alguma partícula do que seja o PODER DA PALAVRA. Deixemos esse assunto.
— Está bem — disse eu. — Não sei, porém, como podem viver sem estímulo.
— Que é que chamam de estímulo?
— Ora... a possibilidade de progredir, de enriquecer...
— Enriquecer individualmente não é progredir, meus amigos, porque onde há ricos, tem que haver pobres — e isso é injusto. Progredir é enriquecer espiritual e mentalmente. É enriquecer coletivamente, com distribuição de igual soma de benefícios para todos.
— Isso é intolerável! Os senhores nunca terão grandes cidades cheias de arranha-céus e largas avenidas cheias de automóveis!
— Teremos coisas muito maiores e melhores. Mas não arranha-céus, decerto. O arranha-céu é um anacronismo, um mal da civilização errada que vocês construíram. Por que hão de os homens viver amontoados em pequenos cubículos sem ar e sem luz, tendo a poucos quilômetros de distância grandes extensões de terras não aproveitadas? Não é um contrasenso? Vocês são tão contraditórios que construíram aviões, trens e autos de grande velocidade e no entanto se amontoaram em bairros superlotados. Não percebem que isto é idiota? Se têm meios de transporte rápido, devem aproveitar a velocidade para cobrir a distância e alargar as cidades, morar em lugares afastados, gozar ao máximo da luz e do ar — as duas dádivas mais preciosas da natureza. Além disso as suas grandes cidades são o marco da desgraça. A argamassa dos alicerces de cada arranha-céu foi umedecida com o sangue, as lágrimas e o sofrimento de uma legião de trabalhadores mal alimentados e privados de conforto.
— Ora... isso é literatura.
— Talvez seja. Mas nós, felizmente, estamos bem longe de tudo isso.
— Está bem, senhor Primeiro Orientador. De Qualquer modo, o que desejamos é voltar para lá.
— Voltar?
— Sim. Voltar para a nossa terra.
O Primeiro Orientador olhou-nos serenamente, sem raiva nem ironia e, lentamente pronunciou as palavras:
— Daqui ninguém sai!
Salvio e eu ficamos mudos e assombrados. Quincas, no entanto, adiantou-se, e, pela primeira vez, tomou a palavra:
— Eu quero ficar aqui. Aqui morreu meu pai. Aqui vive um velho amigo meu. Eu ficarei.
— Será um prazer para nós — respondeu simplesmente o velho.
Agarrei o braço de Quincas e exclamei:
— Quincas! Você enlouqueceu! Pensou bem, Quincas?
— Perfeitamente. Não preciso pensar mais.
— Quincas... você quer ficar... só... por causa dela?
— Por causa de Vanila, sim, e porque vejo que aqui há uma tranqüila felicidade que nunca senti antes.
— Quer dizer que você nos abandonará?
— Se vocês não ficarem...
— É a sua decisão?
— A última. Sinto muito.
Eu ia estourar, mas Salvio interveio:
— Muito bem. Quincas é livre e fará o que quiser. Nada temos com isso. Só lhe podemos desejar felicidade.
Eu me voltei para o velho e quase gritei:
— E nós? Que é que decide?
— Decidiremos a contento de todos. Procurem-me amanhã à tarde e tratem de aproveitar bem estas horas...
Pareceu-me que aquilo era uma despedida e uma ameaça muito clara. Voltamos ao quarto, mas Quincas sumiu. Eu estava louco de raiva, e Salvio profundamente desolado. As coisas não tinham tomado o rumo que ele esperava. Sentia-se, também, de certo modo, ludibriado. Todo o seu sonho de templos subterrâneos e um estranho povo primitivo, meio-selvagem, ruíra diante de uma realidade talvez mais extraordinária mas menos empolgante.
— É uma cambada de loucos! — dizia eu. — Loucos! Loucos varridos! Precisamos fugir... e tem que ser esta noite!
* * *
Ao anoitecer, Quincas entrou no quarto com a fisionomia alterada e falando misteriosamente:
— Tenho que lhes dizer uma coisa...
— Que aconteceu? — perguntei, prevendo complicações.
— Vocês têm que ficar, de qualquer modo.
— Ora! Deixe de ser idiota!
— Ficar de boa vontade, ou morrer.
— Ah! São esses, então, os sentimentos humanitários dos atlantes?
— Fale baixo! Serão condenados à morte.
— Mas não poderíamos jamais suportar essa gente!
— Se tentarem fugir, morrerão no caminho.
— Mas teremos que fugir. Você compreende que, se ficássemos, seria o diabo para todos. Íamos estorvá-los. Não! Não pode ser!
— Compreendo. Que se há de fazer?
— Você! Você talvez nos possa ajudar... Vanila...
— Já sei. Falarei com ela...
Quincas hesitou por um momento, e, depois saiu, decidido.
Salvio e eu começamos a temer por nossas vidas. E o pior é que compreendíamos que, agora, tínhamos de aguentar. Nós mesmos — melhor seria dizer eu — criáramos uma situação insustentável. Havíamos demonstrado claramente demais ao Primeiro Orientador a nossa capacidade de revolta e de intolerância. Eles não podiam hesitar.
Salvio não dizia coisa alguma. Sentado no banco, com a cabeça entre as mãos, pensava, e nem respondia às minhas palavras. Eu caminhava de um lado para outro, resmungando, praguejando, xingando todo mundo.
Quincas reapareceu pela madrugada. Olhou-nos e, depois, dirigindo-se a Salvio, falou:
— É uma loucura. Será melhor ficar.
— Conseguiu alguma coisa? — perguntei.
— Pensem melhor e fiquem — insistiu ele.
— Diga logo o que arranjou, Quincas!
O bom amigo olhou-me com ar de censura. Depois, disse:
— Bem... vocês querem arriscar...
— Diga logo, Quincas!
— Ouçam com atenção: Terão que partir imediatamente, mas não poderão voltar pelo caminho por onde viemos. É preciso partir em sentido contrário, para Oeste, até alcançar o rio Jamaquim, o primeiro rio grande. Descerão por ele até ao Tapajós, e por este irão até ao Amazonas.
— É fácil! — exclamei. — Será um passeio!
Não será tal. Quem não conhecer o caminho jamais chegaará ao Jamaquim. Daqui até lá toda a região é um pântano intransponível.
Mas, então...?
Quincas tirou um papel do bolso.
— Olhem. Aqui está um mapa com as indicações necessárias. Caminhos subterrâneos, atalhos, pousos de alimentação, fontes de água pura... Sigam por este mapa, aconteça o que acontecer. Se não fizerem isso, estarão irremediavelmente perdidos...
— Quincas... e você?...
— Não se preocupem comigo.
— Venha também... Voltemos juntos, como viemos...
— Não. Eu prefiro ficar. Ficarei.
CAPÍTULO 29
E AGORA?
Quando os primeiros albores da madrugada começavam a tingir de cor-de-rosa as ondulações do nascente, nós dois estávamos sobre uma colina, a Oeste, já bem longe de Atlantis.
À nossa frente estendia-se um tremedal infinito, que se prolongava até o horizonte. De longe em longe surgia do meio da água estagnada o esqueleto de uma árvore, retorcido, torturado, implorando clemência do céu. Subia daquele pântano um vapor espesso, lento e mal cheiroso.
Lá atrás se erguia, majestoso, sereno, negro contra o albor matizado da madrugada — Geomá, a mole de granito em forma de pão de açúcar, que escondia o mistério de um povo que fora, era, e havia de ser...
Àquela hora, enquanto nós contemplávamos o torvo tremedal sem fim, os atlantes se estariam se levantando, e, dentro em pouco, iriam para o parque verdejante, rindo, correndo, saltando, brincando como crianças, felizes numa grande alegria de viver, praticando o saudável exercício matinal que lhes daria um bom dia...
Olhei Salvio. Seus grandes olhos tristes estavam presos ao rochedo.
— Salvio... É uma loucura!
— O que?
— Voltar... Fiquemos.
— Não seria mais possível. Eles não teriam mais confiança em nós, Jeremias. Seríamos um espinho encravado nu admirável serenidade desta gente. Onde está o mapa?
— Está aqui — estendi-lhe o papel.
Estudamo-lo por alguns minutos.
— Esta é a colina onde estamos — dizia Salvio a meia-voz. — Aqui está, também, aquela pedra redonda, à esquerda... A entrada do subterrâneo é ali, à direita da pedra redonda, por trás dos arbustos. Vamos.
— Eu levo as tochas e os mantimentos. Vamos, Salvio...
Lançamos um último olhar ao rochedo sombrio, Geomá! que ali ficava, cobrindo com o seu peso o indefinível mistério dos atlantes sempre-vivos!
FIM
USO NÃO COMERCIAL * VEDADO USO COMERCIAL
©2008 Jeronymo Monteiro
Proibido todo e qualquer uso comercial.
Se você pagou por esse livro
VOCÊ FOI ROUBADO!
Você tem este e muitos outros títulos GRÁTIS
direto na fonte:
www.ebooksbrasil.org
___________________________
eBooksBrasil - Dezembro 2008
www.ebooksbrasil.org
