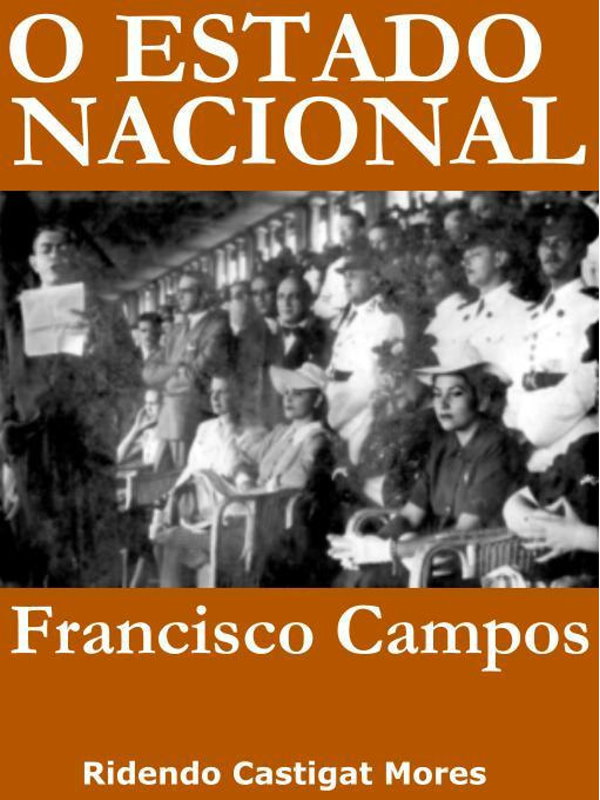
O Estado Nacional
Francisco Campos
Versão para eBook
eBooksBrasil.org
Foto da capa:
CPDOC - www.cpdoc.fgv.br
Fonte Digital
www.ngarcia.org
© 2002 - Francisco Campos
“Todas as obras são de acesso gratuito. Estudei sempre por conta do Estado, ou melhor, da Sociedade que paga impostos; tenho a obrigação de retribuir ao menos uma gota do que ela me proporcionou.” — Nélson Jahr Garcia (1947-2002)
ÍNDICE
Apresentação.
Nélson Jahr Garcia
O ESTADO NACIONAL
A política e o nosso tempo.
Diretrizes do Estado Nacional.
Problemas do Brasil e soluções do Regime.
Síntese da reorganização Nacional.
A consolidação jurídica do Regime.
Exposição de motivos do projeto de Código de Processo Civil.
Pela reforma do Direito Judiciário.
Estado Nacional.
O Estado Novo.
Segundo aniversário do Estado Novo.
Juramento do Brasil.
As decisões que mudam o curso da história.
Oração à bandeira.(1936)
Oração à bandeira.(1937)
Oração à bandeira.(1939)
O ESTADO
NACIONAL
Sua estrutura.
Seu conteúdo ideológico.Francisco Campos
APRESENTAÇÃO
Nélson Jahr Garcia
Francisco Campos foi um jurista de rara competência. Conhecedor profundo da Ciência do Direito, dominava os princípios fundamentais da legislação brasileira e do exterior.
Ministro da Justiça, foi o principal coordenador da feitura do arcabouço jurídico em que se apoiou o Estado Novo, incluindo a Carta Constitucional de 1937 (da qual foi quase autor exclusivo) e da reforma dos principais Códigos e Leis da época.
Sua capacidade de argumentação era irrepreensível, tanto que, no texto que ora reproduzimos, conseguiu apresentar argumentos aparentemente bem fundamentados, sólidos e coerentes justificando que a ditadura estadonovista seria o regime mais adequado para o Brasil daqueles dias.
Em meados de 1940 entrou em atrito com o Ministro das Relações Exteriores, Osvaldo Aranha. Seu livro: "O Estado Nacional", aqui reproduzido, vinha sendo criticado por apresentar a democracia como um regime fantasioso, insuficiente para a solução dos problemas da época. Defendia o autoritarismo como a solução para o país. Sob pressão, sentiu-se obrigado a renunciar.
Interessante, um governo nitidamente nazi-fascista perseguir um político por defender idéias igualmente nazi-fascistas.
Ainda mais interessante, muitos dos princípios defendidos e várias leis promulgadas valem até hoje.
A POLÍTICA E O NOSSO TEMPO
Aspecto trágico das épocas de transição — Educação para o que der e vier — A sofística moderna — Papel do mito soreliano — Fichte e a sua fórmula patética — Primado do irracional — Tentativa de definição — Aparição de César — O mundo político fora construído à imagem do mundo forense — Quando o baixo profundo de Caliban interrompeu a voz de Ariel — Clima das massas — A técnica do Estado totalitário ao serviço da democracia — Queremos Barrabás — Deslocamento do centro da decisão política — Um conto chinês — Como se forma a vontade dos povos — Amor fati.
Conferência no salão da Escola de Belas Artes, em 28 de Setembro de 1935.
Aspecto trágico das épocas de transição
Quando escolhi o tema deste monólogo, não pensei na vossa e na minha impaciência. Ao primeiro golpe de vista, porém, percebi que o caminho era difícil e, sobretudo, longo. E que o melhor para nos distrair da caminhada não seria um monólogo, que a torna mais fatigante e monótona, mas uma imensa e alegre controvérsia, em que cada um, sem outro interesse que não fosse o interesse pelo jogo das idéias, confessasse, em voz alta, o que realmente pensa sobre o mundo dos negócios humanos. Esse mundo está mudando à nossa vista, e mudando sem nenhuma atenção para com as nossas idéias e os nossos desejos. Nele a nossa geração não encontra resposta satisfatória às questões que aprendeu a fórmular, nem quadram com as soluções que lhe foram ensinadas por uma laboriosa educação os problemas que desafiam a sua competência. Que esta é a situação em que nos encontramos há mais de vinte anos é o que mostra, com relevo extraordinário, o movimento que se vem operando na educação. A esta é que incumbe, com efeito, adaptar o homem às novas situações. Nenhum setor, portanto, refletirá com mais fidelidade a inquietação contemporânea do que aquele cuja função consiste precisamente em adaptar o homem ao ambiente espiritual do nosso tempo. Ora, o que se nota nesse domínio é que vai por ele uma grande desarrumação. As valores consagrados foram postos em dúvida, sem que se fizesse a sua substituição por outros valores. O que carateriza a educação, em nossos dias, é que ela não é uma educação para este ou aquele fim, para um quadro fixo, para situações mais ou menos definidas, mas não sei para que mundo de possibilidades indeterminadas; não uma educação para tais ou quais problemas, porém uma educação para problemas, uma educação que se propõe não a fornecer soluções, mas a criar uma atitude funcional do espírito, isto é, atitude para o que vier, seja o que for e de onde quer que venha, como a da sentinela atenta, noite escura, às sombras e aos rumores.
Não há mais soluções nem problemas que possam, antecipadamente, ser postos em equação. Há apenas uma situação problemática, ou, antes, situação que muda segundo uma razão que ainda não conseguimos fixar. De onde não poder a educação exercer-se sobre problemas definidos, que, postos hoje em certos termos, terão amanhã configuração diversa, exigindo novo exame e outra posição relativa dos elementos. Acontece, no entanto, que essa é uma educação ainda à procura dos seus métodos, — se é possível, numa educação para problemas, encontrar-se um método que não seja igualmente problemático. O fato é que os métodos tradicionais foram postos de lado e que ainda não foram encontrados os novos métodos. Estamos diante do problema de como tratar satisfatoriamente não problemas definidos, mas simplesmente problemas de que não podemos antecipar os termos ou prever a configuração dos elementos. Esta só poderá ser, evidentemente, a educação do futuro e para o futuro. Há, porém, o problema das gerações já educadas, ou em curso de educação, das que foram ou estão sendo educadas num determinado clima espiritual ou no pressuposto de haver problemas definidos suscetíveis de soluções definidas. Essas gerações foram ou estão sendo educadas por um mundo anterior ao atual, por um mundo em que havia tipos e arquétipos, por um mundo de espírito platônico, um mundo de ordem e de hierarquia, um mundo de modelos e de formas, em que os problemas eram dóceis e educados como essas árvores de jardim que obedecem, no seu crescimento, à direção do jardineiro. E enquanto, na pedra de aula, no papel e nas preleções, os educadores construíam os modelos segundo os quais haviam de configurar-se os problemas humanos, estes, como se o mundo houvesse passado da escala de Platão para a de Heráclito, estavam mudando, e mudando num sentido estranho, porque segundo uma razão que não era a da mecânica dos quadros negros e sob a influência de valores não computados na tabulação das pessoas educadas. Daí, o mundo da interpretação, — construído segundo os nossos desejos, e o mundo da realidade, — refratário a um sistema interpretativo, em desacordo com a escala e o passo dos acontecimentos.
É o aspecto trágico das épocas chamadas de transição.
A época de transição é precisamente aquela em que o passado continua a interpretar o presente; em que o presente ainda não encontrou as suas formas espirituais, e as formas espirituais do passado, com que continuamos a vestir a imagem do mundo, se revelam inadequadas, obsoletas ou desconformes, pela rigidez, com um corpo de linhas ainda indefinidas ou cuja substância ainda não fixou os seus pólos de condensação. Nós fomos educados pelo passado para um mundo que se supunha continuar a modelar-se pela sua imagem. O nosso sistema de referências continuou a ser o que fora calculado para um mundo de relações definidas ou constantes, mas nós nos vemos confrontados com uma realidade em que as posições não correspondem às fixadas na carta topográfica. O que chamamos de época de transição é exatamente esta época profundamente trágica, em que se torna agudo o conflito entre as formas tradicionais do nosso espírito, aquelas em que fomos educados e de cujo ângulo tomamos a nossa perspectiva sobre o mundo, e as formas inéditas sob as quais os acontecimentos apresentam a sua configuração desconcertante.
Nas épocas de transição, o presente, ainda não acabada a ressonância da sua hora, já se converteu em passado. O demônio do tempo, como sob a tensão escatológica da próxima e derradeira catástrofe, parece acelerar o passo da mudança, fazendo desfilar diante dos olhos humanos, sem as pausas a que estavam habituados, todo o seu jogo de formas que, nas condições normais, teriam que ser distribuídas segundo uma linha de sucessão mais ou menos definida e coerente. Dai, o caráter problemático de tudo: acelerado o ritmo da mudança, toda situação passa a provisória, e a atitude do espírito há de ser uma atitude de permanente adaptação, não a situações definidas, mas simplesmente de adaptação à mudança. A função normal do espírito (normal pelo menos em relação aos cânones até então consagrados pela escala de referências válida, ou tida como válida, fossem quais fossem as circunstâncias), passou a ser precisamente o oposto, isto é, a de mudar perpetuamente o seu sistema de referências, em função de posições em movimento.
Educação para o que der e vier
Nunca se pôs em questão, de uma vez, tão grande número de pontos de fé. Nunca falhou em tão grande escala a confiança humana na coerência do universo do pensamento e do universo da ação.
Há uma vocação do mundo moderno para os problemas e um correspondente ceticismo em relação às soluções. Pode-se dizer que o homem do nosso tempo pôs de novo em equação, transformando-as em problemas, todas as soluções que constituíam a sua herança intelectual, política e moral. A educação reflete esse estado de coisas. O que se quer é que ela seja uma educação para problemas, e não para soluções, não para este ou aquele regime de vida, pois não se sabe ou não se acredita saber em que quadro de linhas moveis e flutuantes irá o homem viver. Como educar para a democracia, si esta não é hoje senão uma cafarnaum de problemas, muitos dos quais propondo questões cuja solução provável implicará o abandono dos seus valores básicos ou fundamentais? Educação individualista ou educação para um mundo de massas, de cooperação ou de configuração coletiva do trabalho, do pensamento e da ação?
Nem uma, nem outra coisa, mas uma educação para o que der e vier, como se estivéssemos preparando uma equipe de aventureiros para uma expedição em que tivessem de consumir a sua vida, adaptando-se a circunstâncias que não poderíamos prever e realizando obras e trabalhos nunca antes realizados pela raça humana. A problemática de hoje envolve todos os aspectos da vida. A nossa substância espiritual, se se pode chamar de substância o movimento, é toda ela constituída de problemas. Perdemos as aquisições substanciais do passado e não constituímos ainda novo patrimônio. Um patrimônio espiritual é um conjunto de valores organizados segundo um sistema mais ou menos coerente de referências em que cada um tem a sua posição definida em relação à dos demais.
Pois bem; desarrumamos o sistema de valores que constituía a nossa herança espiritual. Não há mais uma relação fixa ou constante entre os valores. Todos eles tornaram-se relativos, e não apenas no sentido de serem relativos entre si, ou a um valor fundamental, mas de serem relativos simplesmente, isto é, de não guardarem entre si nenhuma relação. Se se pode chamar sofística a essa atitude problemática do espírito, a sofística de nossos dias não se pode comparar, em dimensão espiritual, com a sofística dos gregos.
A sofística moderna
Entre Sócrates e os sofistas? havia um diálogo, ou uma discussão, porque um e outros admitiam valores comuns, pelo menos um valor, — o valor de verdade. A sofística de hoje, continuando embora a empregar a linguagem dos valores tradicionais, eliminou a substância de qualquer valor, até do valor de verdade, pois a sua significação passou a ser exatamente o contrário, o valor de verdade não consistindo a rigor na verdade, mas naquilo que, não sendo a verdade, funciona, entretanto, como verdade. Teremos oportunidade de ver a importância dessa atitude do espírito não mais no plano da especulação, porém, da mais prática das práticas, que é a prática política. Veremos, com efeito, como se constituiu uma teologia política que tem por substância a afirmação de que o seu dogma fundamental deve ser acreditado como verdadeiro, conquanto declare que o seu valor não é precisamente um valor de verdade. A teologia soreliana do mito político não é mais do que uma aplicação, como o reconhece o seu próprio autor, da filosofia de Bergson e, pensamos nós, mais diretamente do pragmatismo anglo-saxão e do seu conceito de verdade. Do estudo das condições do mundo moderno, Sorel chegou à conclusão de que só uma revolução total mudará o sistema de posições de forças econômico-políticas, cujas injustiças tanto o impressionaram. No seu entender, porém, aquela revolução não resultará fatalmente das condições internas do regime capitalista, como queria Marx, pois a estrutura social é mais complexa do que a descrita pelo marxismo, que a reduziu à oposição entre duas classes. A idéia de Marx não é verdadeira, mas, acreditada como verdade, constitui o único instrumento capaz de conduzir à grande revolução. Convém, portanto, cultivar a idéia de luta de classes e forjar um instrumento intelectual ou, antes, uma imagem dotada de grande carga emocional, destinada a servir de polarizador das idéias ou, melhor, dos sentimentos de luta e de violência, tão profundamente ancorados na natureza humana.
Esta imagem é um mito. Não tem sentido indagar, a propósito de um mito, do seu valor de verdade. O seu valor é de ação. O seu valor prático, porém, depende, de certa maneira, da crença no seu valor teórico, pois um mito que se sabe não ser verdadeiro deixa de ser mito para ser mentira. Na medida, pois, em que o mito tem um valor de verdade, é que ele possui um valor de ação, ou um valor pragmático.
Papel do mito soreliano
O papel do mito soreliano é, portanto, equívoco, e nisto reside a sua principal vantagem, ou a principal vantagem que lhe atribui Sorel, e que consiste em ser irrefutável: quand on se place sur ce terrain des mithes, on est à l'abri de toute refùtation. A impossibilidade de refutar Sorel está exatamente em que ele atribui ao mito dois valores contraditórios: o valor de verdade para os que acreditam no mito, e o valor de artifício puramente técnico para os que sabem que se trata apenas de uma construção do espírito. Atacado do ponto de vista da teoria do conhecimento, Sorel sorri da objeção, alegando que ele propõe não uma verdade, mas o oposto da verdade. Mas, quando atacado, no terreno prático, pelo argumento de que o mito só funcionará como motivo de ação enquanto conservar o seu valor de verdade, responderá que isto equivale a reconhecer ao mito um valor puramente de verdade, porque o que nele se postula é a impossibilidade da sua realização e, portanto, o seu caráter último e final de inverificável. A sofística atual tem dois critérios de verdade: a verdade que se sabe ser a verdade, pois, se não houvesse um critério da verdade, não haveria como distinguir entre mito e verdade, e a verdade que, embora não sendo verdadeira, funcionará indefinidamente como verdade, porque o que ela postula da realidade é, por definição, insuscetível de verificar-se. A refutação de Sorel torna-se, assim, impossível, não porque a sua doutrina seja irrefutável, mas porque ele mesmo se encarregou de refutá-la por antecipação. Não se arromba, evidentemente, uma porta aberta, nem se toma de assalto uma fortaleza abandonada. Não se poderá, no entanto, contestar que a fortaleza tenha sido ocupada, porque nela já não se encontravam os seus defensores.
A duplicidade do mito, no sentido soreliano, não se limita apenas ao plano teórico. Toda técnica, ainda a do espírito, é indiferente aos fins. A técnica espiritual da violência, que Sorel havia construído com o fim de tornar agudo o antagonismo entre duas classes, mobilizando-as para uma guerra permanente, tinha por objeto, de acordo com as tendencias e simpatias intelectuais do autor, dissolver a unidade do Estado, construída pelos juristas, graças ao emprego de métodos artificiosos de racionalização, próprios à teologia, no multiverso político do sindicalismo.
Fichte e sua fórmula patética
Aconteceu, porém, que a técnica espiritual da violência destinada por Sorel a dissolver a unidade do Cosmos político, haveria de ser empregada, logo depois, num sentido absolutamente oposto, isto é, no sentido de pôr fim à luta de classes e reforçar aunidade política do Estado. Ao politeismo político de Sorel, e pelos mesmos processos intelectuais de que ele se servira, opunha-se, de maneira vitoriosa, a teologia monista do nacionalismo. Em seu discurso de outubro de 1922, em Napoles, antes da marcha sobre Roma, dizia Mussolini, traindo a leitura recente de Sorel: “Criamos o nosso mito. O mito é uma crença, uma paixão. Não é necessário que seja uma realidade. É realidade efetiva, porque estímulo, esperança, fé e ânimo. Nosso mito é a nação; nossa fé, a grandeza da nação”. Aliás, não há, no nacionalismo italiano e alemão, nenhum conteúdo espiritual novo. O mito da Nação já se encontrava construído com todo o seu ethos e, sobretudo, o seu pathos, nos Discursos de Fichte à Nação alemã. A retórica nacionalista dos nossos dias, por mais alto que tenha elevado a sua nota de paixão, ainda não encontrou fórmulas em que se condensasse com mais vigor do que nas de Fichte a carga emocional do mito totêmico do moderno matriarchado político nacionalista: “A aspiração natural do homem é realizar, no temporal, o eterno. O homem de coração nobre possui uma vida eterna sobre a terra. A fé na duração eterna da atividade do homem na terra funda-se na esperança da duração eterna do povo que lhe deu a existência. O caráter racial do seu povo é o elemento eterno ao qual o homem liga a sua própria eternidade e a de toda a sua obra. É a ordem de coisas eternas na qual o homem põe o que ele mesmo tem de eterno”.
A declaração da Carta del Lavoro sobre a unidade da nação faz o papel de uma pálida fórmula jurídica, destituída de alma e de fé diante das fórmulas patéticas de Fichte sobre a unidade e a eternidade da nação. A unidade desta não se funda na unidade do regime jurídico, representada pela Constituição e pelos Códigos, mas no sentimento de que a nação é o envoltório do eterno. Nunca o Estado totalitário encontrou uma expressão mais enérgica do que esta: “O Estado, alto administrador dos negócios humanos, autor responsável, diante de Deus e perante a sua consciência, de todos os seres menores, tem plenamente o direito de constranger estes últimos à sua própria salvação. O valor supremo não é o homem, mas a nação e o Estado, aos quais o homem deve o sacrifício do corpo e da alma”.
Tudo que constitui o conteudo espiritual dos novos regimes politicos já se encontra no romantismo alemão. O partido nacionalista, racista, totalitário, a submersão dos indivíduos no seio totêmico do povo e da raça, é o Estado de Fichte e de Hegel, o pathos romântico do inconsciente coletivo, seio materno dos desejos e dos pensamentos humanos. O que é novo é a aliança do ceticismo com o romantismo, o emprego, pelos sofistas contemporâneos, das constelações românticas como instrumento ou como técnica de controle político, tornando ativas, através da ressurreição das formas arcaicas do pensamento coletivo, as emoções de que elas continuam a ser os pólos de condensação e de expressão simbólica. Aliás, o estado de alma favorável à germinação dos mitos politicos da violência já vinha sendo preparado antes da guerra. Esta acabou por libertar forças que até então se vinham mantendo em estado latente, graças à crença, embora já vacilante, em certas formas tradicionais de cultura moral e política, de que o grande conflito acabou por mostrar a tenuidade, para não dizer ausência, de substância ou de medula espiritual. As filosofias anti-inteletualistas do fim do século XIX e do princípio do século XX, dando ao ceticismo das elites nexos fundamentos na razão, não lhes forneceu, porém, novos conteudos espirituais, a não ser a vaga indicação, tanto mais poderosa quanto mais vaga, de que os valores supremos da vida não constituem objeto de conhecimento racional, podendo apenas ser traduzidos em símbolos ou em mitos, isto é, em expressões destituídas de valor teórico, cuja função não é dar a conhecer, mas tão somente reviver os estados de consciência ou as emoções de que são apenas a imagem mais ou menos inadequada.
Primado do irracional
Assim se instalava no centro da vida o primado do irracional, e, cem se tratando de formas coletivas de vida, o primado do inconsciente coletivo, por intermédio de cujas forças subterrâneas ou telúricas se tornava possível realizar, de modo mais ou menos completo, a integração política, que o emprego da razão somente obtivera de maneira precária e parcial. O irracional é o instrumento da integração política total, e o mito, que é a sua expressão mais adequada, a técnica intelectualista de utilização do inconsciente coletivo para o controle político da nação. Assim, as filosofias anti-intelectualistas forneciam aos céticos não uma fé ou uma doutrina política, mas uma técnica de golpe de Estado. Ao serviço dessa técnica espiritual colocai o maravilhoso arsenal, construído pela inteligência humana, de instrumentos de sugestão, de intensificação, de ampliação, de propagação e de contágio de emoções, e tereis o quadro dessa evocação fáustica dos elementos arcaicos da alma humana; de cuja substância nebulosa e indefinida se compõe a medula intelectual da teologia política do momento.
Não há para esta teologia processos racionais de integração política. A vida política, como a vida moral, é do domínio da irracionalidade e da ininteligibilidade. O processo político será tanto mais eficaz quanto mais ininteligivel. Somente o apelo às forças irracionais ou às formas elementares da solidariedade humana tornará possível a integração total das massas humanas em regime de Estado. O Estado não é mais do que a projeção simbólica da unidade da Nação, e essa unidade compõe-se, através dos tempos, não de elementos racionais ou voluntários, mas de uma cumulação de resíduos de natureza inteiramente irracional. Tanto maiores as massas a serem políticamente integradas, quanto mais poderosos hão de ser os instrumentos espirituais dessa integração, a categoria intelectual das massas não sendo a do pensamento discursivo, mas a das imagens e dos mitos, a um só tempo intérpretes de desejos e libertadores de forças elementares da alma. A integração política pelas forças irracionais é uma integração total, porque o absoluto é uma categoria arcaica do espírito humano. A política transforma-se dessa maneira em teologia. Não há formas relativas de integração política, e o homem pertence, alma e corpo, à Nação, ao Estado, ao partido. As categorias da personalidade e da liberdade são apenas iliusões do espírito humano. Só é livre o que perde a sua personalidade, submergindo-a no seio materno onde se forjam as formas coletivas do pensamento e da ação, ou, como diz Gentile, aquele que sinta o interesse geral como o seu próprio e cuja vontade seja a vontade do todo. O indivíduo não é uma personalidade espiritual, mas uma realidade grupal, partidária ou nacional. É o restabelecimento da relação em que estava o homem primitivo com o seu clan.
Tentativa de definição
Façamos uma breve pausa para ver se conseguimos reagrupar, numa tentativa de configuração, as caraterísticas espirituais do nosso tempo, ou do novo ciclo de cultura que parece abrir-se, com a nossa época, para a humanidade. A política é solidária das outras formas de cultura. Não é um domínio isolado, senão um elo na cadeia de formas espirituais, cuja constelação dá a cada cultura a sua configuração individual ou os seus caraterísticos fisionômicos. A irracionalidade e o sentimento da mudança, eis as duas notas dominantes ou as tônicas da alma contemporânea. As categorias coletivas do pensamento e da ação constituem hoje as formas espirituais expressivas do nosso tempo, em todos os domínios da atividade humana. Há como que uma volta à comunhão totêmica, sensível nas grandes concentrações urbanas do mundo moderno e, nestas, o fenômeno, apenas em começo, da tendência à supercondensação não somente sob a forma de habitações coletivas, como sob todas as demais formas de vida em comum, em que tudo se torna típico, uniforme e coletivo, ou em que todos participam de tudo, porque há uma participação recíproca ou cada um está em relação aos outros em um estado mais ou menos equívoco de participação ou de comunhão. As formas de vida íntima ou pessoal tendem a desaparecer. O estado de massa gera a mentalidade de massa, propaga e intensifica as expressões próprias a essa mentalidade. A moderna teologia política é o resultado de uma cultura de massa, pois que, em cada época, os processos espirituais de integração política só podem ser determinados pelas formas expressivas ou dominantes da sua cultura. Já houve uma integração pela fé, nas épocas de religião, e uma fraca integração, ou antes, uma tentativa de integração política por processos inteletuais, ou ao menos de aparência intelectual, quando as massas, em razão do seu volume relativamente reduzido e da deficiência da técnica, das comunicações, ou melhor, do contágio, eram antes um elemento passivo, ainda não dotado, como em nosso tempo, de unidade de alma e de adoção. Ora, uma integração política, num regime em que se torna possível organizar e mobilizar as massas, só se pode operar mediante forças irracionais, e a sua tradução só é possível na linguagem bergsoniana do mito, — não, porém, de um mito qualquer, mas, precisamente, do mito da violência, que é aquele em que se condensam as mais elementares e poderosas emoções da alma humana.
Condensemos, porém, o pensamento, procurando indicar, em alguns traços, de valor apenas sugestivo, as demais notas que se agrupam em torno das duas tônicas a que já nos referimos — a irracionalidade e o sentimento da mudança. A volta à comunhão totêmica, fórmula sintética que tenta exprimir esse estado de participação reciproca criado pela forma moderna da vida no quadro da massa, tem como resultado a atribuição de um valor especial às categorias instintivas e irracionais do pensamento e da ação, categorias em que a alma coletiva encontra a sua tradução espontânea e natural. A irracionalidade e a tendência à mudança — esta última tão profundamente ligada às formas emotivas do pensamento e categoria específica da lógica do irracional ou dos sentimentos determinam a confiança nas forças obscuras da geração, colocando, na escala dos valores, acima do ser, que é a categoria olímpica ou masculina, a da ordem, da hierarquia, da clareza, da inteligência, da razão, — o “em ser”, a preferência pelo que não se deixa traduzir em forma coerente, a aspiração cáustica, sem pólo definido, o mundo dos desejos, a que falta a ordem da autoridade paterna, confundido ou identificado com o mundo da realidade, o frenesi dionisíaco, que procura exorcisar o demônio do tempo não pelo sentimento do eterno, mas por meios mecânicos e temporais, — a velocidade, a instantaneidade, a simultaneidade. O homem moderno entrega-se ao “em ser” com a ilusão de ser mais do que o ser, que é para ele a morte, isto é, a objetividade, a lucidez, o reconhecimento do limite entre o mundo dos desejos e o da realidade. Pragmatismo, bergsonismo, teosofismo, espiritismo, comunismo instrumentos de exorcismo da autoridade olímpica ou paterna, que imprime ordem, hierarquia, disciplina as tendências e paixões, que eles visam libertar da forma e da medida, ou antes, meios de satisfação de desejos contrariados pela realidade.
O mito é o meio pelo qual se procura disciplinar e utilizar essas forças desencadeadas, construindo para elas um modo simbólico, adequado às suas tendencias e desejos. O mito sobre que se funda o processo de integração política terá tanto mais força quanto mais nele predominarem os valores irracionais. O mito da nação; incorpora grande número desses elementos arcaicos. O seu contexto não é, porém, um contexto de .experiências imediatas. Ele constitui-se, em grande parte, de abstrações ou, pelo menos, de imagens destituidas, pelo caráter remoto das suas relações com a experiência imediata, de uma carga coletiva atual ou capaz de organizar e configurar, numa síntese motora, as imagens com que não está em ligação direta ou em relação de continuidade. A personalidade é um mito em que o tecido dos elementos irracionais é mais denso e compacto. As massas encontram no mito da personalidades que é constituído de elementos de sua experiência imediata, um poder de expressão simbólica maior do que nos mitos em cuja composição entram elementos abstratos ou obtidos mediante um processo mais ou menos intelectual de inferências e ilações. Dai a antinomia, de aparência irracional, de ser o regime de massas o clima ideal da personalidade, a política das massas a mais pessoal das políticas, e não ser possível nenhuma participação ativa das massas na política da qual não resulte a aparição de César. O mito da nação, que constituía o dogma central da teologia política sob cujo regime vive uma das zonas mais volumosas e significativas da cultura contemporânea, já se encontra abaixo da linha do horizonte, enquanto assistimos à ascenção do mito solar da personalidade, em cuja máscara de Gorgona as massas procuram ler os decretos do destino.
Aparição de César
As massas encontram-se sob a fascinação da personalidade carismática. Esta é o centro da integração política. Quanto mais volumosas e ativas as massas, tanto mais a integração política só se torna possível mediante o ditado de uma vontade pessoal. O regime político das massas é o da ditadura. A única forma natural de expressão da vontade das massas é o plebiscito, isto é, voto-aclamação, apelo, antes do que escolha. Não o voto democrático, expressão relativista e cética de preferência, de simpatia, do pode ser que sim pode ser que não, mas a forma unívoca, que não admite alternativas, e que traduz a atitude da vontade mobilizada para a guerra.
Há uma relação de contraponto entre massa e César. Os ouvidos habituados a distinguir, à distância, o rumor das coisas que se aproximam, percebem, sob o tropel confuso das massas, cuja sombra começa a dominar o horizonte da nossa cultura, os passos do homem do destino.
Essa relação entre o Césarismo e a vida, no quadro das massas, é, hoje, um fenômeno comum. Não há, a estas horas, país que não esteja à procura de um homem, isto é, de um homem carismático ou marcado pelo destino para dar às aspirações da massa uma expressão simbólica, imprimindo a unidade de uma vontade dura e poderosa ao caos da angústia e de medo de que se compõe o pathos ou a demonia das representações coletivas. Não há hoje um povo que não clame por um César. Podem variar as dimensões espirituais em que cada povo representa essa figura do destino. Nenhum, porém, encontrando a máscara terrível, em que o destino tenha posto o sinal inconfundível do seu carisma, deixará de colocar-lhe nas mãos a tábua em branco dos valores humanos.
O mundo político fora construído à imagem do mundo forense
A entrada das massas no cenário político, com o seu irreprimível pathos plebiscitário e os novos instrumentos míticos de configuração intelectual do processo político, que é, de si mesmo, ou, por natureza, irracional, ou apenas suscetível de uma inteligibilidade parcial, já está exercendo sobre ele uma influência decisiva, no sentido de tomai-o cada vez mais irracional, e de latente em ostensivo o estado de violência, que constitui o potencial energético até aqui dissimulado pelas ideologias racionalistas e liberais, e do qual, em última análise, resultam as decisões políticas. Essa influência traduz-se, de modo particular, pelo divórcio, hoje confessado, entre a democracia e o liberalismo. O sistema democratico-liberal fundava-se, com efeito, no pressuposto de que as decisões políticas são obtidas mediante processos racionais de deliberação e de que a dialética política não é um estado dinâmico de forças, mas de tensão puramente ideológica, capaz de resolver-se num encontro de idéias, como se se tratasse de uma pugna forense. Haveria aqui toda uma pagina a escrever sobre a influência da mentalidade forense e da sofística jurídica na tentativa de dissimulação ou subtilização da substância de irracionalidade que constitui, de modo específico, a medula do processo político.
O sistema intelectual, que constitui o pressuposto ou a premissa maior inarticulada do liberalismo do século passado, construiu o mundo político à imagem do mundo forense, ampliando ao plano ou ao teatro da ação política as categorias formalísticas do processo do foro, no quadra das quais resolvem, por uma balança de argumentos ou uma dialética de idéias e razões, de acordo com as premissas ou presunções infantis do pensamento jurídico, os conflitos submetidos à arbitragem do juiz. Para essa psicologia intelectualista, as decisões resultam exclusivamente de elementos intelectuais, a substância irracional da vontade representando apenas um instrumento passivo destinado a obedecer aos decretos da razão e a executá-los. De acordo com esses pressupostos intelectualistas é que se construiu a teologia democratico-liberal. Para esta, com efeito, a decisão política é objeto de um processo puramente intelectual, não se reservando outro papel à vontade que o de cumprir as decisões da inteligência. Dai a divisão dos poderes: de um lado, o parlamento, deliberando pela técnica das discussões ou da dialética racional, de cujo funcionamento resultariam, por hipótese, as decisões políticas; de outro lado, o executivo, centro da vontade, e a que se reserva não a faculdade de tomar decisões, mas simplesmente a de executar a deliberação do parlamento. A extensão desses pressupostos a todo o processo democrático e, particularmente, ao da fórmulação da vontade geral, dá a imagem esquemática da aplicação dos processos forenses às deliberações políticas. Há, de certo, no processo democrático, um irredutível momento de irracionalidade, que é, precisamente, o da fórmulação da vontade geral mediante o voto. A este momento, porém, a democracia faz preceder, como no processo parlamentar das decisões políticas, o da livre discussão, destinado a esclarecer as vontades convocadas a participar da deliberação final. A eleição, que é um julgamento de Deus, vem, assim, a revestir-se, como a decisão do juiz no processo forense e a dos representantes do povo no processo parlamentar, de uma aparência de racionalidade, que satisfaz plenamente às modestas exigências intelectuais do sistema. Este, porém, só se completa por um pressuposto último e final, que é o da existência de uma opinião pública em que as razões de um e de outro lado são cuidadosamente pesadas em vista de uma decisão racional ulterior. A técnica de formação, ou de organização, em um foro comum, do conglomerado caótico das opiniões individuais, de cuja condensação num pólo único se constitui a opinião pública, é o arsenal com que o liberalismo contribui para o aparelhamento intelectual da democracia: a liberdade de reunião, de associação, de imprensa e das demais manifestações do pensamento. Segundo o postulado liberal, o processo político, passando por essas fases de tratamento ou de elaboração forense, dá em resultado decisões conformes à razão, ou ao critério de justiça ou de verdade.
A publicidade e a discussão constituem garantias de que as decisões políticas incorporarão no seu contexto os elementos de razão e de justiça, que formam, segundo o otimismo beato do sistema liberal, o fundo inalienável da natureza humana. A publicidade e a discussão passam a ser, assim, o sortilégio mediante o qual o orfismo democrático fascina as forças crônicas do inconsciente coletivo, submetendo-as à disciplina da razão, e operando, dessa maneira, a transformação da força em direito, e da dinâmica dos interesses e tendências em conflito em uma delicada balança de idéias, diante de cujos resultados a vontade se inclina em reverência.
Quando o baixo profundo de Caliban interrompeu a voz de Ariel
Durante algum tempo, o sistema pode funcionar segundo as regras do jogo, porque o processo político se limitava a reduzidas zonas humanas e o seu conteúdo não envolvia senão estados de tensão ou de conflito entre interesses mais ou menos suscetíveis de um controle racional e acessíveis, portanto, ao tratamento acadêmico das discussões parlamentares. De repente, porém, amplia-se o quadro: o controle político abrange massa cada vez mais volumosa de interesses, entre os quais o estado de conflito tende a assumir a forma de tensão polar, refratária aos processos femininos de persuasão da sofística forense, e as zonas humanas do poder vêem aumentadas, em escala sem precedentes, a sua área, a sua densidade, e sobretudo a sua inquietação conseqüente à instabilidade das relações dinâmicas entre os centros de interesse de cujo contato resulta, efetivamente, a centelha das decisões políticas. Verifica-se, então, que a concepção forense do mundo, construída pelo liberalismo para uma fase eminentemente benigna de tensão ou de conflito econômico e político, de cujos estados de ênfase se compõe a substância da história, conseguira apenas dissimular, graças às formas atenuadas e à escala reduzida do processo político, a irracionalidade que é da sua essência e constitui o seu caráter especifico. Sob a máscara socrática com a qual a risonha leviandade do racionalismo tentara dissimular aos seus próprios olhos o caráter trágico dos conflitos políticos, a democracia começa a perceber os traços terríveis da Gorgona multitudinária e a distinguir, intervindo na ária composta para o delicado registo de voz de Ariel, o baixo profundo de Caliban, entoando o canto da sua libertação das geenas históricas do ostracismo. Durante séculos, as forças cresceram, encadeadas e em silêncio, esperando que soasse a hora com que o destino costuma advertir que é chegada a sua vez de imprimir à história o selo do seu caráter trágico e a configuração demoníaca do seu estilo. Ai começa para os homens a tarefa de decifrar o enigma da ininteligível relação entre a vontade humana e a grandeza ou a envergadura dos acontecimentos que excedem os propósitos ou as intenções a que os nossos hábitos racionalistas costumam atribuí-los ou imputá-los. As grandezas históricas — as que mordem na terra o seu sinal indelével — têm tanta relação com a vontade deliberada do homem quanto o signo de Salomão com os insondáveis desígnios do destino.
Clima das massas
Nós começamos a penetrar num desses climas históricos que se encontram sob o sinal do destino.
O clima das massas é o das grandes tensões políticas, e as grandes tensões políticas não se deixam resolver em termos intelectuais, nem em polêmica de idéias. O seu processo dialético não obedece às regras do jogo parlamentar e desconhece as premissas racionalistas do liberalismo. Com o advento político das massas, a irracionalidade do processo político, que o liberalismo tentara dissimular com os seus postulados otimistas, torna-se de uma evidência tão lapidar, que até os professores, jornalistas e literatos, depositários do patrimônio intelectual da democracia, entram a temer pelo destino teórico do seu tesouro ou da suma teológica cuja substância espiritual parece ameaçada de perder a sua preciosa significação.
Assistimos, então, a essa manobra de grande estilo das instituições democráticas: o seu divórcio ostensivo e declarado do liberalismo. O regime de discussão, que não conhecia limites, passa a ter fronteiras definidas e intransponíveis. A opção, pressuposto básico da livre discussão e do sistema de opinião, só pode exercer-se entre termos mais ou menos indiferentes, ou entre os quais não exista um estado agudo de tensão, de conflito polar ou de extremada antinomia. As decisões políticas fundamentais são declaradas tabu e integralmente subtraídas ao princípio da livre discussão. O sistema constitucional é dotado de um novo dogma, que consiste em pressupor, acima da constituição escrita, uma constituição não escrita, na qual se contém a regra fundamental de que os direitos de liberdade são concedidos sob a reserva de se não envolverem no seu exercício os dogmas básicos ou as decisões constitucionais relativas à substância do regime. A opinião demarca-se, dessa maneira, um campo reduzido de opção, no qual tão somente se encontram as decisões secundárias ou os temas partidários que não interessam os pólos extremos do processo político, exatamente aqueles em torno dos quais se organizam e concentram as constelações de interesse e de emoção de maior poder ou de mais intensa carga dinâmica. Assim, a democracia, para salvar as aparências de racionalização do seu sistema político, recorre, como última ratio ou como recurso de defesa dos resíduos do liberalismo, a que ela sempre esteve tão intimamente associada, aos processos irracionais de integração política, transformando as decisões fundamentais, sobre cuja correção não admite controvérsias, em dogmas, em relação aos quais, como nas teologias políticas antiliberais, exige, pelo menos, as marcas exteriores do assentimento e da conformidade. Eliminando do seu sistema o princípio de liberdade de opção, com a amplitude em que o havia fórmulado o liberalismo, a democracia perde o seu caráter relativista e cético, traço secundário que ela devia à sua fortuita associação com a doutrina liberal, passando a ser um sistema monista de integração política, em que as decisões fundamentais são abertamente subtraídas ao processo dialético da discussão, da propaganda e da publicidade para serem imputadas a um centro de vontade, de natureza tão irracional como os centros de decisão política dos regimes de ditadura. A pressão determinada pelo advento das massas determinou, assim, uma crise interna do regime democrático, levando-o pelo abandono das suas premissas liberais, a um estado de permanente contradição consigo mesmo, estado este que não poderá, evidentemente, contribuir, senão de maneira transitória, para a manutenção dos últimos traços que ainda conserve da sua associação com o liberalismo. As condições de que resultou essa crise interna das instituições democráticas tendem, necessariamente, a desenvolver o seu poder de decomposição dos resíduos liberais, estendendo a outros termos, entre os quais se venha a estabelecer um estado agudo de conflito, a imunidade à discussão, já decretada pela democracia em relação a certas questões em torno das quais veio a criar-se um estado mais acentuado de tensão ou de ênfase emotiva da opinião pública. Ora, como as questões subtraídas à livre discussão pertencem ao número daquelas sobre as quais se concentra a maior carga de interesse, as forças que se polarizam no seu sentido tendem a abrir outros caminhos suscetíveis de levar à solução daquelas questões. Desta maneira, crescendo a tensão entre os métodos liberais da democracia e as forças a que se recusa o uso dos instrumentos democráticos, cresce, também, a contingência, para as instituições democráticas, de recorrer ao emprego, em escala cada vez maior, dos processos irracionais de integração política. A conseqüência do desdobramento desse processo dialético será, por força, a transformação da democracia, de regime relativista ou liberal, em estado integral ou totalitário, deslocado, com velocidade crescente, o centro das decisões políticas da esfera intelectual da discussão para o plano irracional ou ditatorial da vontade. É o que já se vem observando nos regimes democráticos, em que, dia a dia, aumenta a zona de proscrição ou de ostracismo político a que vão sendo relegadas massas de opinião cada vez mais volumosas e significativas.
A técnica do Estado totalitário ao serviço da democracia
Observa-se, ainda uma vez, no domínio político, esse estranho e obscuro processo dialético, em virtude do qual o crescimento das instituições humanas, além de certo limite virtual, sofre uma brusca mutação em sentido contrário aos princípios que pareciam haver presidido ao seu nascimento ou às fases mais caraterísticas da sua formação. No fim de algum tempo, adotada pela democracia a técnica do Estado totalitário, à qual ela foi forçada a recorrer (por mais contraditório que pareça) para salvar as suas aparências liberais, a democracia acabará por assimilar o conteúdo espiritual do adversário, fundindo-se dessa maneira em um polo único duas concepções do mundo, tão aparentemente inconciliáveis ou antitéticas. Aliás, a crise do liberalismo no seio da democracia. é que suscitou os regimes totalitários, e não estes aquela crise. A democracia havia criado um aparelhamento de aparência racional, destinado a conduzir o processo político, sem maiores crises de tensão, a soluções ou decisões suscetíveis do mais largo e compreensivo assentimento. A irracionalidade dos seus métodos, uma vez que se ampliaram a escala dos acontecimentos e o vulto das questões, tornou-se, porém, de evidência lapidar. O princípio básico do regime liberal era, com efeito, que as questões deveriam ser propostas e discutidas perante o forum da opinião pública, a fim de que esta tornasse as decisões depois de suficientemente esclarecida. Enquanto a área do governo se restringia a uma reduzida esfera de negócios, e particularmente aos mais simples e elementares, foi possível deliberar por aqueles processos, ou melhor, submeter ao voto da opinião soluções sobre as quais já não havia divergências agudas ou conflitos irritantes. As últimas conseqüências da revolução industrial criaram, porém, aos governos, novas e complexas funções, estendendo a área do seu controle de maneira a envolver na sua deliberação questões para cuja elucidação se exigem conhecimentos técnicos e especializados cada vez mais remotos ainda à compreensão das pessoas cultivadas. A densidade e extensão da área de governo tornam cada vez mais inacessíveis à opinião os problemas do governo. Enquanto se tratava de questões suscetíveis de serem colocadas em termos de sentimento ou de encontrar resposta adequada ou satisfatória na atmosfera de emoção originada dos debates públicos, ainda era possível o funcionamento do regime de opinião. Eram questões humanas por excelência, no sentido de acessíveis ao entendimento ou ao sentimento geral. As questões que se encontram hoje no plano das cogitações do governo são, porém, de outra natureza. Ou são questões remotas à compreensão geral, ou estranhas ao interesse geral, por não serem suscetíveis de despertar emoções sem as quais não se estabelece nenhuma corrente de opinião pública, ou são questões que envolvem no seu seio, pelo menos em estado de latência, tais possibilidades de antagonismo ou de conflito, que propô-las ao pronunciamento da opinião seria expor-se ao grave risco de provocar contra a sua decisão a resistência violenta dos interesses em cujo prejuízo fosse ela proferida, e, portanto, tornar inevitável uma forma de luta que o processo democrático se propõe precisamente a evitar. De maneira que se restringe sempre mais o campo de opção reservado aos processos deliberativos, caraterísticos das democracias liberais. Cumulativamente com esses fatores, uma nova circunstância contribui para tornar o regime de opinião impróprio às funções que lhe foram atribuídas. As prodigiosas, conquistas cientificas e técnicas, que costumam ser um dos temas preferidos do otimismo beato, nas suas exaltadas esperanças em relação à espécie humana e ao seu aperfeiçoamento moral e político, conferiram ao império do irracional poderes verdadeiramente extraordinários, mágicos ou surpreendentes. Eis ai mais uma das antinomias que parecem inerentes à estrutura do espírito humano: a inteligência contribuindo para tornar mais irracional, ou ininteligível, o processo político. É possível hoje, com efeito, e é o que acontece, transformar a tranquila opinião pública do século passado em um estado de delírio ou de alucinação coletiva, mediante os instrumentos de propagação, de intensificação e de contágio de emoções, tornados possíveis precisamente graças ao progresso que nos deu a imprensa de grande tiragem, a radiodifusão, o cinema, os recentes processos de comunicação que conferem ao homem um dom aproximado ao da ubiqüidade e, dentro em pouco, a televisão, tornando possível a nossa presença simultânea em diferentes pontos do espaço. Não é necessário o contato físico para que haja multidão. Durante toda a fase de campanha ou de propaganda política, toda a nação é mobilizada em estado multitudinário. Nessa atmosfera de conturbação emotiva, seria ridículo admitir que os pronunciamentos da opinião possam ter outro caráter que não seja o ditado por preferências ou tendências de ordem absolutamente irracional. Já se disse das campanhas presidenciais americanas, para traduzir o ambiente desordenado em que se processam, que cada uma delas é uma libertinagem que dura quatro meses. A opinião não pode manifestar-se sobre a substância de nenhuma questão. Ela toma simplesmente o seu partido, e por motivos tão remotos ou estranhos a qualquer nexo lógico ou reflexivo, que se torna ininteligível ou irredutível a termos de razão o processo das suas inferências. Ainda há pouco, nos Estados Unidos, Al Smith não foi eleito presidente da República pela única circunstância de ser católico, fato do qual somente por via de inferências irracionais poderia resultar a sua inaptidão para o governo.
É ainda sabido que, na primeira eleição geral na Inglaterra, logo depois da guerra e ainda na aura emotiva que esta deixou atras de si por muito tempo, Lord George conseguiu a maioria, dando como tema central da sua propaganda a promessa do enforcamento do Kaiser, circunstância da qual não se poderia inferir nem a sua capacidade de administrador nem os méritos de seu programa de governo.
Queremos Barrabás!
Fechemos, porém, com o maior dos exemplos, porque depois do seu nome nenhum mais poderá ser ouvido: Capitulo XVIII do Evangelho de São João. “Eles conduziram Jesus da casa de Caifaz ao pretório; era de manhã. Mas eles não quiseram entrar no pretório para não se manchar e a fim de comer as páscoas. Pilatos saiu, pois, ao seu encontro e disse: “Que acusação tendes contra este homem?” Eles lhe responderam: “Se não se tratasse de um malfeitor, não o teríamos trazido à tua presença”. Pilatos lhes disse: “Julgai-o vós mesmos, segundo a vossa lei”. Os judeus lhe responderam: “Não nos é permitido dar a morte a ninguém” — a fim de que se realizasse a palavra que Jesus tinha dito, indicando de que morte ele devia morrer. Pilatos, voltando ao pretório, chamou Jesus e lhe disse: “És o rei dos Judeus?” Jesus respondeu: “És tu que dizes isto ou outros t'o disseram?” Pilatos respondeu: “É que eu sou judeu. Tua nação e o chefe dos sacerdotes te entregaram a mim: que fizeste?” Jesus respondeu: “Meu reino não é deste mundo; se meu reino fosse deste mundo, aqueles que me servem ter-se-iam oposto a que eu fosse entregue aos judeus, mas agora meu reino não é deste mundo”. Pilatos lhe disse: “És rei ?” Jesus respondeu: “Tu dizes, eu sou rei e vim a este mundo para dar testemunho da verdade; quem é da verdade, escuta a minha palavra”. Pilatos lhe disse: “Que é a verdade?” Dizendo isto, ele saiu de novo ao encontro dos judeus e lhes disse: “Para mim, ele não tem crime. Mas é costume que eu vos entregue alguém na festa de Páscoa
Quereis que eu vos entregue o rei dos Judeus?” Então, todos gritaram: “Ele não, mas Barrabás!” Ora, Barrabás era um ladrão” — termina o evangelista.
Deslocamento do centro da decisão política
Se os processos democráticos nunca se destinam a convencer da verdade o adversário, mas a conquistar a maioria para, por intermédio da sua força, dominar ou governar o adversário, claro é que, dadas as circunstâncias caraterísticas do mundo contemporâneo, os processos de captação da maioria só podem consistir em instrumentos de utilização da substância irracional de que se compõe o tecido difuso e incoerente da opinião. Assim, as instituições representativas já não têm um conteúdo espiritual que sirva de pólo a um sistema de crenças essencial para garantir a duração de todas as instituições humanas. A categoria da discussão, que era o processo forjado pelo liberalismo para instrumento intelectual das decisões políticas, já não comporta, pela própria natureza de que se reveste o fenômeno político, os termos entre os quais se arma a curva de tensão dos conflitos sociais e econômicos do mundo contemporâneo. As formas parlamentares da vida política são hoje resíduos destituídos de qualquer conteúdo ou significação espiritual. As próprias massas já perceberam que as tensões políticas se deslocam para outro plano de dimensões proporcionais às das forças em conflito, e que não se trata, no processo político, de resolver uma divergência de idéias ou de pontos de vista intelectuais, mas de compor um antagonismo de interesses, cada um dos centros em conflito fazendo o possível para reunir a maior massa de forças, a fim de que a decisão final lhe seja inteiramente favorável.
Na própria imprensa, em que de modo mais fiel se refletem os interesses do dia, observa-se, em todos os países, uma indiferença crescente pelo que se passa nos parlamentos. Ninguém, hoje, tem dúvidas de que o meridiano político não passa mais pelas suas antecâmaras ou pelas suas salas de sessões. O centro de gravidade do corpo político não cai onde reina a discussão, mas onde impera a vontade. Os corpos deliberativos deixaram de deliberar. A linguagem política do liberalismo só tem um conteúdo de significação didática, ou onde reinam os professores, cuja função é conjugar o presente e o futuro nos tempos do pretérito. Para as decisões políticas uma sala de parlamento tem hoje a mesma importância que uma sala de museu. Há um episódio que desenha, com traços de caricatura, a situação de perplexidade a que chegaram os parlamentos.
Um conto chinês
Conta Spender, no seu livro sobre a vida pública na Inglaterra, que em 1920, recebeu, na sala de redação do seu jornal, a visita de três simpáticos e inteligentes chineses que desejavam ouvir a sua opinião sobre os negócios públicos da China e particularmente sobre o impasse verdadeiramente extraordinário em que então se encontravam. Era o caso que o parlamento se achava instalado, os deputados eram assíduos, assentavam-se regularmente, falavam, tornavam a assentar-se e falavam de novo. O cerimonial não deixava a desejar. Nada, porém, acontecia. Como Mr. Asquith não exercesse no momento nenhuma função oficial na Inglaterra e lhes parecesse que somente um inglês poderia dar remédio à situação, pediam a Spender que os aproximasse de Mr. Asquith, a ver se ele podia passar alguns meses em Pequim, para transmitir aos chineses a ciência ou a técnica de fazer acontecer alguma coisa num parlamento. Mas, se nada acontecia no parlamento chinês, não era, evidentemente, por falta de congenialidade dos processos intelectuais que lhe são próprios com o temperamento de uma raça tão notória e abundantemente dotada para os jogos da inteligência e a sutileza das idéias. Nada acontecia no parlamento chinês, porque nada acontecia em nenhum parlamento do mundo, porque um parlamento é, precisamente, o lugar onde nada acontece e nada se decide. A política vive, porém, de acontecimentos e de decisões. Se o centro a que a decisão é juridicamente imputada nada decide, forma-se imediatamente ao seu lado um centro de decisões de fato. Assim se resolveu na própria China, sem as luzes de Mr. Asquith, o impasse ou o estado de perplexidade do parlamento.
Na Alemanha, enquanto um parlamento em que já houve o maior número de partidos procurava inutilmente chegar a uma decisão política mediante os métodos discursivos da liberal-democracia, Hitler organizava nas ruas, ou fora dos quadros do governo, pelos processos realistas e técnicos, por meio dos quais se subtrai da nebulosa mental das massas uma fria, dura e lúcida substância política, o controle do poder e da nação.
Na França, quando se trata das grandes e graves questões, em que a opção envolve riscos e abre margem ao perigo, o parlamento, numa ostensiva confissão da sua abulia, transmite os plenos poderes a um César temporário.
Como se forma a vontade dos povos
Quem quiser saber qual o processo pelo qual se formam efetivamente, hoje em dia, as decisões políticas, contemple a massa alemã, medusada sob a ação carismática do Fuehrer, e em cuja máscara os traços de tensão, de ansiedade e de angústia traem o estado de fascinação e de hipnose.
Só podem ter dúvidas sobre o áspero clima político, em cuja atmosfera carregada de tensão mal começamos a penetrar, os homens que vivem em estado de ingenuidade em relação à experiência imediata, ou num mundo de satisfação simbólica de desejos, em que tudo se passa como nos contos azuis, ou no parlamento da China.
Esse mesmo estado de espírito é que julga possível realizar, por processos racionais, não só a integração política nacional, mas igualmente a internacional, ou a organização de toda a humanidade numa comunhão de interesses e de fins. Para ele, com efeito, o conceito de política é o conceito que os professores costumam dar da política nos recintos herméticos onde se fabricam modelos da realidade não à imagem desta, mas à imagem dos sonhos ou dos arquétipos platônicos que a imaginação propõe aos nossos desejos. O mesmo pensamento liberal, que concebia a política interior como um conflito de idéias, suscetível de resolver-se mediante os métodos da inteligência discursiva ou da dialética forense, transpondo esse conceito para o plano mundial, julgou possível realizar a organização de uma comunidade internacional, criando um Forum Mundi, em que um grupo de juristas, assistido por uma equipe de técnicos, ponha e resolva em termos de razão a massa irracional de motivos por força dos quais se arma entre as nações um arco de tensão política e econômica, sempre mais refratário a qualquer tratamento racional ou ideológico.
Assim, porém, como o processo democrático de integração política deixou de funcionar quando cresceu em extensão e intensidade a área dos antagonismos, das tensões e dos conflitos internos, nós vemos, no domínio internacional, avolumar-se a massa das tensões econômicas e políticas, particularmente as determinadas pela ressurreição do mito nacional e do conseqüente Estado totalitário ou estado de massas. Ao armamentismo, a luta pelos mercados consumidores e pelas matérias primas — fatores que tendem a assumir um caráter político cada vez mais agudo — junta-se o mito nacional, cuja função, na história, foi sempre a de polarizar intensas cargas políticas, isto é, constelações dos mais poderosos motivos de antagonismos, de conflitos e de guerras. A integração política totalitária, apesar do nome, não consegue eliminar, de modo completo, as tensões políticas internas. Se conseguisse, deixaria de existir Estado, que é, precisamente, a expressão de um modo parcial de integração política das massas humanas. O que o Estado totalitário realiza é — mediante o emprego da violência, que não obedece, como nos Estados democráticos, a métodos jurídicos nem à atenuação feminina da chicana forense — a eliminação das formas exteriores ou ostensivas da tensão política. Há, porém, elementos refratários a qualquer processo de integração política. No Estado totalitário, se desaparecem as formas atuais do conflito político, as formas potenciais aumentam, contudo, de intensidade. Daí a necessidade de trazer as massas em estado permanente de excitação, de maneira a tornar possível, a todo momento, a sua passagem do estado latente de violência ao emprego efetivo da força contra as tentativas de quebrar a unidade do comando político. Ora, não é em vão que se libertam, em tão grande escala, as reservas de violência por tanto tempo acumuladas na alma coletiva. Essas reservas, que não podem ser restituídas ao estado de inação, têm de ser permanentemente utilizadas. De onde o fato do Estado totalitário ou nacional tender a derivar o estado de tensão interna para um estado de tensão internacional, — manobra que torna possível exaltar ainda mais os fatores de irracionalidade que operaram e que continuam a garantir a integração totalitária.
Essas, as forças elementares que os juristas pretendem fascinar, não com a máscara de Medusa com que os Césares paralisam o inconsciente coletivo em que se desencadeou o estado de violência pela hipnose do medo ou do terror, mas com o sortilégio de fórmulas ou de cerimônias já destituídas de qualquer significação ou substância espiritual. O processo político, assim o nacional como o internacional, tem por medula uma constelação polar, ou uma constelação em que existem, ao menos em estado virtual, dois campos nitidamente separados por uma linha ou uma zona de tensão. Esta constelação pode, em determinados momentos, apresentar um estado de tensão atenuada, quando os conflitos, que constituem o seu conteúdo, não se armam entre termos extremos ou polares. Há, no entanto, no processo político, um estado latente de violência, que pode resolver-se em estado de agressão atual. Essa passagem do estado latente ao estado atual de violência, que é uma possibilidade imanente ao processo político, é o que se verifica, com freqüência, em certas democracias, em que ao julgamento de Deus das eleições se segue, com espantosa regularidade, o julgamento de Deus das revoluções.
Toda integração política, por mais ininteligível que seja o seu processo, é sempre uma tentativa de racionalização do irracional. O irracional, porém, contém elementos absolutamente refratários a todos os processos de racionalização. Ora, o processo político, definido pela constelação polar, é eminentemente do domínio do irracional ou do ininteligível. Não é possível nenhuma integração política total enquanto o homem, definido por si mesmo como animal racional, conservar e defender, como vem fazendo com crescente veemência, o seu patrimônio hereditário. No dia em que a massa nacional fosse integrada politicamente de maneira a não deixar resíduos, ela deixaria simplesmente de ser Estado, que é um conceito político, isto é, um conceito polêmico, a menos que, como entidade nacional, entrasse em relação de tensão com outras massas nacionais. De igual modo, admitir a integração política da humanidade é postular um estado apolítico do homem, porque a humanidade não poderia constituir um termo da constelação polar, em falta de outro termo com que pudesse entrar em relação de conflito. A Sociedade das Nações, no dia em que, como Forum Mundi, pudesse exercer a função, que lhe é atribuída, de integrar politicamente a humanidade, deixaria de ser sociedade de nações, porque não haveria mais nações ou Estado a integrar.
Amor fati
Eu desejaria fazer as minhas despedidas com um conto azul. É salutar, porém, de vez em quando, olhar a realidade na face e ler na sua máscara a mensagem que o destino a encarregou de transmitir aos homens. Já soou, quase simultaneamente, em todos os meridianos, a hora da advertência e do alerta. Já se ouve, ao longe, traduzido em todas as línguas, o tropel das marchas sobre Roma, isto é, sobre o centro das decisões políticas. Não tardarão a fechar-se as portas do fórum romano e a abrir-se as do Capitólio, colocado sob o sinal e a invocação de Júpiter, ou da vontade, do comando, da AUTORITAS, dos elementos masculinos da alma, graças aos quais ainda pode a humanidade encarar de frente e amar o seu destino: AMOR FATI.
DIRETRIZES DO ESTADO NACIONAL
O novo Estado brasileiro — 1930 e 1937 — Democracia de partidos — As promessas do paraiso econômico — Técnica da violência — O monstruoso aparelhamento de 1934 — Vicios do Poder Legislativo — Representação profissional — O espírito de reforma — O Brasil estava enjoado — Mito do sufrágio universal — Eleição do presidente da República — Municípios — Delegação do Poder Legislativo — Evolução da democracia — A nova declaração de direitos — Poder Judiciário — Direito de voto — Caráter democrático da Constituição — A máquina administrativa — Liberdade — Liberalismo, marxismo, corporativismo — Educação — Imprensa — Conclusão.
Entrevista concedida à Imprensa, em Novembro de 1937.
O novo Estado brasileiro
O novo Estado brasileiro resultou de um imperativo de salvação nacional.
Como acentuou o chefe do Governo, no manifesto de 10 de novembro, quando as exigências do momento histórico e as solicitações do interesse coletivo reclamam imperiosamente a adoção de medidas que afetam os pressupostos e convenções do regime, incumbe ao homem de Estado o dever de tomar uma decisão excepcional, de profundos efeitos na vida do país, acima das deliberações ordinárias da atividade governamental, assumindo as responsabilidades inerentes à alta função que lhe foi delegada pela confiança pública.
Identificado com o destino da Pátria, que salvou em horas de extremo perigo e engrandeceu no maior dos seus governos, o Sr. Getúlio Vargas, quando se impôs aquela decisão, não faltou ao dever de tomá-la, enfrentando as responsabilidades, mas também revestindo-se da glória de realizar a grande reforma que, pela primeira vez, integra o país no senso das suas realidades e no quadro das suas forças criadoras.
A sua figura passa, então, do plano em que se define o valor dos estadistas pelos atos normais de política e administração, para o relevo histórico de fundador do regime e guia da nacionalidade.
O povo, que o aclamou e por ele combateu, viu-o crescer, dia a dia, na sua confiança e na sua admiração, tornando-se o centro de convergência dos anseios gerais e o intérprete das inspirações cívicas que se reuniam para a reconstrução da República.
A marcha dos predestinados e a estirpe dos condutores providenciais afirmaram-se definitivamente no homem que satisfaz às necessidades fundamentais da vida pública, criando um novo Estado, no propósito de um Brasil novo.
Esclarecida e edificada pelas vicissitudes dos últimos tempos e pela grave lição do mundo contemporâneo, a opinião já se convencera de que nos velhos moldes e através das antiquadas fórmulas institucionais seria impossível assegurar a existência e o progresso da Nação, em face das terríveis forças contra ela desencadeadas.
As experiências impostas pelo fetichismo das teorizações obsoletas custaram tão caro à nossa terra e à nossa gente, que por elas se firmou o consenso de que, sem a reforma corajosa e salvadora, agora, felizmente, executada, mais cedo ou mais tarde teria de sucumbir a maravilhosa resistência do organismo nacional.
Nessa consciência coletiva encontrou as suas grandes razões a insurreição de 1930, em que ao movimento meramente político se incorporou o impulso profundo e irresistível das forças vitais da Pátria, a abrir caminho para a sua evolução natural e a buscar, no espelho de sua fisionomia, o retrato das suas verdades históricas, sociais e econômicas, rompendo a máscara das fórmulas e das convenções que o desfiguravam.
1930 e 1937
Mas, a Revolução de 30 só se operou, efetivamente, em 10 de novembro de 1937.
É então que todo o seu conteúdo se condensa no sistema do Estado e a sua expressão política se sobrepõe aos entraves criados ainda pela velha ordem de coisas, empenhada em deter a marcha triunfante do destino do país.
Por certo, com toda a força nova e o ímpeto original da Revolução, já realizara o governo provisório uma grande obra legislativa. Só o monumento das leis sociais, que deram composição orgânica e coesão nacional aos elementos de produção e de trabalho, basta para atestar a densidade do seu animo construtivo.
Apenas iniciada, porém, a Revolução foi captada pela política, que a fez abortar mediante seus processos emolientes e dilatórios. Ao formar os próprios instrumentos de ação, diluiu-se e gastou-se nos episódios da luta contra os velhos instrumentos do sistema a que devia substituir e para eles foi arrastada através das insidiosas manobras dos que tinham interesse em desvirtuá-la e reduzi-la à impotência.
Quando quiseram reagir os chefes da Revolução, já a política se havia instalado no poder, precipitando a reconstitucionalização do país no sentido de consolidar a sua restauração. Foi esse o papel da Constituição de 34, que frustrou a Revolução da sua oportunidade, canalizando-lhe os impulsos nos mesmos condutos que ela visara romper e inutilizar.
Permanecia, assim, o problema político na equação estabelecida antes de 30 e que o movimento de outubro procurava resolver.
Agravara-se com o tempo e com o retorno ao que, por eufemismo, se chamara de normalidade, o contraste entre as realidades e as fórmulas jurídicas do Estado, a inadaptação dos textos básicos à verdade da vida brasileira, a divergência irredutível entre os preceitos teóricos e a situação objetiva a que tinham de ser aplicados. Os erros e os vícios de origem da velha ordem estabelecida tornaram-se tão evidentes que o seu conhecimento não se limitou às elites, mas se estendeu às multidões, formando-se um só juízo quanto à necessidade de transformar-se o sistema institucional para não sacrificar irremediavelmente o que construímos e levantamos de brasileiro em quatro séculos de Brasil.
E a energia revolucionária, que se deixara adormecer pela Circe política, acordou, em 10 de novembro, com uma decisão mais lúcida e, sobretudo, com uma larga experiência da absurda futilidade, para uma revolução, de transigir no seu começo, e antes de firmada nas suas posições, com a política interessada, principalmente em iludir, protelar e amortecer os impulsos criadores.
Democracia de partidos
A crítica do regime passado foi feita em termos peremptórios e definitivos pelo Presidente da República, no manifesto com que, em 10 de novembro, se dirigiu à Nação.
O processo de decomposição do antigo regime chegava ao seu fim. Formava-se, em relação a ele, um denso estado de consciência coletiva, impermeável às mentiras e às mistificações com que a política ainda tentava dar ao país a falsa impressão da existência de uma vida pública inspirada em móveis de interesse nacional.
A ausência de substância política e de expressão ideológica nas instituições, correspondia, nos partidos, a completa privação de conteúdos programáticos, o que os transformava em simples massas de manobra e instrumentos mecânicos de manipulação eleitoral.
O manifesto de 10 de novembro exprime o consenso nacional, quando acentua: “Tanto os velhos partidos, como os novos em que os velhos se transformaram sob novos rótulos nada exprimiam ideologicamente, mantendo-se à sombra de ambições pessoais e de predomínios localistas, a serviço de grupos empenhados na partilha dos despojos e nas combinações oportunistas em torno de objetivos subalternos”.
Entre esses quadros partidários e o sentimento e a opinião do país não existia a menor correspondência. Eles se haviam transformado, com efeito, ou em meros instrumentos de falsificação das decisões populares, ou em simples cobertura para a ação pessoal de chefes locais, ambiciosos de influência no governo da Nação, mormente quando posta em loco a questão da sucessão. Foi o que, com propriedade, o Presidente denunciou, no seu manifesto do dia 10:
“Chefes de governos locais, capitaneando desassossegos e oportunismos, transformaram-se, de um dia para outro, à revelia da vontade popular, em centros de decisão política, cada qual decretando uma candidatura, como se a vida do país, na sua significação coletiva, fosse simples convencionalismo, destinado a legitimar as ambições do caudilhismo provinciano”.
Assim desaparecido o conteúdo e o espírito dessas clássicas formações políticas, delas sobreviviam apenas as exterioridades e as aparências, vazias de sentido e contudo incessantemente invocadas para legitimar privilégios e interesses de pessoas e de grupos empenhados na conservação ou na conquista do poder.
Mas o sistema não era apenas antiquado e inútil. Ele se tornara um instrumento de divisão do país, que os antagonismos de superfície, assim gerados, traziam em sobressalto constante, perturbando o seu regime de trabalho. Envenenado por uma lei eleitoral propícia à fragmentação e proliferação de partidos destituídos de substância, o país perdia, sem remédio, a confiança em instituições a tal ponto inadequadas ao seu temperamento e às suas tradições.
É, aliás, o resultado infalível das democracias de partidos; que nada mais são virtualmente do que a guerra civil organizada e codificada. Não pode existir disciplina e trabalho construtivo num sistema que, na escala dos valores políticos, subordina os superiores aos inferiores e o interesse do Estado às competições de grupos.
Não foi outro o pensamento do Presidente, expresso no manifesto com que justificou, perante a Nação, a nova ordem política estabelecida na Constituição do dia 10.
Esse obsoleto sistema, tão desmoralizado pelo mau uso que lhe foi dado como inadequado ao quadro político e econômico do mundo, tinha que ser substituído por uma nova organização racional que permita dar rendimento às possibilidades nacionais e constitua um desenvolvimento harmonioso dos princípios que inspiraram a formação do país.
Disse-o, em seu manifesto, o Presidente: “Quando os partidos tinham objetivo de caráter meramente político, como a extensão de franquias constitucionais e reivindicações semelhantes, as suas agitações ainda podiam processar-se à superfície da vida social, sem perturbar as atividades do trabalho e da produção. Hoje, porém, quando a influência e o controle do Estado sobre a economia tendem a crescer, a competição política tem por objetivo o domínio das forças econômicas, e a perspectiva da luta civil, que espia a todo momento os regimes dependentes das flutuações partidárias, é substituída pela perspectiva incomparavelmente mais sombria da luta de classes.
Em tais circunstâncias, a capacidade de resistência do regime desaparece e a disputa pacífica das urnas é transportada para o campo da turbulência agressiva e dos choques armados”.
As promessas do paraíso econômico
Disputando-se a preferência do eleitorado — desse eleitorado mais ou menos improvisado, mais ou menos instruído sobre o que lhe incumbe, e, em todo caso, absolutamente heteróclito quanto à sua formação e aos seus propósitos — os candidatos não prometem apenas os dividendos políticos com que os partidos do século passado costumavam acenar à sua clientela. Nos seus programas, agora, já se multiplicam as promessas lunares do paraíso econômico ou da plenitude gratuita dos bens, contanto que os votos de alguns milhares de homens os apontem como executores de uma hipotética vontade geral, que outra não é, na realidade, senão a vontade particular e concreta de uma reduzida minoria que detém episodicamente ou fortuitamente as chaves da decisão política.
O candidato não se propõe mais a ser o servidor da Nação, mas o distribuidor da sua riqueza e da sua renda, o provedor universal das necessidades humanas. “Ele tomará, pois, o vinho e o pão onde os mesmos se encontram: no celeiro dos ricos, na adega dos ricos, depois dos menos ricos, e, finalmente, dos que têm apenas o que comer, e, quando a riqueza nacional fundir entre os seus dedos, ele administrará a miséria e presidirá à fome”.
Este é o resultado infalível da demagogia, nos regimes em que a política se apoderou da economia, erigindo-se em dispensadora universal dos bens adquiridos e acumulados pelo trabalho dos indivíduos e pelo espírito de modéstia, de previdência e sacrifício das famílias pobres e cristãs.
Técnica da violência
Se a democracia de partidos já não comportava a luta política própria da época democrática e liberal, as novas formas de antagonismo político, peculiares ao nosso tempo, agravaram, de modo impressionante, os perigos que a democracia de partidos representa para a ordem e a paz pública.
Com efeito, contrastando com os antagonismos da época democrática e liberal, os quais podiam desenvolver-se sem graves perigos para a ordem e a paz pública, mediante os processos clássicos da discussão e da propaganda, porque à base e como limite da oposição política existia o reconhecimento, pelos contendores, dos postulados e das convenções fundamentais do regime, o antagonismo entre as novas formações partidárias do nosso tempo reveste-se de um caráter polar ou absoluto, não existindo terreno comum de mediação ou entendimento entre a extrema esquerda e a extrema direita.
O uso de violência, como instrumento de decisão política, passou para o primeiro plano, relegando os processos tradicionais de competição, e onde quer que se abra a perspectiva dessa luta, torna-se imprescindível reforçar a autoridade executiva, única cujos métodos de ação podem evitar o conflito ou impedir que ele assuma a figura e as proporções da guerra civil.
Dai o fato de termos vivido, durante mais de quarenta anos, em regime constitucional teórico e em estado de inconstitucionalidade crônica, mal dissimulado por instituições que já haviam caducado antes de viver.
Ora, não era possível que continuássemos a viver de expedientes, emergindo do prolongado torpor dos tempos otimisticamente denominados normais para os curtos períodos de excitação e de alarme, findos os quais trocavamos a posição de vigília pela do repouso, da inércia e da injustificável e cega confiança nos favores sempre precários do destino.
O monstruoso aparelhamento de 1934
Criticando com exatidão a Constituição de 34, vazada nos moldes clássicos do liberalismo e do sistema representativo anterior à crise econômica, social, política e espiritual do mundo contemporâneo, e, portanto, inadequada para fazer face a essa nova situação, disse o Presidente, no manifesto de 10:
“A Constituição estava evidentemente atrasada em relação ao espírito do tempo. Destinava-se a uma realidade que deixara de existir. Conformada em princípios cuja validade não resistira ao abalo da crise mundial, expunha as instituições por ela mesma criadas à investida dos seus inimigos, com a agravante de enfraquecer e anemizar o poder público”.
Ao lado disto, mais preocupada com os falsos interesses regionais do que com os autênticos interesses e aspirações da Nação, ela a deixou sem autoridade correspondente à sua realidade geográfica, econômica e política, às suas funções morais e responsabilidades históricas.
Ainda mais, na organização do governo predominou o espírito de embaraçar os instrumentos eficazes de qualquer governo. O que lhe dava com uma das mãos, com a outra lhe tirava, para reabsorvê-lo na irresponsabilidade e na incapacidade para a ação, que tanto distinguem o funcionamento dos órgãos coletivos. Desta maneira criou-se um formidável aparelhamento votado à abulia e à inação pelo próprio mecanismo do seu funcionamento, em que a iniciativa de uma peça encontrava a resistência de outra, cujo destino era, precisamente, retardar, amortecer ou deter-lhe o movimento. Com três anos de execução nominal, só restava da Constituição e da máquina criada por ela uma carcassa imensa a que a vida fugira, mas que continuava a pesar sobre os ombros do povo, confiscando-lhe, para manter-se, boa parte da sua fortuna e do seu trabalho, e tentando congelar-lhe, nas suas formas arcaicas, a espontaneidade da vida política.
Vícios do Poder Legislativo
O Poder Legislativo constituía uma das grandes peças desse formidável aparelhamento. Entretanto, não haverá duas opiniões em relação à incapacidade da peça para o fim a que se destinava. Criado para legislar, a sua função consistiu em congelar as iniciativas de legislação.
O Senado Federal, como acentuou o Presidente, em seu manifesto, ainda se encontrava no período de definição das suas atribuições, procurando descobrir, nos textos confusos em que se lhe delineava a competência, o lugar que lhe deveria caber no mecanismo do governo. Assim, um dos órgãos do Poder Legislativo permanecia perdido no limbo das abstrações constitucionais.
De resto, a incapacidade do Poder Legislativo para legislar é hoje um dado definitivamente adquirido não só pela ciência política como pela experiência das instituições representativas, em quase todos os países do mundo, inclusive nos de tradição parlamentar. Ora, a legislação é uma das funções essenciais do governo. Se o órgão incumbido de legislar se demitira da sua função, cumpria substituí-lo urgentemente por outro processo capaz e adequado de legislação.
A impopularidade das câmaras legislativas resultava, pois, da inadequação do órgão à função que lhe era conferida. Quando a máquina parlamentar trabalhava segundo as regras da sua construção e do seu funcionamento, do trabalho realizado sob a alta pressão que costuma reinar em todas as assembléias, onde o interesse só se mantém a poder de emoção ou de sensação, o resultado produzido não correspondia ao esforço e ao tempo empregados.
A comparação do vulto e do custo da máquina com a produção mofina que resultava do seu funcionamento gerava, no espírito público, o justo sentimento de que a máquina não fora construída para o fim aparente a que se destinava, mas para servir a outros fins ou para acomodar nos seus desvãos uma clientela política cujos interesses gravitavam no sentido contrário ao dos interesses nacionais.
Esse justo sentimento público via-se, dia a dia, confirmado pelo desembaraço com que freqüentemente, nas câmaras legislativas, interesses privados, de pessoas ou de grupos, encontravam advogados pugnazes, que conseguiam sobrepô-los aos interesses da Nação.
Quanto mais se acentuava o divórcio entre a Nação e o parlamento, quanto mais este último se mostrava incompetente para o desempenho da sua tarefa constitucional, tanto mais se dilatava o período do seu funcionamento, que tendia tornar-se permanente, graças às prorrogações ou convocações extraordinárias, realizadas, umas e outras, com os mais fúteis e insinceros pretextos, logo esquecidos no dia imediato ao da sua corajosa invocação.
A Nação, a Nação que trabalha e produz, não podia, evidentemente, ter como seu espelho ou sua imagem, para usar de expressão peculiar a uma forma de regime representativo já definitivamente superada, uma assembléia cuja vocação para as férias, à medida que se acentuava, mais se revelava exigente em relação aos privilégios e às vantagens que a Nação lhe tinha larga e generosamente liberalizado.
Ao invés de colaborador do governo, o parlamento tendia, cada vez mais, a transformar-se em órgão de inibição das iniciativas realmente úteis ou proveitosas aos interesses nacionais.
Das suas funções, a mais simples, a mais elementar e, ao mesmo tempo, fundamental — a elaboração orçamentária — ele não a exercia com o alto pensamento de empregar os recursos pedidos ao povo em obras, iniciativas ou despesas de utilidade real. O orçamento era apenas uma oportunidade para dispensar à clientela favores, concessões e liberalidades, destinados a frutificar em prestígio político e resultados eleitorais.
A obra orçamentaria, desorganizada pelas transações recíprocas entre interesses de grupos ou pretensões regionais, dava bem a idéia de que, na representação nacional, só a Nação não era efetivamente representada.
Todos os esforços realizados pelo governo, no sentido de estabelecer o equilíbrio orçamentário, não poderiam vingar nesta atmosfera em que os representantes da Nação, abusando manifestamente do mandato de que se achavam investidos, colocavam o poder de que dispunham ao serviço de interesses estranhos, quando não contrários aos da coletividade que lhes cumpria representar, servir e defender. Foi este ainda um pensamento expresso pelo Presidente, no documento dirigido à Nação.
A fase parlamentar da obra legislativa do governo tinha, assim, constituído antes um embaraço do que uma colaboração digna de ser conservada nos termos em que a estabelecera a Constituição de 1934, caduca em relação ao clima espiritual e político do nosso tempo e calculadamente infestada, por mãos sub-reptícias, de óbices insuperáveis à eficácia nacional do governo. Conservá-la, como disse o chefe da Nação, seria, evidentemente, obra de espírito acomodatício e displicente, mais interessado pela clientela política, que a Nação tem mantido por força de constrangimentos irresistíveis, do que pelas responsabilidades e pelos deveres que o sentimento público vem apontando, há muito tempo, aos homens em cujas mãos o país tinha depositado as suas esperanças e ansiedades.
Representação profissional
A representação profissional, que tinha por fim incorporar a produção às responsabilidades do governo, falhou à sua principal função, como notou o Presidente, no manifesto.
São Palavras do chefe da Nação:
“Ao invés de pertencer a uma assembléia política em que, é obvio, não se encontram os elementos essenciais das suas atividades, a representação profissional deve constituir um órgão de cooperação na esfera do poder público, em condições de influir na propulsão das forças econômicas e de resolver o problema do equilíbrio entre o capital e o trabalho”. Nunca, ser absorvida pela câmara política, nem servir-se da ótica política na consideração de problemas suscitados dentro de uma câmara eminentemente política, como era a Câmara dos Deputados.
As associações profissionais, que o espírito jacobino demitiu das suas funções publicas e do seu direito de cidade, devem participar dos conselhos do governo, por um processo adequado, em que possam exercer a sua influência segundo a atmosfera, os métodos, os instrumentos próprios da sua natureza, do seu espírito e do seu ângulo visual, a fim de que as decisões que interessam à economia nacional provenham de algum centro de vontade qualificado para isso, e não, como sucedia em virtude do errôneo sistema de representação adotado em 1934, de poderes não qualificados, e, por isso mesmo, irresponsáveis.
O espírito de reforma
A Constituição de 10 de novembro abandonou a política dos paliativos e das medidas parciais, condenadas por antecipação a uma ineficácia tão completa e tão radical que o próprio espírito de reforma, essencial à saúde dos corpos políticos, já se sentia abatido na sua fé.
É esse espírito de reforma de progresso que, esperamos, há de subsistir, para que as instituições não se reduzam, como se achavam reduzidas, apenas às aparências, ao formalismo, às exterioridades jurídicas. Sem esse espírito público, não é possível comunicar a qualquer sistema isolado uma política própria, que conduza à realização de fins superiores. Não pode haver uma reta política de educação, ou de defesa nacional, por exemplo, se a política geral ou o espírito que rege a política não está informado em nenhum dos critérios ou princípios que pressupõe cada uma daquelas políticas que lhes são subordinadas.
O Brasil estava enjoado
O quadro da vida política do Brasil era precisamente o dessa descontinuidade e dispersão, antes que a grande decisão de 10 de novembro pusesse termo a um regime cuja condenação, se não estava em todas as bocas, podia, no entanto, ser lida sem dificuldade em todos os corações.
O Brasil estava cansado, o Brasil estava enjoado, o Brasil não acreditava, o Brasil não confiava. O Brasil pedia ordem, e, dia a dia, agravava-se o seu estado de desordem. O Brasil queria confiar, e a cada ato de confiança se seguia uma decepção. O Brasil queria paz, e a babel dos partidos só lhe proporcionava intranqüilidade e confusão. O Brasil reclamava decisão, e só lhe davam intermináveis discussões sobre princípios em que nenhum dos controversistas acreditava. O verbo dos demagogos não é como o verbo divino: onde este cria, aquele destrói, onde um ilumina e distingue, o outro escurece, mistura e confunde.
Basta, porém, de crítica. Vamos aos pontos capitais da nova Constituição. Examinemos os seus fundamentos. Lancemos sobre a construção uma vista panorâmica. Que significa a nova Constituição? Quais as coordenadas que a situam no panorama espiritual do nosso tempo? Corresponde às reais condições da vida nacional? É um instrumento eficaz de governo? É uma Constituição democrática? Em torno de que eixos se organiza a massa das instituições políticas nela consagradas?
Perguntas a que tentarei dar respostas breves, claras e precisas.
Mito do sufrágio universal
A maior parte dos eleitores não se preocupa com a coisa pública. A sua, vida privada já lhes dá bastante motivos de preocupação e de trabalho. Passam a maior parte do tempo alheios às questões de política, de administração e de governo. Quando mobilizados para as campanhas eleitorais, todos os problemas se apresentam de uma só vez à sua atenção, quase todos complexos e a maior parte deles ininteligíveis à massa que não se encontra preparada para a compreensão sequer dos seus termos mais simples. Além disto, a apresentação dos problemas faz-se em campanha eleitoral do ponto de vista da propaganda, deformadas as questões pelos interesses partidários em jogo. Como, no meio da confusão e do rumor de uma campanha, querer que a massa possa fazer um juízo mais ou menos seguro sobre questões remotas à sua vida habitual e insuscetíveis de se clarearem pela atenção ordinária que o homem da rua costuma dedicar aos assuntos do dia?
Cada vez mais os problemas em torno dos quais se fere a luta dos partidos tendem a ser problemas técnicos. As grandes questões, que, no século passado, se debatiam no campo da política, eram questões gerais, suscetíveis de interessar ao maior número e quase todas participando da natureza do dogma político, — a universalização do sufrágio, a extensão de franquias constitucionais, as liberdades públicas. questões em que a emoção tinha maior lugar do que a razão. No mundo de hoje, essas grandes questões não se encontram mais na ordem do dia. As questões econômicas e financeiras, as de organização da economia nacional, as do comércio interno e externo, questões sobretudo técnicas e, por sua natureza, incapazes de despertar emoção, passaram ao primeiro plano. Dai o desinteresse que se observa em quase todo o mundo pelas campanhas eleitorais. Nelas o povo não encontra os grandes motivos ou os grandes temas humanos, acessíveis ao interesse geral que, no século passado, davam à vida política, nas suas fases agudas, a aparência movimentada e dramática. À medida que os problemas em debate se tornam complexos e, pelo seu caráter técnico, impróprios a provocar nas massas a emoção, a opinião pública passa a desinteressar-se do processo político propriamente dito, só exigindo dos governos resultados que se traduzem efetivamente em melhoria do bem estar do povo. A opinião em todo o mundo entrou em estado de apatia ou de indiferença mais ou menos acentuada.
Acrescentem-se a este quadro as deficiências e lacunas do sistema da educação. É claro que, dada a natureza dos problemas que constituem hoje o objeto da política, esta não pode mais fazer-se a não ser mediante decisões tomadas com conhecimento de causa. Ora, a educação, por mais que se tenha generalizado a instrução primária, ainda não constitui um bem ao alcance de todos, ou da maioria. O sistema de educação em vigor em todo o mundo ainda é um sistema mais ou menos fechado, acessível tão somente a pequeno número. A massa eleitoral continua em estado de ingenuidade em relação aos problemas capitais da política e do governo. Mudaram os problemas e não se alterou o processo político, ou, em outras palavras, a emoção continua a ser instrumento que as massas eleitorais aplicam aos problemas políticos, quando estes perderam o caráter dogmático, próprio das grandes questões gerais e humanas, que apaixonavam as massas eleitorais do século passado. A Constituição de 10 de novembro não fez mais, restringindo o uso do sufrágio universal, do que aceitar uma situação de fato, hoje geral no mundo.
Não abandonou, porém, nem podia fazê-lo, o sufrágio universal. Reservou-lhe o papel próprio ou a função mais adequada à sua natureza. Ao sufrágio universal são submetidas apenas as questões que são da sua competência própria, questões essencialmente políticas, eminentemente políticas, colocadas em termos simples e gerais, suscetíveis de interessar realmente o povo e para cuja decisão não se exija da massa eleitoral senão a vista panorâmica da vida política.
Eleição do presidente da República
No caso de haver duas candidaturas presidenciais, somente o sufrágio universal poderá decidir a questão.
Trata-se, no caso, de um conflito entre dois poderes eminentemente representativos: o presidente da República e o colégio eleitoral. A questão do poder terá, pois, de ser devolvida à sua fonte: somente o sufrágio direto e universal poderá decidir de maneira peremptória a contenda, a fim de que se afaste qualquer dúvida quanto à legitimidade do governo a constituir-se.
No caso de dissolução da Câmara pelo Presidente da República, trata-se igualmente de um conflito eminentemente político, ou de uma questão essencialmente própria à decisão do país, por intermédio da massa eleitoral. É necessário que se devolva a questão do poder à sua origem, a fim de que a duvida de legitimidade, com a qual é incompatível qualquer governo, seja definitivamente dissipada, repondo na normalidade um governo que se declara em estado de crise.
Municípios
Sempre se disse que o município era a célula política do país. Era-o, porém, apenas de maneira nominal. Entretanto, ao passo que a vida política do país, considerada como um todo, é intermitente, a vida política do município é que absorve, efetivamente, o interesse do povo. A corporação municipal representa, realmente, o município; o único prestígio político é o prestígio municipal. Tomando em consideração essa realidade, a Constituição de 10 de novembro utilizou o município diretamente como órgão constituinte dos poderes, seja na eleição da Câmara dos Deputados, seja pela designação pelos municípios, da maioria dos membros do colégio eleitoral do Presidente da República. Nisto, não fez mais do que dar expressão legal a uma realidade: a eleição geral e direta no Brasil já era, com efeito, uma eleição puramente municipal.
Delegação do Poder Legislativo
A Constituição de 34 vedava, em termos absolutos, a delegação de poderes. Foram os tribunais que, na expressão do professor Goodnow, “tomaram da ciência política uma nebulosa teoria e a transformação em uma regra ineficaz e inaplicável ”.
A Constituição de 10 de novembro permite expressamente a delegação do Poder Legislativo.
Nisto, ainda, a Constituição de 10 de novembro atendeu à realidade. Não há hoje nenhuma controvérsia relativamente à incapacidade do corpo legislativo para a legislação direta. É a sobrevivência de um órgão às condições que o geraram. No século passado, o papel do Estado era, antes de tudo, negativo: intervir o menos possível. O parlamento era um órgão eminentemente político, cuja função não era uma função técnica, mas política: controlar o governo e servir de órgão autorizado de expressão da opinião pública. A legislação limitava-se a regular questões gerais e simples. Ora, a atividade parlamentar sofreu duas modificações radicais. A primeira delas no seu caráter representativo, ou como órgão de expressão da opinião pública. Com o vertiginoso progresso das técnicas de expressão e de comunicação do pensamento, o parlamento perdeu a sua importância como fórum da opinião pública, que hoje se manifesta por outros meios mais rápidos, mais volumosos e mais eficazes. A opinião desertou os parlamentos, encontrando novos modos de expressão. Ela não só deixou de exprimir-se pelos parlamentos, como os colocou sob o controle dos meios de formação e de expressão da opinião pública. As salas das assembléias legislativas não comportam a opinião pública de hoje, cujo volume exige espaços mais amplos.
Por sua vez, mudaram as funções do governo: de negativas passaram a positivas. A legislação é hoje uma imensa técnica de controle da vida nacional, em todas as suas manifestações. A legislação perdeu o seu caráter exclusivamente político, quando se cingia apenas às questões gerais ou de princípios, para assumir um caráter eminentemente técnico.
Os processos parlamentares continuaram os mesmos, a função dos parlamentos passou a ser infinitamente mais complexa e difícil. Ora, um corpo constituído de acordo com os critérios que presidem à constituição do parlamento é inapto às novas funções que pretende exercer. Capacidade política não importa capacidade técnica, e a legislação é hoje uma técnica que exige o concurso de vários conhecimentos e de várias técnicas. Da incapacidade do parlamento para a função legislativa resulta a falta de rendimento do seu trabalho. Não só o parlamento funciona a maior parte do tempo no vazio, fugindo, assim, à execução de uma tarefa acima das suas forças e que não pode ser realizada mediante os defeituosos processos parlamentares, como, quando aborda a tarefa, o faz, a maior parte das vezes, de pontos de vista estranhos aos verdadeiros interesses em jogo, considerando as questões mais no plano do interesse político ou das exigências eleitorais, do que no seu plano próprio e adequado. Um corpo númeroso, constituído de várias tendências, de grupos e até de matizes individuais não reune, evidentemente, os requisitos próprios a uma obra legislativa homogênea e consistente. E é o que se observa nos mais importantes documentos legislativos, bastando citar, como exemplo expressivo, a própria Constituição de 34, trabalhada, de modo aparente e manifesto, por várias e opostas correntes, que quebraram, assim, o principal caráter de uma lei desse vulto — a sua unidade ideológica e técnica
Dai, o movimento geral em todo o mundo para retirar do parlamento a iniciativa da legislação e estender cada vez mais o campo da delegação de poderes. Não há hoje obra legislativa importante que não tenha sido iniciativa do governo ou não seja o resultado de uma delegação do Poder Legislativo. Quase toda a legislação recente na Inglaterra é feita por Orders in Council e Departmental Regulations, isto é, legislação pelo Executivo, mediante delegação de poderes.
Nos Estados Unidos, país em que sempre existiu a prevenção dos tribunais contra a delegação, a legislação pelo Executivo, ou delegada, constitui hoje a massa mais importante da produção legislativa.
Não só em outros países a legislação direta pelo parlamento se mostrou impraticável. Entre nós, os seus defeitos estão patentes a todas as vistas. O processo de crivar de emendas, muitas vezes de caráter pessoal, um projeto de lei, é um processo corrente na forma parlamentar de legislação. Os grandes projetos, em que a unidade de princípio e de técnica é qualidade capital, não podiam saber desse processo senão deformados, mutilados e imprestáveis.
A extensão e a prolixidade dos debates tomavam, ainda, quase todo o tempo útil das assembléias, de sorte que a obra legislativa não correspondia, pelo minguado volume, ao tempo e ao esforço que nela se gastavam. O Presidente observou, com a major justeza, que a quase totalidade dos projetos de iniciativa do governo ficaram durante anos parados nas comissões ou no plenário, a máquina parlamentar confessando-se impotente para dar conta da parte capital da sua tarefa.
Somando-se a esses inconvenientes e agravando-lhes os resultados, há que acrescentar a fútil liberdade concedida a qualquer membro do parlamento para tomar o tempo e a atenção dos seus pares com iniciativas de caráter puramente individual. A vontade de não se mostrar inativo, ou antes, de manifestar aos eleitores o seu interesse pelo mandato, levava quase todos os membros do parlamento a tomar iniciativas de legislação, que não contavam com nenhuma probabilidade de se transformarem em leis, sobrecarregando, apenas, inutilmente, o trabalho das comissões e as ordens do dia de plenário. A Constituição de 10 de novembro, reconhecendo o mal, deu-lhe o remédio. A iniciativa da legislação cabe, em princípio, ao governo. A nenhum membro do parlamento é licito tomar iniciativa individual de legislação. A delegação de poderes não só foi permitida, como se tornou a regra, pois a Constituição prescreve que os projetos de iniciativa do parlamento devem cingir-se a regular a matéria de modo geral, ou nos seus princípios, deixando ao governo a tarefa de desenvolver esses princípios, e regular os detalhes.
Evolução da democracia.
A nova Constituição é profundamente democrática. Aliás, a expressão democrática, como todas as expressões que traduzem uma atitude geral diante da vida, não tem um conteúdo definido, ou não conota valores eternos. Os valores implícitos na expressão “democracia” variam com os tipos de civilização e de cultura. A democracia reinante no século XIX era fundada nos princípios e no estado de espírito que começaram a tornar-se explícitos no fim do século XVIII. Era uma atitude de revolta contra a ordem estabelecida. Os seus valores, como os seus conceitos, eram de natureza polêmica. As cartas políticas feitas sob a influência desse clima de idéias reduziam-se a organizar a luta dos cidadãos contra o poder. A parte capital das constituições era a declaração de direitos e de garantias individuais. O grande inimigo era o poder, ou o governo, cuja ação se tornava necessário limitar estritamente. As constituições tinham um caráter eminentemente negativa: declaravam os limites do governo, ou o que ao governo não era lícito restringir ou limitar, — e esta era, precisamente, a declaração das liberdades individuais. Essa concepção da democracia correspondia a um momento histórico definido, em que o indivíduo só podia ser ai firmado pela negação do Estado. — A transformação operada no mundo pelas grandes revoluções industriais, técnicas e intelectuais mudou o clima político. O conceito negativo da democracia não era mais adequado aos novos ideais da vida. A liberdade individual e as garantias não resolviam o problema do homem. Eram ideais negativos, que não garantiam aos indivíduos nenhum bem concreto, seja no domínio econômico, seja no domínio moral, seja no domínio intelectual e político. Numa época de profundas e radicais modificações na técnica da vida e de conquistas no domínio dos bens materiais e morais, o principal problema passava, necessariamente, a ser o de tornar os benefícios dessas transformações e conquistas acessíveis ao maior número possível. Tratava-se, portanto, de inverter o conceito de democracia, próprio do século XIX. O problema constitucional não era mais o de definir negativamente a esfera da liberdade individual, mas organizar o poder ao serviço dos novos ideais da vida; não era mais o caso de definir, de modo puramente negativo, os direitos do indivíduo, mas atribuir aos indivíduos os direitos positivos por força dos quais se lhes tornassem acessíveis os bens de uma civilização essencialmente técnica e de uma cultura cada vez mais extensa e voltada para o problema da melhoria material e moral do homem. Dai o novo aspecto de que vieram a revestir-se as cartas constitucionais. Elas perderam o caráter negativo e polêmico, assumindo, de modo eminente, um caráter positivo e construtivo. Na declaração de direitos, a parte negativa tende cada vez mais a restringir-se, ao mesmo tempo que o conceito do poder ou do Estado assume outra significação. O problema constitucional não é mais o de como prender e obstar o poder, mas o de criar-lhe novos deveres, e aos indivíduos novos direitos. O poder deixa de ser o inimigo, para ser o servidor, e o cidadão deixa de ser o homem livre, ou o homem em revolta contra o poder, para ser o titular de novos direitos, positivos e concretos, que lhe garantam uma justa participação nos bens da civilização e da cultura.
A nova declaração de direitos
Os novos direitos constituem, por assim dizer, a substância da declaração constitucional de direitos. Não se trata mais de uma declaração negativa da liberdade, que não dava outro direito ao indivíduo senão o de não ser incomodado pelo Estado. O indivíduo tem direito a serviços e bens, e o Estado o dever de assegurar, garantir e promover o gozo desses serviços e desses bens: o direito à atividade criadora; o direito ao trabalho; o direito a um padrão razoável de vida; o direito à segurança contra os azares e os infortúnios da vida — o desemprego, o acidente, a doença, a velhice; o direito a condições de vida sã, criando ao Estado o dever de administrar a higiene pública, e, sobre todos, o direito à educação, sem cujo exercício não é possível tornar acessível a todos o gozo dos demais bens da civilização e da cultura.
O direito à educação é, assim, o mais importante dos novos direitos, particularmente pelo conceito que a Constituição lhe atribui, não a considerando apenas como simples instrumento para um melhor gozo da vida, senão como meio de dar à vida um sentido e um fim, orientação e direção a todas as atividades sociais. Se esses ideais de vida é que constituem o verdadeiro conteúdo da democracia, as instituições democráticas hão de ser transformadas no sentido de dar-lhes efetividade. Em primeiro lugar, o poder do Estado há de ser imensamente maior do que o poder atrofiado pelo conceito negativo da democracia do século XIX. Para assegurar aos homens o gozo dos novos direitos, o Estado precisa de exercer de modo efetivo o controle de todas as atividades sociais, — a economia, a política, a educação. Uma experiência centenária demonstrou que o direito negativo de liberdade não dava realmente direito a nenhum desses bens, sem os quais já não é hoje possível conceber a vida humana. O princípio de liberdade deu em resultado o fortalecimento cada vez maior dos fortes e o enfraquecimento cada vez maior dos fracos. O princípio de liberdade não garantiu a ninguém o direito ao trabalho, à educação, à segurança. Só o Estado forte pode exercer a arbitragem justa, assegurando a todos o gozo da herança comum da civilização e da cultura.
Poder Judiciário
Outra transformação é a operada pela Constituição de 10 de novembro nos poderes do Judiciário. Pela Constituição passada, como pela de 91, o Judiciário era árbitro irrecorrível da constitucionalidade. Os inevitáveis processos de mudança e transformação, que conferem à nossa civilização um caráter profundamente dinâmico, eram freqüentemente obstados por uma interpretação orientada por critérios puramente formais, ou inspirados na evocação de um mundo que já morrera. Sob a interpretação, e dissimulados pela sua aparelhagem técnica e dialética, o que existia, muitas vezes, era uma doutrina, um dogma, ou um ponto de vista preconcebido, ou uma atitude filosófica em relação à vida econômica, política ou social. Acontecia, assim, que, na frase de Oliver Holmes, os tribunais transformavam a Constituição na Estatística Social de Spencer, lendo-a e interpretando-a através dos seus preconceitos filosóficos.
Ora, a interpretação não dispõe de processos objetivos e infalíveis e, por isto mesmo, está sujeita à influência do coeficiente pessoal do juiz. Não há, portanto, nenhuma razão para aceitar como decisiva ou definitiva, no plano em que se acham em jogo os maiores interesses da nação, uma interpretação que não dá nenhuma garantia objetiva do seu acerto. Aos juizes não será, em conseqüência, permitido, a pretexto de interpretação constitucional, decretar como única legitima a sua filosofia social ou a sua concepção do mundo, desde que essa filosofia ou concepção obstrua os desígnios econômicos, políticos ou sociais do governo, em beneficio da Nação.
Direito de voto
A última transformação imposta pelo novo conceito da democracia é a operada sobre o mito do sufrágio universal.
É evidente que, os novos ideais democráticos aumentando a área de ação do Estado e exigindo dele um controle mais direto da vida nacional, os problemas do governo tendem a tornar-se cada vez mais difíceis e complexos.
O sufrágio universal mostra-se, dessa maneira, um meio impróprio à aferição e à crítica das decisões políticas. Estas passam-se em regiões remotas ou inacessíveis à competência ordinária do corpo eleitoral. O problema atual não é, pois, o de estender o sufrágio, seja atribuindo o direito de voto a todo mundo, seja submetendo à competência do eleitorado todos os problemas de governo. Trata-se, ao contrario, de organizar o sufrágio, reduzindo-o à sua competência própria, que é a de pronunciar-se apenas sobre o menor número de questões, e particularmente apenas sobre as questões mais gerais e mais simples.
Caráter democrático da Constituição
A Constituição de 10 de novembro atende, de modo cabal, às transformações que, em nosso século, se encontram em via de rápida realização, nos ideais e nas instituições democráticas.
É bastante verificar a função por ela reconhecida ao sufrágio universal, a limitação do poder dos juizes de declarar a inconstitucionalidade das leis, e os capítulos relativos à ordem econômica e à educação e cultura. Por sua vez, conferindo o poder supremo ao Presidente da República, coloca-o em contato direto com o povo, não sendo possível ao Presidente descarregar sobre outros órgãos do poder as graves responsabilidades que a Constituição lhe dá, em conseqüência dos poderes e prerrogativas que lhe são atribuídos.
O Presidente é o chefe responsável da Nação e só poderá exercer as enormes prerrogativas da presidência se contar com o apoio e o prestígio do povo, precisando, para isto, de apelar freqüentemente para a opinião, e tendo, assim, o seu mandato um caráter eminentemente democrático e popular.
A máquina administrativa
Se o Estado amplia o seu controle sobre todas as forças nacionais, é claro, para que a sua ação seja eficaz, se torna necessário que ele disponha de uma máquina de governo capaz, flexível e de rendimento correspondente às suas responsabilidades. A construção constitucional da máquina do governo propriamente dita é simples e prática. Toda ela é construída em torno de uma idéia central, favorável à ação eficaz do governo: o governo gravita em torno de um chefe, que é o Presidente da República. A este cabe dar a impulsão às iniciativas dos demais órgãos do governo. O instrumento capital do governo é. porém, a administração. Cumpre, pois, que a máquina administrativa seja regulada segundo o mesmo método que presidiu à organização do governo. A máquina administrativa deve ser pronta, capaz e responsável. Organizada para a ação, não pode dispersar-se em movimentos descoordenados, perder-se em perplexidades ou desbaratar o tempo e o dinheiro, repetindo em cada setor serviços que devem ser concentrados em um só. O princípio da concentração de serviços da mesma natureza em um só departamento é um princípio de eficiência e de economia.
O recrutamento do pessoal administrativo deve obedecer a normas inflexíveis de capacidade e de interesse público, não podendo o serviço público ser considerado como reserva destinada a alimentar uma incontentável clientela eleitoral.
A estabilidade do pessoal não deve excluir a responsabilidade, nem impedir a realização do bem público. O serviço público não é organizado para o funcionário, mas para o povo ou para a Nação. Não pode haver garantias contra o interesse público. O interesse público há de ditar o ingresso do funcionário na carreira e o seu afastamento do serviço. Do mesmo modo que o governo se organiza em torno do chefe do Estado, cada departamento ou setor da administração deve organizar-se em torno do chefe. Este, o princípio de autoridade e de responsabilidade, sem o qual não pode haver governo e administração da coisa pública. Assim como os indivíduos organizam a administração dos seus negócios, assim deve a Nação organizar a dos seus interesses.
O regime liberal, que aprovava os métodos da administração privada, fundados no princípio da autoridade e da responsabilidade, quando se tratava do interesse público, achava que este podia ser administrado mediante processos caóticos ou pela incompetência do sufrágio. Se o liberalismo achava que o sufrágio era o melhor meio de designar um governo competente, por que não o aplicava à administração dos interesses privados? É que, para o liberalismo, o importante, o capital era o indivíduo: o coletivo, o público era apenas um acervo de interesses sem dono e destinado, portanto, a ser distribuído entre os mais ativos e empreendedores, isto é, os demagogos, os agitadores e os manipuladores sub-reptícios ou clandestinos da opinião.
Liberdade
Um dos pontos essenciais do regime é a definição da liberdade. Sua importância, entre nós, tem sido meridianamente proclamada. Importância, porém, só de palavras.
Com o falso pretexto da liberdade, criaram-se os poderes irresponsáveis que, aproveitando-se da chance ou das circunstâncias favoráveis, estabeleceram o seu domínio sobre a nação, domínio econômico, mediante as poderosas organizações econômicas, e domínio político, mediante as arregimentações partidárias em que o princípio democrático não era observado. Essas organizações, criadas fora do Estado, enfraqueceram-lhe o poder e passaram a exercer um verdadeiro poder de natureza pública, em proveito de interesses privados. Os fracos, os desprotegidos, e entre estes se deve contar o interesse nacional, ficaram com a liberdade nominal, e efetivamente sem nenhum direito.
No regime liberal organizou-se um novo feudalismo econômico e político.
Somente o Estado, porém, está em condições de arbitrar ou de exercer um poder justo. Ele representa a Nação, e não é o instrumento dos partidos e das organizações privadas.
“O regime corporativo não exclui a liberdade; apenas torna justo o seu exercício.”
A coletividade, até agora, era uma entidade anônima e abstrata. Cumpre que seja uma realidade concreta e definida, oferecendo ao indivíduo um quadro dentro do qual o exercício da liberdade seja garantido e tenha sentido.
A organização não suprime nem oprime a liberdade individual: limita-a, para melhor defendê-la, assegurando-a contra o arbítrio das organizações fundadas no interesse de grupos constituídos, à sombra da anarquia geral, sobre a base do interesse privado.
O poder econômico e o poder financeiro não podem continuar a ser poderes arbitrários. Cumpre que se exerçam no sentido do interesse geral. Ao governo dos particulares se substituirá o governo do público.
Postular a liberdade simples é postular a força. É necessário que sejam postuladas ao mesmo tempo a liberdade e a justiça, ou antes, a liberdade como exercido de um poder justo.
Lacordaire resumiu, numa frase lapidar, a crítica do liberalismo: “Em toda sociedade em que há fortes e fracos, é a liberdade que escraviza e é a lei que liberta”.
Liberalismo, marxismo, corporativismo
O liberalismo político e econômico conduz ao comunismo. O comunismo funda-se, precisamente, na generalização à vida econômica dos princípios, das técnicas e dos processos do liberalismo político.
Toda a dialética de Marx tem por pressuposto essa verdade: a continuação da anarquia liberal determina, como conseqüência necessária, a instauração final do comunismo.
Marx não podia, porém, prever a revolução operada no pensamento político do século XX. A revolução política impediu a revolução comunista. O grande pensamento político, afirmativo e orgânico, que se substituiu ao ceticismo liberal, interrompeu o processo de decomposição, que Marx postulava como necessário e fatal. Suprimidas as condições criadas pelo liberalismo à implantação do comunismo, o marxismo perdeu a atualidade, passando ao rol das teorias caducas em que foi tão fértil o século XIX.
O corporativismo mata o comunismo como o liberalismo gera o comunismo. O corporativismo interrompe o processo de decomposição do mundo capitalista previsto por Marx como resultante da anarquia liberal. As grandes revoluções políticas do século XX desmentiram a profecia de Marx e desmoralizaram a dialética marxista. A vontade dos homens e as suas decisões podem, portanto, pôr termo à suposta evolução necessária do capitalismo para o comunismo. Essa evolução parou com o fim que o mundo contemporâneo prescreveu à anarquia liberal do século passado.
O corporativismo, inimigo do comunismo e, por conseqüência, do liberalismo, é a barreira que o mundo de hoje opõe à inundação moscovita. Inimigo do liberalismo não significa inimigo da liberdade. Há, para esta, lugar no organização corporativa.
A liberdade na organização corporativa é limitada em superfície e garantida em profundidade. Não é a liberdade do individualismo liberal, mas a liberdade da iniciativa individual, dentro do quadro da corporação. A corporação, que representa uma determinada categoria da produção, tem, igualmente, a sua liberdade, e a do indivíduo é limitada por ela. A organização corporativa é a descentralização econômica, isto é, o abandono, pelo Estado, da intervenção arbitraria no domínio econômico, da burocratização da economia (primeiro passo avançado para o comunismo), deixando à própria produção o poder de organizar-se, regular-se, limitar-se e governar-se. Para isto é necessário que o Estado delegue funções de poder público às corporações. A descentralização pelas corporações não implica, pois, indiferença do Estado pela economia. Cada corporação representa um setor da economia nacional. Só, porém, o Estado, que não tem interesse particularista, está em condições de representar o interesse nacional e de exercer, portanto, a arbitragem entre os interesses de categorias ou de setores. O Estado assiste e superintende, só intervindo para assegurar os interesses da Nação, impedindo o predomínio de um determinado setor da produção, em detrimento dos demais.
O Estado é a justiça; as corporações, os interesses. Nos quadros do Estado, só os interesses justos encontram proteção.
O liberalismo econômico é, precisamente, o antípoda. A liberdade é simplesmente a liberdade individual, e, como sem a justa arbitragem a medida da liberdade é a força, a liberdade individual era a liberdade para os fortes, ou liberdade dos “gangsters”.
A vida econômica não tinha outro regulador a não ser a vontade dos fortes, isto é, daqueles que, graças à espoliação ou às conjunturas favoráveis do livre jogo econômico, lograram constituir o seu feudo. A livre concorrência era uma corrida sem fim para objetivos puramente individuais. Num mesmo setor da produção podiam ai fluir, ao mesmo tempo, capital e trabalho em proporção superior às necessidades do consumo, ao passo que outros ramos de produção útil e necessária, à mingua de recursos, não correspondiam às exigências do mercado. Agravando os males da concorrência anárquica, os poderes financeiros, interessados exclusivamente na especulação, estimulavam, com a mira tão somente nos resultados imediatos, a inversão de capitais, sem atenção às necessidades reais da produção e, assim, distribuíam o crédito não na conformidade dos interesses da economia nacional, mas na dos seus próprios interesses.
A livre concorrência transformava-se, dessa maneira, numa corrida desordenada para a crise. Sobrevinda esta, os poderes financeiros, cuja assistência se tornava então mais necessária, retraiam-se e procuravam liquidar as suas carteiras. O capital fixo, porém, não se podia desinvestir com a mesma facilidade com que se investira. No momento do pânico, aqueles que o produziram e que se mostram intransigentes em relação ao dogma da livre concorrência, voltavam-se para o Estado e entregavam-se à sua tutela improvisada, pedindo o ressarcimento, à custa da Nação, dos prejuízos de uma aventura em que, para embarcar, não se lembraram de pedir ao Estado os competentes passaportes. Sob a pressão dos interesses políticos e eleitorais, estreitamente ligados à finança, o Estado tomava sobre si os prejuízos, distribuindo pela economia nacional as conseqüências das loucuras individuais de alguns aventureiros.
Dai os tumores de fixação, formados na economia nacional, e que tendiam a tornar-se órgãos permanentes dessa economia, continuando a viver do trabalho daqueles a quem não tocaria nenhuma parte nos lucros da especulação, se esta desse resultados positivos.
A organização corporativa garante a liberdade de iniciativa de uns, nos limites em que não prejudica igual liberdade de iniciativa de outros e, sobretudo, nos limites em que a liberdade individual não constitui atentado contra o bem comum.
No Estado liberal, o econômico governava a Nação atrás dos bastidores, isto é, sem responsabilidade, porque o seu poder não tinha expressão legal, e por intermédio exatamente dos interesses mais suspeitos, porque de ordem exclusivamente financeira.
Na organização corporativa, o poder econômico tem expressão legal: não precisa negociar e corromper, insinuar-se nos interstícios ou usar de meios oblíquos e clandestinos. Tendo o poder, tem a responsabilidade, e o seu poder e a sua responsabilidade encontram limite e sanção no Estado independente, autoritário e justo.
Educação
O que chamamos de educação tem-se limitado à transmissão de processos e de técnicas intelectuais e, em escala ainda muito reduzida, ao treinamento para determinadas profissões.
A educação moral e cívica tem sido antes uma ocasião para retórica, reduzindo-se a dissertações relativas à formação do caráter, sem contudo precisar o que se entende de modo definido por essa expressão de contornos indeterminados. Se há alguma finalidade além da aquisição de conhecimentos e de técnicas, é uma questão a que o nosso sistema educativo não responde, porque não a julga incluída no seu “silabus”.
Em um sistema educativo puramente intelectualista e de fundo liberal, todas as teorias e crenças são objeto de discussão: não há, porém, obrigação de aceitar nenhuma. Cada qual pode escolher a sua especialidade, a sua profissão, ou a sua técnica, sem cogitar de como inserirá o patrimônio assim adquirido no contexto social, qual a atitude em relação à vida e quais os tipos de conduta que não interessam apenas ao ponto de vista do egoísmo profissional.
A educação não tem o seu fim em si mesma; é um processo destinado a servir a certos valores e pressupõe, portanto, a existência de valores sobre alguns dos quais a discussão não pode ser admitida.
A liberdade de pensamento e de ensino não pode ser confundida com a ausência de fins sociais postulados à educação, a não ser que a sociedade humana fosse confundida com uma academia de anarquistas, reduzidos a uma vida puramente intelectual e discursiva.
Por mais extensa que seja a liberdade de discussão há de chegar um momento em que na trama do pensamento se insinua a crença, a fé ou o dogma. A própria liberdade, por mais numerosos e fortes que sejam os argumentos em seu favor, é, em última análise, um dogma, porque só a estimam e a procuram aqueles que a julgam um bem.
O capitulo dedicado à educação e à cultura colocou nesses termos o problema da educação e, entre as atribuiç6es privativas da União, encontra-se a de traçar as diretrizes a que deve obedecer a formação física, intelectual e moral da infância e da juventude.
A Constituição prescreve a obrigatoriedade da educação física, do ensino cívico e de trabalhos manuais, e atribui ao Estado, como seu primeiro dever em matéria educativa, o ensino prevocacional e profissional, destinado às classes menos favorecidas, cabendo-lhe ainda promover a disciplina moral e o adestramento da juventude, de maneira a prepará-la ao cumprimento de suas obrigações para com a economia e a defesa da Nação.
Nos termos em que a Carta constitucional define esse conjunto de normas para a educação, a escola integra-se no sentido orgânico e construtivo da coletividade, não se limitando ao simples fornecimento de conceitos e noções, mas abrangendo a formação dos novos cidadãos, de acordo com os verdadeiros interesses nacionais.
O ensino é, assim, um instrumento em ação para garantir a continuidade da Pátria e dos conceitos cívicos e morais que nela se incorporam. Ao mesmo tempo, prepara as novas gerações, pelo treinamento físico, para uma vida sã, e cuida ainda de dar-lhes as possibilidades de prover a essa vida com as aptidões de trabalho, desenvolvidas pelo ensino profissional, a que corresponde igualmente o propósito de expansão da economia.
Por isso mesmo, a Constituição estende às indústrias e aos sindicatos econômico o dever de criar, na esfera de sua especialidade, escolas técnicas.
Sendo profundamente nacional o ponto de vista da Constituição, em matéria educativa é, também, eminentemente democrático.
A todos os brasileiros oferece as mesmas oportunidades e a todos assegura instrução adequada às suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais.
A igualdade de educação não é apenas proclamada, mas garantida pelo Estado, que toma a seu cargo, como dever essencial, o ensino, em todos os graus, à infância e à juventude que não tiverem recursos necessários para a matrícula e freqüência em instituições particulares.
Esse sentido democrático da educação assume aspecto social quando a gratuidade do ensino não exclui o dever de solidariedade dos menos para com os mais necessitados, de modo que aqueles contribuam para o custeio do ensino destes, através das caixas escolares.
As classes menos favorecidas têm ainda a proteção do Estado para a aquisição das técnicas e o cultivo das vocações úteis e produtivas.
Imprensa
A Constituição, declarando que a Imprensa exerce uma função de caráter público, não fez uma declaração arbitrária.
À base dessa declaração existe a exata compreensão do fenômeno moderno da Imprensa na sua complexidade. A Imprensa, como todas as técnicas, transformou-se radicalmente do século passado para o nosso. O seu poder cresceu em proporções vertiginosas. Pode-se dizer que a crise do regime representativo e liberal se deve, em grande parte, ao fenômeno da propaganda. O parlamento perdeu a sua importância como instituição representativa, à medida que os modernos instrumentos de propaganda se apoderaram da opinião pública. As instituições públicas, dependentes, pela sua origem e pelo seu funcionamento, da opinião pública, passaram a depender da propaganda, e, portanto, em primeiro lugar, da Imprensa.
Ora, a Imprensa é uma empresa privada, dirigida, como a indústria, no interesse do capital. A publicidade governa a Imprensa, como o rendimento governa a indústria. O instrumento de governo da Imprensa é, porém, a opinião pública, a mesma fonte dos poderes políticos em regime democrático. O instrumento mais poderoso de governo não pode ficar à mercê do interesse privado. Se a Imprensa dispõe da técnica e do poder de formar a opinião pública, não poderá empregar a técnica e exercer o poder senão no interesse público e para fins públicos. O controle da Imprensa, estabelecido na Constituição, não é, portanto, um instrumento autocrático, mas uma exigência decorrente da própria natureza do seu poder e da sua função. Poder público implica função pública, interesse público, responsabilidade pública.
Conclusão
A Constituição é um todo sistemático e orgânico. Não foi feita para tornar impossível qualquer governo, o que era o fim que tinham em vista as Constituições liberais. Estas organizavam o Estado sob a regência do mesmo princípio da livre concorrência. O Estado era um certo número de poderes concorrentes, em conflito permanente uns com os outros: equilibravam-se para se neutralizarem.
O poder, na Constituição de 10 de novembro, tem unidade. Há vários poderes e um só Poder; onde há vários poderes e não existe um só Poder, não há governo, porque governo é um só pensamento e uma só ação.
A Constituição atende às realidades do Brasil. Atende de tal maneira que se diria que, no Brasil, toda vez que se tentava fundar um governo de verdade, as tentativas de governar vinham sendo feitas nas linhas da atual Constituição.
A Constituição de 10 de novembro não é agnóstica. Ela reconhece ideais e valores, e retira-os do fórum da livre discussão. São valores indiscutíveis, porque constituem condição da vida nacional. Se, com isto, um fútil intelectualismo é privado do prazer de dançar em público com certas idéias elegantes e suspeitas, a Nação ganha em substância, em consciência de si mesma, em tranqüilidade, bem estar e segurança.
PROBLEMAS DO BRASIL E SOLUÇÕES DO REGIME
Verdadeiro sentido do 10 de novembro — O regime e a consciência nacional — Democracia substantiva e democracia formal — Processo da eleição presidencial — Responsabilidade do chefe de Estado — Limites da irretroatividade das leis — Competência do Conselho da Economia Nacional — Legislação direta e legislação delegada — Composição da Câmara dos Deputados — As prerrogativas dos Estados — Função pública da Imprensa — Restrições ao Poder Legislativo do Parlamento — O julgamento plebiscitário — Declaração da inconstitucionalidade das leis.
Entrevista concedida à Imprensa, em Janeiro de 1938.
Verdadeiro sentido do 10 de novembro
— O golpe de 10 de novembro, que, segundo disse v. excia., realizou efetivamente a revolução de 30, não teve sentido de direita exagerado, em face dos princípios não repudiados, antes preconizados por aquela revolução?
— O 10 de novembro resultou, antes de tudo, da profunda e urgente necessidade de integrar as instituições no senso das realidades políticas, sociais e econômicas do Brasil, num momento em que essa necessidade se impôs com a força inapelável de um imperativo de salvação nacional.
Não teve, nem se lhe pode atribuir outro sentido senão o que deflui daquelas realidades que, contrariadas, oprimidas e sacrificadas pelo velho regime, incapaz de interpretá-las e defendê-las, reclamavam e encontraram, finalmente, na Constituição nova, a sua expressão legal, o seu reconhecimento positivo e a sua identificação com o Estado, que nelas se funda e para elas vive e atua. Inspirada nas condições próprias do país e nas exigências da vida contemporânea, que dentro delas se formaram e desenvolveram, a grande reforma não pode ser condicionada aos termos de definição política que só têm significação para outros povos e outras pátrias, cujas condições não são como as nossas, nem autorizam equiparações e analogias.
O 10 de novembro não inventou um sentido nem forçou uma diretiva política ao país. Apenas consagrou o sentido das realidades brasileiras. Aceitou, exprimiu e fortaleceu, defendendo-o contra desvios perigosos, o rumo traçado pela evolução e que, de certo modo, já se manifestava, mesmo no antigo regime, como expressão da própria vida social, cujas energias não se deixam contrariar pelas fórmulas, quando estas faltam ao seu destino de configurá-las e discipliná-las.
O 10 de novembro realizou, efetivamente, a Revolução de 30, porque respondeu, de modo positivo e definido, aos profundos anseios, às razões primeiras, aos graves motivos inspiradores que lhe deram a força, a grandeza e o triunfo, não como movimento partidário, mas como movimento nacional.
Qualquer que tenha sido a tonalidade das idéias proclamadas na sua propaganda, a Revolução de 30 foi essencialmente a eclosão das energias renovadoras do Brasil, que já se não podiam conter na velha ordem de coisas e buscavam uma ordem nova. Resultado do mal estar irredutível produzido pela incompatibilidade das instituições, falsas e obsoletas, com a situação objetiva a que se deviam aplicar, na Revolução de 30 se condensaram todos os protestos contra os vícios, erros e males do regime de 91, que, dia a dia, se foram agravando, à proporção que o próprio desenvolvimento do país tornava mais evidente e chocante o contraste entre as suas realidades e os instrumentos políticos destinados a representá-las.
Em 1930, toda a Nação tinha consciência de que estava sendo conduzida num caminho errado. Toda a Nação se incorporou ao movimento revolucionário, porque era um novo caminho que se abria. As circunstâncias partidárias, essencialmente propícias, criaram esplêndida oportunidade, naquele momento, para que se precipitasse a descarga das forças de evolução, comprimidas e recalcadas na antiga ordem de coisas.
Mas o movimento foi detido pela reconstitucionalização, que se operou segundo os velhos moldes. Voltaram os erros, os vícios e os males do falido regime liberal que a política, restaurada da sua breve derrota e para satisfação dos seus obscuros propósitos, insistia em restabelecer, valendo-se de fórmulas para encobrir a realidade.
Entretanto, as contradições do regime ainda mais apuraram a consciência da Nação, para que ela se edificasse e esclarecesse, não só quanto ao mal que era preciso destruir, mas igualmente quanto ao bem que era necessário instituir num regime apto a satisfazê-lo. Assim, novembro de 37 efetiva outubro de 30, aplicando, na ordem, as forças deflagradas na subversão.
O regime e a consciência nacional
— O regime de 10 de novembro, que pressupõe uma ideologia política, não corre risco de sofrer da surpresa com que foi instituído? A consciência nacional poderá ser formada ou orientada “a posteriori” quanto às vantagens dele decorrentes para o país, de forma que sua consolidação se faça com segurança e rapidez?
— Como já salientei anteriormente, o regime de 10 de novembro é o das realidades brasileiras, cuja interpretação, no plano teórico do Estado, compõe a sua ideologia política. Regime que corresponde às verdades da Nação, que exprime os anseios do seu espírito e as solicitações da sua vida e do seu progresso, não causou surpresa ao ser instituído, porque é o regime que reclamava o Brasil, na ânsia de salvar-se. E a prova é que o país inteiro o recebeu confiante e serenamente, logo compreendeu, aceitou e aplaudiu.
A instantaneidade da ação contida num acontecimento histórico não quer dizer improvisação das idéias a que ela corresponde. A acumulação das forças espirituais que inspiram uma grande reforma política processa-se lentamente, através de árduas experiências e longos transes, nos quais as necessidades de renovação se cristalizam na consciência de que é preciso operá-la. Mas, assim como repentinamente se deflagra, pela ação das correntes elétricas, a tempestade que um lento processo de condensação havia preparado, assim também, na vida dos povos, irrompe de súbito, pela pressão da História e pela agravação das suas causas, a energia renovadora que se vinha condensando na atmosfera social.
Foi o que aconteceu em 10 de novembro. Desde muito tempo, o Brasil compreendia e sentia que não podia continuar como estava. Todos os brasileiros queriam uma nova ordem e estavam preparados para recebê-la, se ela em verdade correspondesse, como de fato corresponde, ao bem do Brasil.
A consciência nacional já está formada e orientada quanto às vantagens do atual regime. Prova-o a aceitação imediata, sem restrições, de todo o país.
A consolidação do regime processa-se com a facilidade, a segurança e a rapidez que derivam da sua conformidade com o espírito e o interesse da Nação.
Democracia substantiva e democracia formal
— A reeleição do Presidente da República por um ou mais períodos, possibilitada pelo processo de escolha do art. 84, não colide com o sentido democrático da formação constitucional brasileira, que a carta de 10 de novembro procurou preservar?
A democracia não é, antes de tudo, uma renovação de valores e um campo propício a que todas as vocações políticas aspirem ao supremo governo do país? Por outro lado, não se proporciona ao Presidente da República meio fácil de prorrogar o período do seu mandato, em virtude do disposto no parágrafo único do art. 84?
— A pergunta já contém o reconhecimento de que a carta de 10 de novembro procurou preservar o sentido democrático da formação constitucional brasileira. Um exame atento da nova ordem jurídica demonstrará, todavia, que o sentido democrático, sempre dominante em nossa história, não foi simplesmente preservado, mas encontrou agora expressão mais perfeita. A Constituição de 10 de novembro realizará melhor os ideais democráticos que as suas predecessoras. Esta afirmação será necessariamente contestada por aqueles que não conhecem outra forma democrática além da estabelecida pelo liberalismo político. A teoria do Estado liberal reivindica para si a exclusividade do pensamento democrático, fazendo crer que, se um regime político não consagrar os princípios liberais, há de ser fatalmente uma autocracia, uma ditadura, um regime absolutista. Mas isto é falso. Do molde feito pelo liberalismo saíram, até hoje, apenas democracias deformadas. Para evitar-se a ditadura, abriu-se a porta aos males muito piores da demagogia, da luta de partidos e da luta de classes. Se identificarmos a democracia com o Estado liberal, chegaremos à conclusão absurda de que a democracia é um regime nocivo aos interesses sociais, porque do liberalismo nasceu a antítese marxista. O marxismo é inegavelmente um fruto espiritual do liberalismo, que, para realizar uma pretensa democracia, bradou o “slogan” contra o Estado autoritário. Da guerra do Estado autoritário surgiu a democracia liberal, que deu origem ao comunismo, cujo desfecho necessário, do ponto de vista teórico, será a ditadura do proletariado e, do ponto de vista prático, é a ditadura sangrenta de Stalin. Se a democracia fosse o liberalismo, teríamos de combatê-la, para assim combater o comunismo e o stalinismo. A verdade é, porém, diversa. O Estado liberal não conseguiu instaurar um verdadeiro regime democrático, pois serviu apenas a que uma classe, um partido, um reduzido grupo de indivíduos explorassem as vantagens do poder, em prejuízo da coletividade. O sufrágio universal, a representação direta, o voto secreto e proporcional, a duração rápida do mandato presidencial foram meios impróprios, senão funestos aos ideais democráticos.
A essência da democracia reside em que o Estado é constituído pela vontade daqueles que se acham submetidos ao mesmo Estado: reside na vontade do povo, como declara, logo de início, a atual Constituição. A afirmação de que o Estado é produzido pela vontade popular não implica a conclusão de que o sufrágio universal seja um sistema necessário de escolha, nem a de que o Presidente da República deva exercer o seu cargo por um curto período de tempo, não podendo ser reeleito. É absurdo tirar de uma noção meramente formal de democracia conclusões que a prática repele. Os meios pelos quais a vontade popular se pode fazer sentir têm de ser estabelecidos de acordo com a realidade social e não com os ensinamentos meramente dialéticos.
O liberalismo entendia que o chefe do Estado não devia ser reeleito, porque o conceito de democracia se opõe à permanência longa dos indivíduos nos postos de governo. Não há, porém, tal oposição. Desde que a vontade popular inequívoca é reeleger o chefe do Estado, essa reeleição é perfeitamente democrática e mais útil ao bem estar comum que a mudança necessária dos homens. O povo deve ser o juiz único da oportunidade de ser o presidente substituído. Foi o que visou a lei fundamental vigente, admitindo a possibilidade da reeleição do presidente.
Democracia não quer dizer governo transitório, não quer dizer governo mutável, para que se possam contentar todas as ambições políticas. A política liberal criou a ambição dos postos de governo, tema que só pode interessar aos indivíduos que aspiram ao poder. O governo devia ser distribuído sucessivamente a vários indivíduos para que cada um tivesse a sua vez. O governo desviou-se de sua finalidade, que é a realização do bem público, para servir apenas aos grupos que dele se apoderam periodicamente.
A democracia exige que os valores sejam renovados, quando assim convém à vontade popular. Um regime democrático não significa regime em que a renovação de valores se faça a prazo certo, em que estejam marcadas as fases para uns descerem do poder e permitirem que a ela subam outros. O bem estar geral, que é determinado pela vontade do povo, tem o primado de todos os valores sociais. Estes devem ser renovados apenas quando o bem estar geral o exigir.
Ainda aqui não posso deixar que passe em silêncio a questão relativa ao caráter democrático do novo regime.
Para alguns espíritos, ou ingênuos em relação aos fatores reais que influem efetivamente nos governos chamados democráticos, ou interessados em transformar os meios em fins, idealizando-os para o efeito de assegurar, pela reverência pública, a sua continuação, a democracia não se define pelos valores ou pelos fins, mas pelos meios, pelos processos, pela máquina, pela técnica ou pelos diversos expedientes mediante os quais os políticos fabricam a opinião ou elaboram os substitutos legais da vontade do povo ou da nação.
Ora, a máquina democrática não tem nenhuma relação com o ideal democrático. A máquina democrática pode produzir e tem, efetivamente, produzido exatamente o contrário da democracia ou do ideal democrático. Dadas as condições de um país, quanto mais se avoluma e aperfeiçoa a máquina democrática, tanto mais o governo se distancia do povo e mais remoto da realidade se torna o ideal democrático.
Não haverá ninguém de boa fé que dê como democrático um regime pelo simples fato de haver sido montada, segundo todas as regras, a máquina destinada a registar a vontade popular. Seja, porém, qual for a técnica ou a engenharia de um governo, este será realmente democrático se os valores que inspiram a sua ação decorrem do ideal democrático.
A experiência de todo o mundo, e a nossa em particular, vêm, precisamente, em abono da tese. Se há um ideal democrático, este há de resolver-se, em última análise, na abolição do privilégio, na igual oportunidade assegurada a todos, na utilização da capacidade, na difusão, a mais larga possível, dos bens materiais e morais com que os progressos da civilização e da cultura têm concorrido para tornar a vida humana mais agradável e melhor. Ora, seria pueril afirmar que a máquina ou os expedientes democráticos produzem, de si mesmos, esses resultados. O que se verifica, ao contrario, é que, quanto mais se aperfeiçoa e complica o maquinismo democrático, tanto mais se dificulta ao povo não somente a participação nos processos de governo, como a sua inteligibilidade ou a sua compreensão pela maioria do país. Entre o povo e o governo multiplicam-se os intermediários, indivíduos e grupos, profissionalmente especializados na manipulação de uma imensa e complexa máquina de governo, de cujo funcionamento resulta, precisamente, o contrário da promessa democrática. Ao invés de abolir os privilégios, estes crescem dia a dia, somados aos antigos novos privilégios, exatamente os que decorrem da mediação exercida por indivíduos e grupos, politicamente profissionalizados, entre o povo e o governo. Os privilégios, ameaçados pelo ideal democrático, assumem o comando da máquina democrática, procurando, assim, legitimar-se. Através da máquina, ao invés de se efetivar, o ideal democrático vê-se burlado, indefinidamente adiado, ou protelado.
A igual oportunidade para todos reduz-se apenas à igualdade do sufrágio. O boletim de voto é o direito do homem.
Os demais direitos, os direitos substantivos, o direito ao trabalho, à saúde, à segurança, ao bem estar, tudo isto se pressupõe adquirido se o cidadão adquiriu o direito de voto. A participação de todos nos bens da civilização e da cultura resume-se apenas num pedaço de papel, em que cada um pode escrever um nome. Depositado o boletim de voto, cessam as relações entre o cidadão e o Estado.
Em cem anos de tentativas e de experiências democráticas, multiplicaram-se os mecanismos destinados a tornar efetiva a democracia: o sufrágio universal, o sistema parlamentar, o voto secreto, o sufrágio feminino, a iniciativa, o “referendum”, a legislação direta, o “recal”, o princípio de rotatividade nos cargos eletivos e muitos outros expedientes, artifícios e combinações. Nenhum desses métodos, porém, deu como resultado a abolição de privilégios; nenhum deles assegurou a igual oportunidade e a utilização das capacidades, ou infundiu nos governos maior sentimento de honra, de dever ou de retidão, elementos essenciais do ideal democrático.
Pode-se afirmar, ao contrário, que a máquina, pelo seu volume e pela sua complexidade, alheou ainda mais o povo do governo, tornando mais obscuros, confusos e ininteligíveis os seus processos, aumentou as oportunidades de corrupção e de fraude, e fez com que a preocupação pela parte mecânica das instituições criasse a confusão entre os meios e o fim, reduzindo a democracia a um formalismo de processo, em que não havia lugar para o espírito ou o ideal democrático.
A máquina democrática não funciona espontaneamente. Para funcionar, torna-se necessária a existência de outras máquinas, que são os partidos e, nestes, os “comitês” de direção que, mediante agências eleitorais e uma imensa propaganda desencadeada no país por todos os instrumentos de comunicação, criam a atmosfera artificial de excitação e de emoção pública, graças à qual a máquina democrática traduz exatamente a vontade ou o sentimento que os interesses criados, incumbidos da sua direção, já lhe haviam comunicado. A máquina, ao invés de libertar o povo, facultando-lhe a expressão espontânea dos seus sentimentos, é, ao contrário, um instrumento que garante, contra os ímpetos ou os estímulos do ideal democrático, a continuação dos privilégios e dos interesses criados, que dispõem dos meios de ação indispensáveis para pôr em movimento o imenso mecanismo a que é indispensável uma quantidade de lubrificante e de combustível, cujo preço, nas chamadas grandes democracias, se orça em cifras fabulosas.
Estas verdades estão hoje na consciência pública. A máquina democrática já é, em toda parte, considerada com desconfiança pelo povo.
Este já sabe que o que se lhe pede para depositar na máquina já foi antecipadamente colocado no seu bojo. Trata-se de uma operação puramente formal, em que o ideal democrático entra apenas como meio de encantação, destinado a captar ou subtilizar a confiança pública.
O ideal democrático nada tem que ver com a máquina, os artifícios ou os expedientes da democracia formal. Para reivindicar o ideal democrático é, ao revés, necessário quebrar a máquina democrática, restituindo a liberdade e a espontaneidade aos movimentos de opinião. A inauguração de uma nova era revolucionária no mundo encontra a sua explicação precisamente no fato de haverem as instituições democráticas adquirido um caráter exclusivamente formal e mecânico, passando a servir, precisamente, fins opostos ao ideal democrático. As revoluções do século XX têm, quase todas, o mesmo sentido: romper as resistências da máquina democrática para dar livre curso ao ideal democrático. Este, o sentido de 10 de novembro.
A Constituição é de inspiração puramente democrática, presente em todos os seus capítulos, particularmente no que se refere à ordem econômica, à educação e cultura, às garantias e aos direitos individuais. O povo é a entidade constitucional suprema: tudo, na Constituição, se organiza e dispõe no sentido de assegurar-lhe a paz, o bem estar e a participação em todos os bens da civilização e da cultura. Para isto, era necessário, certamente, no tocante ao conceito da liberdade individual, reintegrá-lo na sistemática do Estado. Para o liberalismo, com efeito, a doutrina do Estado era uma doutrina do Estado sem Estado. Este tinha por fim exclusivo a proteção das pretensões ou, como se denominavam estas, das liberdades individuais. Os valores da vida nacional, valores materiais e morais, não tinham carta de direitos. No Estado-Nação, a par dos direitos individuais, são reconhecidos os direitos da nação ou do povo, que limitam os direitos ou as liberdades individuais, tomando o bem público como pressuposto obrigatório do governo. Esta, a democracia substantiva, oposta à democracia formal; este, o ideal democrático, contraposto à máquina democrática.
Certamente, a Constituição não podia deixar de abrir espaço à máquina democrática. Toda ação pressupõe instrumentos e meios que, na Constituição de 10 de novembro, são os mais adequados aos nossos costumes, às particularidades do nosso meio, às nossas tradições e à nossa experiência política. Se, apesar disto, o ideal democrático não se realizar entre nós em medida maior de que no passado, o mal não estará no regime, mas nos homens incumbidos de operá-lo. Estou certo, porém, de que, ainda admitindo defeitos no seu funcionamento, as novas instituições democráticas do Brasil, mais do que as anteriores, assegurarão garantias efetivas à realização do bem público. E a democracia, como qualquer forma de governo, só pode ser julgada pela soma de bem público que seja capaz de produzir. Não há outro “test” ou meio de verificação da bondade ou da conveniência de uma forma de governo. Os frutos dirão da árvore.
Processo da eleição presidencial
— Cabendo ao Presidente da República tantos e tão extensos poderes, não seria mais justificável que fosse sempre eleito pelo sufrágio direto?
— Não há correlação alguma entre as atribuições conferidas ao presidente e o método adotado para a sua eleição. Mas, se fôssemos levar em conta, na escolha desse processo, a amplitude e importância das funções presidenciais, seríamos induzidos a encontrar mais um argumento em favor da eleição indireta, nos termos estipulados pelo art. 82 da Constituição. Realmente, a extensão, o alcance e a significação das atribuições e prerrogativas conferidas ao Presidente no Estado Novo reclamam que a escolha do cidadão a ser investido de tão amplos poderes seja feita em uma ambiência de serenidade e através de processos que coloquem a eleição nas mãos de elementos capazes de proceder com um critério elevado e acima da influência das paixões demagógicas.
O processo de eleição do Presidente, prescrito pela Constituição, corresponde a esses aspectos essenciais do caso. Além disso, o sistema de eleição indireta afasta os gravíssimos inconvenientes das agitações periodicamente determinadas pelas campanhas inerentes ao método de eleição direta. Temos uma experiência suficientemente dolorosa dos efeitos nefastos que as crises determinadas pelas sucessões presidenciais de outrora desencadeavam na administração pública e na vida econômica do país. Diante dessas lições do passado, teria sido inadmissível e imperdoável persistir em um processo eleitoral tão inconveniente aos interesses nacionais. Assim, muito acertadamente, a Constituição só deixou subsistir o processo de eleição direta do Presidente para o caso previsto no parágrafo único do art. 84, isto é, quando o Presidente indicar um candidato em oposição ao do colégio eleitoral. A questão, nessa hipótese, deverá ser resolvida pelo pronunciamento plebiscitário da Nação.
Responsabilidade do chefe de Estado
— Aceitando o conceito que v. excia. expôs de democracia, não lhe parece que a Constituição de l0 de novembro confere ao Executivo um pressuposto de infalibilidade, difícil de ser contrariado?
— É desnecessário insistir em que o Estado brasileiro, sendo democrático, é também autoritário, cabendo ao Presidente da República a autoridade suprema, exercida em nome do povo e no interesse do seu bem estar, da sua honra, da sua independência e da sua prosperidade. A primazia dada ao Presidente não o torna infalível nem irresponsável. O art. 74 enumera várias atribuições que ele desempenha com o concurso do Poder Legislativo. Cabe-lhe comunicar à Câmara dos Deputados as medidas tomadas durante o estado de guerra ou o estado de emergência. Há nomeações para cargos públicos que estão sujeitas à aprovação do Conselho Federal. Esses exemplos mostram que a Constituição não quis atribuir ao Presidente poderes discricionários que só a ele pertencessem e não estivessem sujeitos a limitações. O exercício desses poderes também não é infalível, nem coloca o Presidente acima de qualquer exame. Ao invés disto, cabe-lhe responsabilidade criminal pelos atos, definidos em lei, que atentarem contra a existência da União, a Constituição, o livre exercício dos poderes políticos, a probidade administrativa, a guarda e o emprego dos dinheiros públicos e a execução das decisões judiciárias. A primazia concedida ao Presidente da República, tornando possível o melhor desempenho das funções de governo, não isenta os seus atos do exame, da crítica e da punição.
Limites da irretroatividade das leis
— A omissão do dispositivo das Constituições de 91 e de 34, que vedava as leis retroativas, significa a possibilidade de atingirem as leis ordinárias quaisquer direitos adquiridos na conformidade de leis anteriores?
— A supressão, no texto constitucional, do princípio da irretroatividade das leis não significa a adoção do princípio contrário, isto é, da retroatividade. Não é na Constituição, mas na lei civil, que esse princípio deve figurar. A não retroatividade é tão somente uma norma de interpretação, uma regra de hermenêutica, e por ela se entende que o intérprete, ou o juiz, não pode aplicar a lei nova às relações jurídicas já consumadas na vigência da lei antiga. Não deve, porém, esse princípio constituir uma limitação ao Poder Legislativo; quando circunstâncias especiais exigirem a revisão das relações jurídicas acabadas, o legislador não pode ficar privado da faculdade de promulgar leis retroativas, pois o Estado, como guarda supremo do interesse coletivo, não deve atar as próprias mãos pelo receio de, em certas contingências, ter que ferir ou contrariar direitos individuais.
A não retroatividade das leis, postulada como proibição ao Poder Legislativo, não passava de um exagero do individualismo jurídico e, sobretudo, do individualismo econômico, que reclamavam rigorosa neutralidade do Estado, no domínio do comércio jurídico. Mas o Estado, ante as novas condições de vida do mundo, não pode continuar a ser um simples espectador que se limite a assistir às lutas da competição individual. A indiferença que lhe impusera o liberalismo vinha acarretando a escravização dos fracos pelos fortes. Assim o Estado, para garantir o bem geral, passou a influir diretamente nas relações dos indivíduos entre si, principalmente no domínio econômico. A economia, de campo interdito à ação do Estado; e entregue ao livre jogo da iniciativa privada e ao fluxo e refluxo da oferta e da procura, passou a ser um terreno em que o Estado atua, efetivamente, como propulsor e, principalmente, regulador dos interesses e das influências individuais. Dessa interferência, cada vez maior, no domínio das relações econômicas, resulta a necessidade do Estado, em circunstâncias especialíssimas, poder decretar leis retroativas. Só pela alteração das relações econômicas já consumadas, pode o Poder Público, em dada emergência, sanar uma situação prejudicial à economia da nação, ou ruinosa para uma grande coletividade. O Estado faltaria ao seu dever social se, em tais circunstâncias, quisesse curvar-se ante o mito da intangibilidade das prerrogativas individuais, pois tais prerrogativas só são legitimas e dignas de proteção quando a sua defesa não contraria os interesses supremos da nação. O indivíduo soberano existe apenas no preconceito individualista. Na realidade, o indivíduo é um membro da nação e só merece o apoio do Estado quando o seu interesse não colide com o da comunhão nacional, para a defesa de cujos interesses, honra e independência, existe o Estado.
Não é em reverência ao mito individualista que o Estado deixa de postular o princípio da retroatividade e mantém, como regra interpretava, o da não retroatividade das leis. E que esse princípio é indispensável à segurança das relações jurídicas e, portanto, da sociedade, cuja organização se baseia no direito.
Só excepcionalmente o Estado tem necessidade, visando o bem coletivo, de rever e modificar as relações jurídicas individuais já consumadas, e quando uma lei, decretada com efeito retroativo, não se inspira no bem público é o próprio Estado quem sofre suas funestas conseqüências. Se a retroatividade fosse proclamada como regra, o direito deixaria de ser um fator de organização social, para tornar-se elemento de incerteza, confusão e anarquia. O mundo jurídico, que é essencialmente o mundo da segurança e da ordem, baseia-se, além do postulado da justiça, nos postulados da certeza e da duração.
No domínio do direito criminal, onde as prerrogativas individuais poderiam correr maior perigo, a Constituição conservou o princípio tradicional de que “as penas estabelecidas ou agravadas na lei nova não se aplicam aos fatos anteriores” (art. 122, 13). Aos crimes cometidos anteriormente, a lei nova só se aplica quando beneficiar o réu, pois, não havendo ofensa a nenhum direito adquirido, não se deve sequer falar de efeitos retroativos.
A Constituição de 10 de novembro situou, portanto, o problema da irretroatividade das leis dentro das suas justas fronteiras, rigorosamente de acordo com as conquistas da ciência jurídica e as condições de vida do mundo contemporâneo.
Competência do Conselho da Economia Nacional
— A competência do Conselho da Economia Nacional, constante do art. 61, apesar de se não dizer “privativa”, exclui a legislação votada pelo Parlamento sobre essas matérias? Nos casos das letras b e c, maxime em face do art. 62, e apesar do que dispõe o art. 63, parece que se trata de verdadeira legislação emanada do Conselho. Essa restrição da competência do Parlamento é justificável? Não seria preferível que, em todos os casos, o Conselho tivesse função meramente consultiva? E quanto à “organização corporativa da economia nacional” (letra a), qual é a índole — legislativa ou consultiva — da sua atribuição?
— A natureza e as finalidades do Conselho da Economia Nacional, definidas no art. 61, envolvem o corolário de que toda legislação atinente às matérias especificadas, isto é, às questões de ordem econômica e à organização sindical, deve ser elaborada com a cooperação do Conselho. Essa intervenção do órgão representativo das forças econômicas do país é assunto de importância básica na estrutura e no funcionamento do Estado Novo e está direta e indissoluvelmente ligada ao sentido do regime estabelecido pela Constituição.
As vantagens de tal cooperação são tão grandes, do ponto de vista da garantia de soluções apropriadas a inúmeros problemas de ordem técnica, que não se pode contestar a utilidade e o alcance do que foi nessa matéria preceituado pelo novo estatuto nacional. Por toda parte se reconhece, hoje, que as assembléias políticas não têm atmosfera mental, nem possuem elementos de competência especializada para lidar com os assuntos daquela natureza. As funções atribuídas pela Constituição ao Conselho da Economia Nacional vêm assegurar, no Estado Novo, a existência de um aparelho especialmente adaptado a orientar a análise e a solução de problemas que são da maior relevância para a Nação e que não poderiam ser resolvidos satisfatoriamente sem o concurso de aptidões ou competências especiais.
As atribuições conferidas ao Conselho, pelas letras b e c do art. 61, referem-se a assuntos em relação aos quais a competência especializada dos seus órgãos tem, forçosamente, de desempenhar imprescindível papel de orientação. Entretanto, as deliberações tomadas pelo Conselho em tais matérias só se tornarão obrigatórias quando tiverem aprovação do Presidente da República.
Dada a necessária amplitude que a Constituição conferiu à atribuição regulamentar do Poder Executivo (art. 11), e que adiante justifico em resposta a outro quesito, as normas de competência do Conselho, a que se referem as citadas letras b e c do art. 61, recaem no domínio do regulamento e, portanto, a aprovação do Presidente da República é suficiente para legitimar a sua obrigatoriedade e salvaguardar os interesses coletivos. Por conseguinte, em relação a essas matérias, o Conselho não exerce nenhuma função de caráter legislativo, como insinua a questão a que respondo.
O dispositivo do art. 63 prevê o desenvolvimento lógico do Estado Novo, no sentido de uma ampliação e mais clara definição da sua fisionomia corporativa. Entretanto, o legislador constituinte acertadamente deixou que as coisas evoluíssem naturalmente nesse terreno, a fim de que, quando a prática das instituições tiver reunido suficientes elementos da experiência, se possam outorgar ao Conselho, mediante plebiscito. atribuições legislativas.
As considerações formuladas na primeira parte da resposta dada a este quesito envolvem replica à pergunta relativa à conveniência de restringir as funções do Conselho a uma finalidade meramente consultiva, O sentido do Estado Novo implica a intervenção direta das forças associadas à produção e à distribuição da riqueza, na elaboração das leis relativas à matéria econômica. Assim, na marcha natural do desenvolvimento do regime, as funções inicialmente consultivas do Conselho tenderão a tomar a forma de coparticipação na elaboração das leis e medidas incidentes no setor correspondente à natureza especial do Conselho.
Quanto ao dispositivo da letra a do art. 61, não é possível definir imediatamente as configurações especiais que serão dadas à organização corporativa da economia nacional. A conquista realizada concretiza-se nos termos daquele dispositivo. O Estado brasileiro organizará a economia nacional em linhas corporativas. A determinação das fórmulas peculiares dessa organização depende de investigação dos problemas em apreço, do estudo minucioso dos múltiplos aspectos da vida econômica da Nação e de tudo mais que se for verificando na aplicação de medidas tendentes à realização do objetivo constitucional. O moderno Estado corporativo não é uma criação artificial, feita de acordo com postulados apriorísticos. O seu desenvolvimento prossegue segundo as diretrizes de um processo evolutivo determinado pelas realidades econômicas e sociais. Assim acontecerá no caso brasileiro.
Legislação direta e legislação delegada
— Não lhe parece que ficou demasiadamente restringida, senão praticamente anulada, a competência legislativa do Parlamento desde que, nos termos do art. 11, a lei regula, de modo geral, a matéria que é seu objeto, dispondo somente “sobre a substância e os princípios”; nos termos dos arts. 12 e 14, o Presidente pode ser autorizado a expedir decretos-lei pelo Parlamento, e, desde logo, está autorizado a fazê-lo em muitos casos e sobre matérias da maior importância; e, nos termos do art. 61, o Conselho da Economia também legisla sobre certas matérias?
— Tudo que se estipula nos artigos constitucionais citados no quesito corresponde ao conceito moderno da legislação, derivado da natureza especial dos problemas com que o Estado tem de lidar, na época atual. A grande maioria das leis requeridas pelas necessidades das sociedades contemporâneas versam sobre matérias que envolvem aspectos técnicos freqüentemente de caráter muito especial. Em tais circunstâncias, tem-se verificado por toda parte que as assembléias políticas são incapazes de legislar eficientemente sobre tais assuntos. Nos países onde se procura conservar as exterioridades do estilo democratico-liberal do Estado, recorre-se a um expediente para ladear a dificuldade. Os projetos de leis são elaborados de fato pelo Executivo, que, por intermédio das comissões parlamentares, os submete ao plenário das assembléias, cujas maiorias os aprovam em votação de confiança política. No Novo Estado brasileiro adotou-se outro método mais racional e, por que não dizê-lo, mais leal e mais digno também. O Parlamento vota a lei na qual se definem a substância e os princípios gerais que devem vigorar na matéria. Dentro da órbita assim traçada, o Executivo exerce a sua função, aplicando na regulamentação os princípios gerais adotados na lei. Desse modo, o Parlamento desempenhará o papel que lhe cabe, estipulando as bases fundamentais da medida, a que o Executivo dará forma prática na regulamentação. Não é preciso aduzir argumentos para mostrar que desse processo de legislar resultarão apenas vantagens do ponto de vista dos interesses nacionais, que a lei tem em vista acautelar.
Os dispositivos dos arts. 12 e 14 de modo algum diminuem a esfera de atividade normal do Parlamento. A autorização dada ao Presidente para expedir decretos-lei, nos termos do art. 12, não concretiza nenhuma inovação surpreendente: a delegação da função legislativa apresenta-se, em toda parte, como conseqüência necessária da incapacidade do Parlamento para legislar sobre certas matérias. Em nossa primeira República, a delegação legislativa foi praxe muito seguida, e deu excelentes resultados, a despeito da inútil contenda doutrinária que em torno do assunto se travara. Em outros países, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, a delegação, pelo Congresso, de atribuições legislativas constitui prática tão salutar que não se cogita de renunciar a ela. Entre nós, a proibição expressa, contida no art. 3.° da Constituição de 34, não passava de uma aberração, que muito contribuiu para a espantosa esterilidade do segundo Congresso Republicano.
De acordo com o espírito do novo regime, que deu ao Presidente um importante papel na tarefa legislativa, é perfeitamente lógico que, em certos casos, o Parlamento o autorize a expedir decretos-lei, nos limites das próprias autorizações. Aliás, a delegação do poder legislativo não é novidade que a Constituição de 10 de novembro haja inventado. Trata-se de uma prática universal. Nos países de regime representativo, ainda naqueles de instituições mais liberais, o processo de delegação funciona normalmente. Se o que se ensinasse nas nossas escolas fosse a prática e não apenas a teoria das instituições políticas, não haveria necessidade de demonstrar que em nenhum país do mundo, seja qual for a sua forma de governo, a legislação é obra exclusiva do Parlamento. A legislação delegada já suplanta em todos eles, pelo vulto e pela importância das matérias, a legislação direta. Comparando a legislação delegada e a legislação direta, na Inglaterra, e estabelecendo entre elas a relação de filho e pai, Cecil Carr, no seu livro de 1921, já escrevia que “in mere bulk the child now dwarfs the parent”, isto é, o filho já suplanta o pai em volume. Em 1920, ao passo que figuravam, no Statute book, apenas 82 atos do Parlamento, o número de leis editadas pelo governo, mediante delegação, era dez vezes maior. O volume anual, correspondente a 1920, de leis votadas pelo Parlamento, contém 600 páginas; os dois volumes, em que para o mesmo ano se acham reunidas, as estatutary rules e orders in Council (legislacão delegada) somam cerca de 3.000 páginas.
Em 1904, a legislação delegada, em vigor na Inglaterra, ocupava 13 volumes. Em 1927, de 43 atos votados pelo Parlamento, 26 continham delegação do Poder Legislativo. “A delegação do poder legislativo é hoje um dos lugares comuns da vida política na Inglaterra”, diz Robson, no seu livro de 1923, intitulado “Justice and Administrative Law”.
Nos Estados Unidos, a legislação delegada é uma prática normal de governo.
James Hart, no livro que dedicou ao assunto, em 1925, diz que, da presidência de Washington à de Coolidge, o Presidente expediu atos de. legislação delegada que regulavam não somente deveres de funcionários, mas também interesses de particulares. E acrescenta: “Desde que o Congresso, em 1917-18, investiu o Presidente Wilson de poderes extraordinários, envolvendo o exercício da mais larga discrição, tanto os técnicos como o público em geral começaram a verificar que não passa de uma ficção a afirmativa de que o Presidente não pode legislar”. Segundo Hart, a história da delegação legislativa, nos Estados Unidos, pode dividir-se em seis períodos: 1789-1815; 18151861; 1861-1875; 1876-1917; 1917-1918; e, finalmente, o período que começa em 1919 e no qual se acentua, de maneira excepcional, a tendência ao crescimento, em volume e importância, da legislação delegada.
Na introdução do seu livro sobre “As funções legislativas das autoridades administrativas”, Comer declara: “O principal objeto desde estudo é a prática seguida pelo Congresso de transferir larga parte das suas funções ao Executivo”. Essa prática, ao invés de apresentar sinais de retrocesso ou declínio, tende a progredir, alargando-se, dia a dia, o campo da legislação delegada, de que os códigos Roosevelt representam uma aplicação em grande estilo.
Sendo, assim, a legislação delegada uma prática comum ou universal, deve haver razões muito poderosas que a justifiquem. Estas razões não são razões de advogado. Basta lançar as vistas sobre o crescimento do governo, nestes últimos cinqüenta anos, a extensão da área em que exerce o seu poder de iniciativa e de controle, a massa e a complexidade das matérias que é chamado a regular. O Estado deixou de ser o guarda-noturno, cuja única função era velar sobre o sono dos particulares, garantindo o sossego público, para assumir funções de criação e de controle em todos os domínios da atividade humana. A legislação não se limita mais à simples definição de direitos individuais: é uma enorme técnica de controle da vida nacional, em todas as suas manifestações. Todos os processos,. todas as técnicas surgidas da revolução industrial, cujo ciclo ainda não se encerrou, constituem outros tantos problemas legislativos, nos quais, ao lado do aspecto estritamente técnico, se encontra o aspecto da sua influência social ou da sua utilização em benefício do bem estar público. A educação, a saúde pública,, o comércio, a indústria, as novas técnicas de comunicação, os serviços públicos, a massa enorme de bens materiais e morais que constituem a nossa herança de civilização e de cultura, tudo isto constitui um imenso campo que, ao invés de vedado à ação do governo, como na concepção individualista do Estado Ele policia, exige, a todo momento, a intervenção do governo ou a sua ação direta. A intervenção ou a ação do governo pressupõe, porém, num Estado de direito, a legislação.
Ora, o Parlamento não dispõe de tempo, nem a sua organização, nem os seus processos de trabalho são adequados a uma tarefa para cujo desempenho se exigem condições especiais, que não podem encontrar-se reunidas em um corpo político, cujo recrutamento se faz de pontos de vista inteiramente estranhos à competência que lhe é delegada pelas Constituições. Só a ação dá conhecimento direto da matéria. Ao Executivo, que está em contato com a realidade, é que incumbe completar, por aproximações, retificações e prolongamentos, o esquema ou os lineamentos gerais traçados pelo Parlamento e dentro de cujos amplos limites se encontra definida, não a técnica apropriada à regulamentação da matéria, para cuja determinação faltam ao Parlamento os elementos essenciais, mas a política ou a orientação geral a ser seguida nessa regulamentação.
A competência natural do Parlamento é a política legislativa; a competência natural do Executivo, a técnica legislativa. Isto é hoje um lugar comum não só na ciência política, como na prática das instituições representativas. Não se trata de uma fórmula cujo conhecimento constitua privilégio de pequeno número de estudiosos. É, ao contrario, uma aquisição definitiva da experiência pública, está no domínio público, e o homem da rua é, nessa matéria, tão competente quanto o técnico de direito constitucional, e sabe, tanto ou mais do que este, sujeito muitas vezes aos preconceitos teóricos, que lhe obscurecem a visão da realidade, que não passa de mera ficção ou de anacronismo ideológico a tese de que a função legislativa cabe exclusivamente ao Parlamento.
Vendo cem anos adiante do seu tempo, Marshal, no caso Waiman v. Southard, ao discutir a matéria da delegação legislativa, já procurava fixar a extensão da competência indelegável do Parlamento, e definia, em termos precisos, a função especificamente legislativa do Congresso como reduzida aos “princípios gerais”, aos “lineamentos gerais” ou “lineamentos importantes”, isto é, o que se pode denominar de política legislativa. São, precisamente, os termos da Constituição de 10 de novembro:
“A lei, quando de iniciativa do Parlamento, limitar-se-á a regular, de modo geral, dispondo apenas sobre a substância e os princípios, a matéria que constitui o seu objeto”.
A opinião, neste ponto, é hoje pacífica e com ela se declaram conformes ainda os partidários mais radicais e extremados das instituições liberais. Basta referir aqui o que Harold Laski, para quem a liberdade deve necessariamente comportar um halo de anarquia (“The Dangers of Obedience”), diz, a respeito, em livro recente, repetindo, aliás, o que já escrevera no tratado, hoje clássico, sobre as funções e a máquina do governo (“Gramar of politics”):
“Não é paradoxal a afirmação de que uma assembléia legislativa é, por sua própria natureza, inadequada à legislação direta, porque o conjunto heterogêneo de pessoas que forçosamente a constituem é demasiado númeroso e incoerente para fazer outra coisa senão aceitar ou recusar as propostas que lhe faça o poder Executivo. Esta a razão pela qual, no Estado positivo, a iniciativa de legislação tende a transferir-se ao Gabinete.
“Quanto mais completamente possa o Parlamento moderno libertar-se da necessidade de fiscalizar estreitamente os detalhes específicos da legislação, tanto mais probabilidades terá de realizar as funções que lhe são efetivamente adequadas. Quinhentas ou seiscentas pessoas podem discutir com propriedade a conveniência da nacionalização da propriedade da terra; não, porém, os detalhes exatos do processo pelo qual haja de realizar-se a nacionalização. A necessidade de assistência técnica, seja quanto às pessoas, seja quanto aos dados, não se encontra à disposição de uma assembléia legislativa. Eis o motivo por que a legislação delegada tem maiores probabilidades de êxito do que a legislação em que o Parlamento pretende formular por si mesmo todos e cada um dos tópicos da medida proposta. Este ultimo método significa dilação, inflexibilidade, incoerência, falta de coordenação; quanto mais se limite a função do Parlamento à discussão dos princípio gerais, tanto mais satisfatório será o resultado do processo legislativo. O Parlamento, dada a sua natureza, não pode pretender outra função que não seja a de um órgão crítico de registro. Os que ainda alimentam fé na restauração da intensidade do controle parlamentar clássico desconhecem totalmente as necessidades inerentes ao Estado moderno”.
Estas palavras podem servir de comentário à definição da competência do Parlamento, feita pela Constituição de 10 de novembro.
As objeções à delegação do poder Legislativo são de ordem puramente teórica ou ideológica. Fundam-se no princípio da divisão dos poderes, considerado tão fundamental em ciência política, como o postulado de Euclides em Geometria. Os ideólogos da divisão dos poderes querem que exista uma mecânica racional do governo, a qual poderia ser deduzida de dois ou três postulados fundamentais. Por este processo obtém-se, efetivamente, a racionalização dos processos políticos, mas uma racionalização realizada no vazio ou à custa da substância concreta e histórica, ou da experiência real do governo. Ora, o governo existe realmente; a sua existência é histórica e concreta, e não da categoria da existência puramente lógica dos entes de razão ou das nebulosas verbais que os filósofos costumam propor como substitutos às verificações mais ou menos amargas da experiência.
A distribuição de funções entre os poderes não obedece a uma lei natural e eterna. É uma operação que obedece a influências de ordem contingente e histórica. O Parlamento não tem um direito natural à legislação. Ele legisla na medida das suas forças e da sua competência. A divisão dos poderes é um expediente, como todo expediente, da ordem do empírico e não do racional ou do absoluto. É apenas um modelo mecânico, destinado a representar esquematicamente, ou no plano linear, o que, na realidade, é da ordem da plenitude e do volume.
A mecânica política não é a mecânica de Newton. A massa dos poderes gravita para os órgãos do governo segundo razões de conveniência, de utilidade e de adequação, que não podem cifrar-se em fórmulas algébricas. Cada época tem a sua divisão de poderes, e a lei do poder é, em política, a da capacidade para exercê-lo. Por maiores que sejam os poderes atribuídos a um órgão, ele só os exercerá na medida da sua força ou da sua capacidade. E se o resíduo que ele deixa é de poderes úteis ou necessários, os ideólogos podem estar certos de que outro órgão se apresentará para exercê-los. Uma lei inflexível da política é a que não permite a existência de vazios no poder: poder vago, poder ocupado.
Se o Parlamento, por motivos que não está na sua alçada remover, não pode legislar sobre determinadas matérias com a urgência, a minúcia, a propriedade e a técnica que elas requerem, é necessário que outro poder tome a seu cargo a tarefa, cuja realização o bem público exige.
Quanto aos decretos-lei, previstos no art. 14 da Constituição, acham-se, também, em absoluta conformidade com as atribuições conferidas ao chefe da Nação, e não infringem as que são dadas ao Parlamento, tanto mais quanto, neles, conforme o texto do citado art. 14, o Presidente é obrigado a cingir-se aos dispositivos constitucionais e aos limites das dotações orçamentarias.
O critério de atribuir ao Presidente da República a faculdade de expedir, nos limites das dotações orçamentárias, decretos-lei sobre a organização administrativa, o comando geral e a organização das forças armadas, é dos mais justificáveis. A administração tem por chefe o Presidente: a ele cabe a responsabilidade pela ação administrativa do governo. Da eficiência do instrumento destinado à ação executiva, ninguém pode ser melhor juiz do que o chefe do Executivo. Atribuir-lhe a responsabilidade pelo rendimento da máquina que ele não possa remodelar de acordo com as exigências da ação é, evidentemente, um contra-senso. O vício do regime liberal consistia em dar o poder a quem não tinha a responsabilidade. A Constituição de 10 de novembro, obra de senso comum, associa à responsabilidade o poder. Nisto, ela não faz mais do que seguir o critério de acordo com o qual os homens prudentes administram os seus negócios.
Composição da Câmara dos Deputados
— A limitação do número de deputados a l0 no máximo e a 3 no mínimo, por Estado, não desatende à diversidade de população dos vários Estados? Isto é — variando, em escala muito mais extensa, a população dos Estados, essa limitação não acarretará injustamente a igualdade de representação de Estados de população muito desigual?
— Sua pergunta refere-se à disposição contida no art. 48 da Constituição. Devo observar que esse dispositivo obedeceu à preocupação política de evitar um parlamento númeroso. A experiência demonstrou que as assembléias são tanto menos fecundas e úteis quanto maior é o número de seus membros.
O Congresso dissolvido deu-nos o triste espetáculo de sessões quase desertas ou perturbadas pela desordem, apesar, ou por causa, do grande número de congressistas.
Procurando organizar-se uma assembléia que tornasse, pelo número reduzido de representantes, mais eficiente o desempenho da função legislativa, manteve-se o princípio da representação proporcional ao número de habitantes de cada Estado. Objeta-se, porém, que, estabelecido o máximo de 10 e o mínimo de 3 deputados por Estado, ficam em situação de igualdade representações de Estados cuja população é muito desigual. Cumpre notar, entretanto, que a representação na Câmara não é uma representação dos Estados, mas a representação do país. A eleição por Estado é apenas um processo de técnica eleitoral. A Câmara representa indivisamente a Nação. Para conciliar a necessidade de organizar-se uma assembléia reduzida com a de assegurar aos Estados menos populosos uma participação adequada na formação da representação nacional, foram fixados os limites mencionados. Numa Câmara isenta de pensamentos estreitos e regionalistas, e cujo único interesse seja a prosperidade nacional, sem o cuidado das fronteiras estaduais, a situação de igualdade a que a pergunta alude corresponde perfeitamente aos interesses do país.
As prerrogativas dos Estados
— As prerrogativas dos Estados não ficam gravemente diminuídas em virtude da possibilidade do desmembramento de parte deles para constituírem territórios federais (art. 6.°) e pela facilitação da intervenção decretada pelo Presidente da República (art. 9.°)?
— A este quesito só se pode dar uma resposta adequada, tendo-se em vista o sentido inconfundivelmente nacionalista da Constituição e do Estado por ela organizado. Todas as prerrogativas das unidades federativas, no regime, acham-se subordinadas ao ritmo da idéia nacional. O conceito da autonomia não promana do pensamento de aparelhar os Estados para a defesa de interesses particularistas, em oposição aos imperativos supremos do bem da nação. O sistema federal é mantido, porque, dadas as condições peculiares do Brasil, o legislador constituinte achou que a autonomia assegurada aos Estados redunda em vantagem para a nação e em maior garantia do seu progresso.
Destas considerações, inspiradas na letra e no espírito da Constituição, decorre a necessidade do poder nacional dispor de meios para alterar a situação dos Estados, inclusive no tocante ao seu território, sempre que injunções de ordem nacional aconselharem tais alterações. Não é difícil conceber situações nas quais imperiosas razões de segurança nacional imponham a formação de territórios nacionais, constituídos por áreas atualmente incluídas nos Estados. Foi um ato de previdência do legislador constituinte a estipulação constante do art. 6o. Nem me parece razoável que possa ocorrer a alguém qualquer dúvida sobre a procedência e a legitimidade do que este dispõe. A integridade dos Estados é uma conseqüência da integridade da nação. Se a integridade desta impõe sacrifício territorial aos Estados, tal sacrifício é feito em beneficio dos próprios Estados. A objeção levantada pela sua pergunta dá a entender que, no seu conceito, a União é uma entidade acessória, quando, evidentemente, deve caber-lhe o primado político e moral. A nação antes e acima de tudo, mesmo porque sem ela não teria sentido a existência dos Estados.
O art. 9.°, conferindo ao Presidente da República a atribuição de decretar a intervenção nos Estados, não divergiu do sentido do novo regime, em relação à função presidencial. O Presidente da República é o centro da nova organização estatal. Nele concentram-se as atribuições atinentes à garantia da unidade nacional, da segurança do Estado e da estabilidade da ordem social. Em tais circunstâncias, deve caber logicamente ao chefe na Nação julgar da oportunidade da intervenção. Essa intervenção é, no mesmo art. 9o., limitada a certos casos e não pode ser, portanto, matéria de decisão arbitrária do Presidente. Como se vê, não há, na intervenção prevista no art. 9o., diminuição ou ameaça à autonomia constitucionalmente assegurada às unidades federativas.
Função pública da Imprensa
— O poder que v. excia. reconhece à Imprensa de formar a opinião pública, que decorre necessariamente da confiança oriunda da independência, não estará anulado pela subordinação que por força acarreta uma função pública?
— A admissão da censura prévia à Imprensa, instituída pela lei ordinária, com caráter permanente, corresponde a uma necessidade do regime?
— Na entrevista ao “Correio da Manhã”, dei, em poucas linhas, a minha opinião sobre o problema da Imprensa. A Imprensa está ali caraterizada pelos traços essenciais que definem o seu papel como instrumento de formação da opinião pública e como empresa industrial e comercial. Entre as duas funções existe, certamente, uma incompatibilidade manifesta. Como empresa de indústria e de comércio, a Imprensa há de estar sujeita às influências ou aos motivos que determinam ou dirigem toda empresa industrial ou comercial. Como órgão da opinião pública, a Imprensa dispõe, nas democracias, de verdadeiros poderes de governo, que não podem ser exercidos senão sob a influência de motivos desinteressados, ou que se inspirem tão somente na consideração do bem público.
Ora, a Imprensa, dominada economicamente por interesses privados, coloca-se fatalmente ao serviço desses interesses na sua função de influir sobre a opinião pública, porque o que aqueles interesses têm em vista, através da Imprensa, é, precisamente, a sua apresentação sob a forma ou a aparência do interesse público. Não é que eu atribua à Imprensa ou aos homens de Imprensa o propósito deliberado de transfigurar em interesses públicos os interesses particulares que alimentam a publicidade jornalística: o fato decorre da natureza econômica da empresa.
A verdade é que a Imprensa é uma agencia pública ou um poder público controlado exclusivamente pelo interesse privado. Ao invés de estar sujeita a um controle público, a Imprensa controla não só o governo como o público em geral.
O postulado democrático é que a opinião pública é a sanção do poder público.
Que é, porém, a opinião pública? Como se forma e se orienta? Certamente, a opinião pública não é de geração espontânea, nem o resultado da livre atividade da razão pura ou a soma de opiniões de vários espíritos racionais, funcionando num meio neutro ou indiferente.
Esta é a opinião pública dos filósofos, o mito racionalista criado pelo espírito especulativo da filosofia do século XVIII, a que faltava a experiência dos fenômenos de base das instituições democráticas e para a qual a opinião pública do século XX constituiria uma novidade tão surpreendente quanto as recentes inovações na técnica do transporte e da comunicação. Nós sabemos, porém, que a opinião pública não é o anjo do racionalismo político do século XVIII, gerado e alimentado no éter da razão pura. Atrás da opinião pública estão os engenhos mecânicos que a fabricam em grande escala. Os poderosos instrumentos de propaganda, todos eles de propriedade privada, podem a qualquer momento soprar o vento da opinião pública no sentido dos interesses que os controlam. A opinião pública tende, cada vez mais, a tornar-se a expressão das opiniões ou dos interesses de um pequeno número de personalidades, de agências de publicidade ou de grupos mais ou menos númerosos de empresas de indústria e de comércio.
Eis como a opinião pública, instância final do governo, pode ser dirigida precisamente no sentido de obstruir a ação do governo, na sua função de promover e defender o interesse público contra os interesses criados, com ele incompatíveis.
O problema cifra-se, portanto, em afirmar a autoridade pública contra aqueles que procuram usurpar o maior dos poderes políticos para fins estranhos ou contrários ao interesse público. Os governos totalitários resolvem o problema, englobando a Imprensa no governo. As chamadas democracias liberais nada fazem, deixando, assim, crescer, dia a dia, a massa de obstruções e de resistências ao governo, que o reduzem a uma máquina de ineficiência e de perplexidade. Elas continuam a interpretar o presente em termos do passado, as realidades em termos da razão pura, traduzindo os fatos em mitos, as coisas concretas em abstrações, de poderes reais e efetivos em entidades neutras e incorpóreas. Elas persistem aplicando os dogmas da liberdade de pensamento e de expressão nos mesmos termos em que foram formuladas por uma época que não conhecia o cinema, o “broadcasting”, a Imprensa de tostão, toda a aparelhagem técnica que a revolução industrial colocou à disposição dos particulares para verter em termos de interesse público os seus próprios interesses.
Dadas as condições do mundo contemporâneo, as suas condições de vida e o seu imenso arsenal de técnica da ação pública, é indispensável reinterpretar em termos do presente uma doutrina formulada para outras condições de vida e, o que mais importa, formulada por filósofos, o que quer dizer avant la letre, ou anteriormente a qualquer experiência.
Aliás, nas próprias democracias liberais, o problema do controle público está em ordem do dia: o cinema e o “broadcasting” já se encontram no regime de controle público, em muitas das maiores democracias do mundo.
Ninguém poderá negar que os instrumentos de propaganda e, portanto, de formação da opinião pública, levantam um grave problema de governo. É, estou de acordo, um problema complexo e delicado, que deve ser pesado com serenidade e objetividade, mas nem por isto excluído de uma consideração urgente e vigorosa. Nem o exagero dos regimes totalitários, nem a criminosa negligência dos regimes puramente liberais. O nosso dever, do governo e da Imprensa, é procurar a linha media, ao longo da qual possamos colaborar de boa fé e de boa vontade. O sacrifício será tanto menor para os verdadeiros jornalistas quanto a liberdade de Imprensa não significa, muitas vezes, liberdade para eles, senão para a empresa econômica a que prestam honestamente a preciosa assistência do seu talento, da sua competência e, sobretudo, dos seus sortilégios ou do seu it sobre a opinião pública.
O problema continua no canteiro. É escusado encarecer que o governo não tem outro interesse que o de resolvê-lo de maneira inteligente e humana. Que a Imprensa o ajude a examiná-lo sob todos os seus aspectos é o que ele deseja e espera.
Restrições ao Poder Legislativo do Parlamento
— Não ficam demasiado comprometidos o prestígio e a autoridade dos membros do Parlamento pela faculdade conferida a qualquer das Câmaras de declarar vago o seu lugar (art. 43); pela competência do Conselho da Economia, a que já aludimos, pelas regras sobre iniciativa e sobre o andamento dos projetos de lei (art. 64); pela proibição de emenda aos projetos do Governo, com parecer favorável do Conselho da Economia (art. 65); pela restrição do prazo de 45 dias para votar o orçamento (art. 71); pela possibilidade da declaração e da suspensão do estado de emergência e do estado de guerra (art. 166); da dissolução da Câmara (art. 167) e da prisão dos deputados e membros do Conselho Federal (art. 169)?
— Quanto às restrições ao Poder Legislativo do Parlamento, as razões estão dadas nos motivos com que, respondendo à pergunta relativa à delegação de poderes, justifiquei a transferência ao Poder Executivo de grande parte das funções especificamente legislativas do Congresso.
A iniciativa da legislação cabe hoje, em todo o mundo, ao Poder Executivo. Não é este um caso de usurpação de poderes, nem essa situação existe em virtude de atos de violência. O Estado marcha para a legislação pelo Executivo como o Sol para a constelação de Hércules. É um dado da história e a substância da história não é feita apenas do arbítrio dos homens. A massa e a complexidade da legislação não podem mais ser tratadas pelos processos discursivos, próprios dos parlamentos do século XIX, cuja competência se exercia no seu domínio natural, que era o das grandes questões, simples e gerais, próprias aos largos debates oratórios e suscetíveis de serem resolvidas mediante opções de caráter exclusivamente político ou moral. Os problemas legislativos do nosso tempo são de outra natureza. São, por excelência, problemas de regulamentação e de controle das utilidades criadas pelo homem e que é dever do Estado colocar ao serviço da coletividade. A regulamentação e o controle da massa, dia a dia crescente, das forças e das riquezas acumuladas pelo homem, suscitam problemas essencialmente técnicos, cuja solução não se pode alcançar mediante os processos dilatórios, as improvisações e a confusão de línguas das babéis parlamentares.
A Constituição é um documento realista. Ela não se destina a obstruir a vida do país. Coloca cada coisa no seu lugar próprio. É, evidentemente, um documento incômodo para os românticos e os ideólogos, que nunca ficam satisfeitos quando advertidos de que uma condição essencial da vida é nunca perder contato com a terra.
Às perguntas sobre a imunidade de deputados, a resposta é simples. A imunidade do deputado é instituída em beneficio da nação. A imunidade não lhe dá direito a trair o seu país, nem lhe confere a liberdade de violar a lei penal. Um povo que facultasse aos seus representantes cometer impunemente atos de traição à pátria, ou que lhes reconhecesse o direito à livre prática do crime, seria um povo destituído de consciência moral.
Quanto à disposição que recusa ao Parlamento a faculdade de suspender o estado de emergência ou o estado de guerra decretado pelo Presidente da República, é conseqüência natural do princípio e do fato de que ao Presidente da República cabe a responsabilidade pela ordem pública. Como responder pela ordem pública, se não lhe coubesse o poder de usar dos meios para assegurá-la? Seria legítimo confiar ao Parlamento o poder, se não lhe cabe a responsabilidade? Dou a palavra aos homens que ainda não perderam o senso comum.
O julgamento plebiscitário
— A Carta Constitucional não prevê a hipótese do plebiscito ser desfavorável, no todo ou em parte, ao regime político instituído?
— Não será uma grave omissão a ser corrigida em tempo?
— O plebiscito deverá ser regulado em decreto especial. Nesse decreto poder-se-á prever a hipótese, que me parece, entretanto, formulada de um ponto de vista demasiadamente apriorístico, dado o fato de que o julgamento popular se deverá fazer, como todo julgamento, a posteriori e tendo em vista os frutos do regime, nos primeiros tempos do seu funcionamento.
O que o povo irá julgar não será uma abstração, mas um regime que já deverá, pelo menos, ter começado a dar corpo às suas promessas. Confio nestas promessas: elas constituem um compromisso de honra do governo para com o povo.
Não me parece possível prever as conseqüências que se seguiriam a um plebiscito negativo. Isto é do domínio dos acontecimentos e da história.
Declaração da inconstitucionalidade das leis
— A subordinação do julgado sobre inconstitucionalidade de lei à deliberação da Câmara dos Deputados não despoja o Poder Judiciário de uma prerrogativa que lhe era essencial? Não lhe parece inconveniente, por outro lado, dar a um poder político a prerrogativa de decidir da constitucionalidade das leis?
— Há na pergunta um equívoco. A Constituição não submete à Câmara dos Deputados a prerrogativa de julgar constitucional uma lei declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. O que a Constituição confere ao Parlamento é a faculdade de remover a inconstitucionalidade, mediante nova votação da lei, o que eqüivale, praticamente, a emendar a Constituição, tornando compatível com esta a lei impugnada.
O uso dessa prerrogativa é rodeado de cautelas especiais; exige a iniciativa do Presidente da República, dois terços de votos numa e noutra Câmara, e, finalmente, que se trate de interesse nacional de alta monta.
Passando agora a responder à pergunta, não me parece essencial ao Poder Judiciário a prerrogativa de declarar a inconstitucionalidade das leis ou de recusar-lhes a execução, com fundamento na sua incompatibilidade com a carta constitucional. Para que se pudesse considerar como essencial essa prerrogativa, seria indispensável que sem ela não se pudesse conceber a existência do Poder Judiciário.
Ora, tal prerrogativa não é um atributo que se encontre reconhecido universalmente ao Poder Judiciário. Ao contrário, é um atributo do Poder Judiciário do tipo americano e, mesmo nos Estados Unidos, seriamente combatido com os melhores fundamentos.
A Constituição americana é, como se sabe, obra de um pequeno número de grandes legistas. A supremacia do Poder Judiciário, mediante a prerrogativa que lhe foi atribuída de guarda supremo da constituição, foi um arranjo ou uma construção imaginada por legistas.
Os legistas são, por natureza, conservadores, e a perspectiva de mudanças, inovações ou experiências sempre os intimida. Os interesses criados constituem o centro das suas preocupações. Nos arranjos ou nas combinações dos mecanismos de governo, de processo ou de justiça, o que domina o seu espírito não é o lado dinâmico, liberal ou progressista, mas o estático, o das garantias que assegurem a permanência do statu quo, a duração do adquirido, a estabilidade das situações consolidadas, a conservação dos interesses criados. O mundo dos legistas não é o do futuro, mas do passado, o mundo dos arquétipos ou das fórmulas em que se cristalizou a experiência do passado.
Os legistas que formularam a teoria da Constituição americana não constituíam exceção aos caracteres que definem em todo o mundo a família dos legistas. A implantação de instituições eminentemente dinâmicas, como são as instituições democráticas, despertou no seu espírito o temor de que dias viessem a constituir fonte de desassossego ou de mudanças na ordem de coisas estabelecida. Cumpria tutelar os poderes de origem popular, sujeitos às injunções da opinião pública, criando um super-poder, de caráter permanente e sem nenhuma dependência para com os movimentos de opinião, de maneira que os órgãos representativos não fossem compelidos pelas pressões populares a entrar no caminho das inovações ou das reivindicações democráticas, que sempre se fazem, como é natural, à custa dos interesses criados. Ora, os juizes, não só pela formação especial do seu espírito como pela situação privilegiada que lhes era assegurada na Constituição, tenderiam, naturalmente; a manter a ordem de coisas estabelecida, procurando, de boa fé, interpretar a Constituição no sentido da concepção do mundo própria à sua família espiritual, isto é, de acordo com o princípio, que informa toda filosofia conservadora, de que a ordem de coisas vigente em um dado momento é a ordem natural e eterna.
O mecanismo de controle judicial, inventado pelos legistas americanos, correspondia aos motivos, conscientes ou obscuros, que os inspiravam. O caráter dinâmico das instituições democráticas achava-se coartado por uma poderosa força de inibição, tanto mais poderosa quanto idealizada por uma hábil propaganda, que conseguiu criar no público a convicção de que a peça teria por função proteger o povo contra os abusos do poder.
A verdade, porém, é que o mecanismo de controle judicial da constitucionalidade das leis tinha, por fim exclusivo, a proteção dos interesses criados ou da ordem de coisas estabelecida contra as veleidades de iniciativa dos poderes representativos, no sentido de favorecer as aspirações populares ou de alterar, na direção democrática, as relações de poder existentes no país ao tempo da promulgação da Constituição.
A ideologia conservadora encontrou, assim, no Poder Judiciário, o instrumento destinado a moderar ou inibir os ímpetos democráticos da Nação. A Constituição passava, por um processo metafísico, a incorporar a filosofia dos juizes.
Essa filosofia, que se confundia com a Constituição, tornava-se filosofia obrigatória no país. Só era constitucional a concepção do mundo dos juizes, o seu ponto de vista preconcebido em relação à sociedade, aos direitos individuais e aos interesses da nação. Por esse artifício, a política de uma democracia, a qual, como toda política democrática, é eminentemente ativa e dinâmica, transferia-se dos órgãos de delegação popular para um cenáculo de notáveis, que uma série de prerrogativas e privilégios tornava independente, senão impermeável às mudanças operadas no sentimento público ou na concepção da vida dos seus contemporâneos.
Completando o processo, seguramente ingênuo e de boa fé, de dissimulação do papel conferido ao Poder Judiciário, a teoria procurou atenuar a sua importância, declarando que o julgamento dos tribunais pressupõe uma provocação e um litígio, isto é, que o supremo interprete da Constituição não tem a faculdade de interpretá-la em abstrato. Como observa, porém, Lord Birkenhead, quando o tribunal, decidindo um litígio declara a lei inconstitucional, o que ele decide, em última análise, é o caso da lei, privando-a de toda autoridade.
Ora, a Constituição tem por conteúdo os grandes poderes do governo, destinados a ser exercidos para grandes fins públicos. Atribuir a um tribunal a faculdade de declarar o que é constitucional é de modo indireto, atribuir-lhe o poder de formular, nos termos que lhe parecerem mais convenientes ou adequados, a própria Constituição. Trata-se, no caso, de confiar a um órgão que não se origina do povo, e que não se encontra sujeito à sua opinião, o mais eminente dos poderes, porque, precisamente, o poder que define os grandes poderes de governo e os grandes fins públicos a que este se destina. O controle judicial da constitucionalidade das leis é, sem dúvida nenhuma, um processo destinado a transferir, do povo para o Poder Judiciário, o controle do Governo, controle tanto mais obscuro quanto insuscetível de inteligibilidade pública, graças à aparelhagem técnica e dialética que o torna inacessível à compreensão comum. A supremacia do Judiciário não é, pois, como procura fazer acreditar uma ingênua doutrina que atribui ao método jurídico um caráter puramente lógico e objetivo, uma supremacia aparente. É, ao contrario, uma supremacia política, porque a função de interpretar, que redunda na de formular a Constituição, é a mais alta ou a mais eminente das funções políticas.
O controle judicial da constitucionalidade das leis, ao invés de constituir uma proteção ao povo, era um expediente sabiamente engendrado para o fim de impedir ou moderar as reivindicações populares, ou colocar sob o controle dos interesses criados ou da filosofia conservadora dos beneficiários da ordem estabelecida a evolução das instituições democráticas, privando-as das virtualidades dinâmicas que lhes são inerentes.
É, como se vê, uma sobrevivência do poder moderador da monarquia, um resíduo monárquico que se enquistou nas instituições democráticas, com o fim de embaraçar os seus movimentos, naturalmente orientados no sentido das inovações, das experiências e de uma concepção criadora e liberal da vida, exatamente o oposto da filosofia própria aos interesses criados, que postulam a conservação, a permanência, a continuidade, a duração das situações adquiridas.
A propósito da idealização de que o controle judicial foi objeto nos Estados Unidos, Allen Smith, falecido professor de ciência política na Universidade de Washington, escreve, no seu livro póstumo “The growth and decadence of constitutional government”:
“Não há, provavelmente, outro exemplo, em toda a história da evolução constitucional, em que a opinião haja sido tão iludida quanto à verdadeira natureza de um arranjo ou de um artifício político. A razão ostensiva de atribuir o poder de veto aos tribunais era a de prover um meio de tornar efetivas as limitações constitucionais; o objetivo real, era, porém, concentrar o poder político na Suprema Corte dos Estados Unidos e, mediante a função, que lhe era conferida, de interpretação final, transformar a Constituição no baluarte do conservantismo”.
Eis aí como, em instituições democráticas, o povo, ao invés do controlar, passa a ser controlado por um poder em cuja formação não participou e cujos processos de controle. duplamente dissimulados, porque exercidos sob as modestas aparências de um litígio de direito comum e envolvidos em uma técnica somente acessível a especialistas, escapam ao registro crítico da opinião popular.
A modificação introduzida pela Constituição de 10 de novembro teve por fim repor na Nação o controle do governo, submetendo-o ao juízo do povo, ao qual deve ficar livre a opção quando se tratar de pôr em movimento o mecanismo constitucional no sentido de serem realizados os grandes fins de governo, fins de ordem pública e geral, em relação aos quais o pronunciamento definitivo não pode deixar de caber ao povo. É a passagem do governo dos cenáculos para o governo do povo.
A faculdade de interpretar, final e conclusivamente, a Constituição, só se justificaria atribuí-la, em regime democrático, ao Poder Judiciário se o método jurídico fosse de natureza puramente lógica ou dedutiva. A função judiciária seria, então, simplesmente passiva, a interpretação limitando-se apenas a tornar explícito o controle da lei.
Tais postulados são, porém, hipóteses contrárias à realidade. Nem o método jurídico é puramente lógico, nem o pensamento jurídico simplesmente objetivo. A interpretação, por sua vez, longe de ser passiva e neutra, é um processo de criação ou de elaboração ativa. Quando a lei a ser interpretada é a Constituição, a generalidade, a amplitude, a compreensão da matéria abrem um vasto campo à contribuição do intérprete que, embora animado da maior boa fé, há de verter, em termos da sua filosofia pessoal ou da sua concepção da vida, problemas do maior interesse vital para todo mundo e em torno de cuja expressão, por mais precisa que seja, existe sempre um halo de indeterminação, propicio às opções do temperamento, do caráter ou da vontade.
Nestas condições, atribuir a supremacia ao Judiciário é atribuí-la à filosofia dos juizes. Quando se trata de interesses nacionais, dos grandes poderes do governo e dos grandes fins públicos a que o governo se destina, é, certamente, mais democrático, senão mais acertado, preferir à filosofia e à opção dos juizes a opção e a filosofia da Nação.
SÍNTESE DA REORGANIZAÇÃO NACIONAL
O presidente Getúlio Vargas — Lei sobre a administração dos Estados — Um imperativo constitucional — Alguns aspectos da lei — Matéria financeira — As concessões de terras — Estrangeiros em cargos públicos — Os recursos — Lei de fronteiras — Nacionalização da faixa limítrofe — Revisão das concessões — A atividade legislativa do Ministério da Justiça — As acumulações — Dissolução dos partidos políticos — Distrito Federal — Leis de segurança — Loteamento de terrenos — Economia popular Executivos fiscais — Processo penal — O Júri — Falências — Um golpe de vista sobre o Projeto — Código Penal — Código de Processo Civil — O sistema do Código — Ideal de justiça rápida e barata — Uma opção de ordem política — Leis de nacionalidade — Ação legislativa de outros Ministérios — Águas e minas — Petróleo — Conselho do Comércio Exterior — Aproveitamento da Baixada Fluminense — Serviço Militar — Completando a lei de fronteiras — Como se fazem as leis — O regime em realização.
Entrevista concedida à Imprensa, em Abril de 1939.
O presidente Getúlio Vargas
É oportuno, de início, relembrar a bela oração proferida pelo presidente Getúlio Vargas ao inaugurar, há pouco, nova estrada de rodagem ligando o Estado do Rio e Minas Gerais.
O Presidente teve ocasião de recordar, de passagem, os serviços do regime de 10 de novembro à Nação e situar, no campo da realidade, o início do grande plano de reerguimento econômico e de aparelhamento material, destinado a ser executado dentro de cinco anos.
O regime está, efetivamente, em pleno e harmonioso desenvolvimento e os seus frutos — materiais e morais — são patentes aos olhos de todos. Passam, assim, do terreno das conjeturas ao terreno prático, os problemas vitais do país, e temos a certeza de conseguir, com ferro e combustíveis nossos, fabricar arados para lavrar a terra, fundir canhões que nos defendam, temperar o aço que proteja os nossos navios e armar aviões para cobrir os céus do Brasil, voando com as nossas próprias asas. São palavras do Presidente, que não é demais repetir.
Esse fecundo trabalho de construção da economia e do poder da nossa Pátria — é ainda o Presidente quem o nota — não teria sido possível se não tivéssemos encontrado forma de governo ajustada à nossa índole e em continuidade com as nossas tradições.
Essa vigorosa reafirmação das origens, dos fundamentos e dos fins do regime não é mais do que a tradução, em palavras, da atitude viril e patriótica que o eminente Chefe de Estado vem mantendo, através de todos os incidentes, por vezes confusos, da vida nacional, desde que, pela unânime aclamação dos brasileiros, lhe veio às mãos o Poder, oito anos atrás. Com a sua providencial intuição do bem e da verdade, com o seu maravilhoso senso da oportunidade — aquele senso por assim dizer cirúrgico, que o habilita a intervir no momento mais difícil e obscuro, quando as opiniões divergem e tateiam em torno da solução adequada, com o seu admirável gênio político, a sua energia, a sua coragem diante do adversário declarado e, o que é mais precioso, do inimigo oculto, o Sr. Getúlio Vargas tem sido um estupendo condutor de homens, um espírito eminentemente revolucionário — assim entendido aquele que não receia a transformação quando verifica que a estagnação é a morte, e, ao mesmo tempo, um administrador esclarecido e progressista, para quem não há segredos nem incógnitas nas questões que interessam à Nação.
Nós podemos dizer, a esta altura do regime, que o Estado Novo é o Presidente — a realização dos seus intuitos, o desdobramento do seu programa, a projeção da sua vontade — e nele tem o seu mais proveto doutrinador e o defensor mais intransigente e valioso.
Lei sobre a administração dos Estados
O regime federativo, instituído em 91, continha em sua essência o germe da desagregação. A Constituição de 10 de novembro pôs termo a esse processo de dissolução, devolvendo ao Poder Central a responsabilidade da integração das forças vivas da nacionalidade. A exagerada autonomia conferida aos Estados, traduzindo-se em descentralização política e administrativa, fragmentava, em 20 parcelas, o poder que deveria ser uno e indivisível, para que se pudesse transmitir às novas gerações, dentro do mesmo território, uma nação integrada pelos mesmos motivos de conservação e de perpetuidade.
A União, ao cabo de meio século de usurpações, teve de recuperar-se, de volver a si mesma, para que não mais ficasse à mercê das ambições e dos imperialismos regionalistas. Ao promulgar a Constituição de 10 de novembro, o Chefe do Governo submeteu, desde logo, os Estados ao regime de intervenção federal, para que a União pudesse, tomando a si a responsabilidade da administração dos Estados, colocá-los dentro dos novos quadros políticos e administrativos do Estado Nacional. Nessa fase de reorganização da vida administrativa do país, cabe à União traçar os rumos de governo compatíveis com os objetivos de unidade, de integração e de defesa da nacionalidade.
Mas, a intervenção decretada no art. 176 da Constituição não havia ainda sido organizada. Entendeu o Chefe do Governo que essa organização só deveria efetuar-se depois de aplacadas as paixões político-partidárias, depois de dominadas as veleidades de predomínio e de mando. Hoje, volvido ano e meio do novo regime, quando já podem ser auscultados os anseios da consciência nacional, silenciadas as falsas reivindicações de inspiração demagógica, quando só tremula uma bandeira, quando só se entoa um hino em todo o Brasil, podemos afirmar que o terreno está preparado para a sementeira da nova ordem politico-administrativa instituída pela Constituição.
A Lei Orgânica dos Estados teve por fim organizar a administração dos Estados e dos Municípios dentro do Estado Nacional. Para isso, o Poder Central criou, em cada parcela da Nação, um sistema de governo a ele diretamente subordinado, que em seu nome exerce as funções que lhe são delegadas. Com poderes delimitados, estes órgãos da administração, em contato permanente com o governo nacional, irão realizar, nos Estados, os propósitos de defesa e de consolidação do regime. Forte bastante para vencer as resistências e os preconceitos, os órgãos de intervenção federal nos Estados deverão, sem demora, amoldar à nova ordem jurídica os serviços estaduais e municipais ainda inspirados no regime proscrito e imbuídos do seu espírito.
Assim, o interventor, ou o governador, e o Departamento Administrativo, órgão de colaboração legislativa e de fiscalização da execução orçamentária, deverão proceder ao estudo dos serviços, departamentos, repartições e estabelecimentos dos Estados e Municípios, com o fim de determinar, do ponto de vista da economia e da eficiência, as modificações que devam ser feitas nos mesmos, sua extinção, distribuição, agrupamento, dotações orçamentárias, condições e processos de trabalho; amoldá-los aos serviços da União, sempre que possível e, finalmente, tomar outras providências prescritas no decreto-lei, tendentes ao mesmo objetivo superior de defesa da unidade da pátria.
Estou certo de que, dentro em pouco, a fisionomia administrativa do país estará mudada, e o Brasil fortalecido em sua unidade.
Um imperativo constitucional
De uma forma ou de outra, a lei orgânica da administração dos Estados vinha sendo reclamada como um complemento à Constituição e ao regime de ação direta federal que para os Estados ela estabeleceu no art. 176, § único. Durando a intervenção até a posse dos governadores eleitos, era necessário não só fixar um limite para a promulgação das constituições estaduais, como ainda organizar, até esse termo, o regime de intervenção. Do contrário teríamos, por um lado, a possibilidade de coexistirem dentro do país unidades dotadas de constituição nova e unidades em pleno regime de intervenção e sujeitas à interferência dos antigos textos constitucionais e das leis orgânicas locais neles inspiradas; e, por outro, uma descontinuidade de ação, incompatível com o sistema jurídico dos arts. 176 e 180 da Constituição.
Num momento em que a união nacional é, para todos os povos, questão de vida e de morte, seria um contra-senso que o Brasil assim fragmentasse a sua própria unidade, que é motivo dominante do processo de sua formação histórica. Este, o sentido da norma inscrita na Constituição e que o decreto-lei 1.202 não fez mais do que desenvolver e sistematizar.
Referendada que seja, pelo voto plebiscitário, a Constituição federal, terão os Estados a oportunidade de votar, dentro dos princípios e da forma da Constituição nacional, as suas próprias leis constitucionais. Até então, porém, deverão ser governados — ou, mais exatamente, administrados — de acordo com um só padrão assentado pelo Presidente da República, a quem o art. 180 da Constituição confere a responsabilidade total do bem público e de toda a vida da Nação, e que, portanto, necessita de um instrumento adequado para colimar os seus fins e fazer chegar a sua vontade pessoal a todos os pontos do país.
Este é, portanto, o significado do decreto-lei. Ele organiza a intervenção, atribui a cada um a parte de responsabilidade que lhe deve caber na execução das decisões federais e na realização do pensamento e da vontade do Chefe de Estado, a quem é dado o ensejo de, quando e onde necessário, confirmar aquela vontade e, sem quebra da confiança nos seus agentes nem prejuízo dos interesses da ordem pública, corrigir os erros de interpretação e execução. Dentro desse plano de uniformidade política, porém, são ressalvados, na lei orgânica, os limites da responsabilidade administrativa e da responsabilidade civil — limites esses sem os quais não é possível existir um regime jurídico de governo.
Alguns aspectos da lei
A bipartição de atribuições constantes do artigo 2.° é, por assim dizer, uma simples e natural divisão de trabalho. Nem é uma distribuição dos poderes do Estado — mesmo porque só existe, atualmente, no país, um Poder Legislativo e Executivo, que é o Presidente da República, a noção de Poder implicando a de autonomia de constituição e a de autodeterminação — nem importa retirar ao interventor ou, conforme o caso, ao governador, o seu caráter principal de delegado da União para a administração local, de representante cujo mandato decorre da vontade do Chefe de Estado, nessa vontade encontra o seu limite e tem duração dependente do seu arbítrio.
De acordo com esses princípios, a Lei Orgânica entendeu necessário colocar na dependência da aprovação do Presidente da República os textos de lei decretados pelos Estados, no exercício da competência supletória que lhes dá o artigo 18 da Constituição, bem como os que poderiam interferir, direta ou indiretamente, com a matéria da competência privativa da União, definida nos artigos 15 e 16. Tal é o sentido da discriminação contida nos artigos da lei e que não tem outro intuito senão preservar a unidade e servir o bem do país, a que a disparidade de critério seria gravemente nociva.
Matéria financeira
As disposições relativas à matéria financeira são, em grande parte, aquelas por que se rege a União, e que era de curial interesse estender aos Estados. Elas não têm em vista privar a administração local dos meios necessários à execução dos seus serviços e ao incremento da produção, mas a economia do supérfluo e a boa aplicação orçamentária, sem a qual não pode haver gestão sadia. Têm, ainda, uma virtude: armar os administradores de um instrumento de força superior para resistir à pressão de falsos interesses locais, cuja impertinência tão freqüentemente lhes dificulta a realização dos seus sinceros propósitos de zelar pela coisa pública. Mais: sujeitando todos os Estados à mesma norma financeira e, assim, evitando uma certa competição que em mais de um caso se tem mostrado danosa, elas contribuirão para sanear o ambiente financeiro do país e o seu crédito interno e externo.
As concessões de terras
O artigo 35 e o artigo 52 corresponderam a uma necessidade que só não reconhecem os que, por amor de uma equívoca dilatação do conceito de direitos adquiridos, colocam o interesse dos concessionários de latifúndios — em grande parte estrangeiros — acima dos interesses da comunhão brasileira. No fundo, o que aflige os exigentes e claudicantes hermeneutas não é tanto o rigor das disposições adotadas para as concessões futuras quanto à possibilidade de serem revistas as concessões já feitas. Mas, que susto é este? Se as concessões obedeceram às condições legais e aos preceitos de moralidade, ninguém as discutirá; mas, se foi o contrário que se deu, não há como alegar direitos adquiridos. O direito não pode ser adquirido contra a lei e contra o Direito; um ato nulo ou contrário ao bem público não pode ser invocado contra o Estado. As concessões consistindo numa delegação de atribuições do Poder Público, a este resta sempre a faculdade de revê-las, ficando aberto, a quem se sentir prejudicado, o caminho do Judiciário? que pesará os direitos porventura em conflito.
Estrangeiros em cargos públicos
No artigo 40, a lei enfrentou um problema cuja gravidade se se faz sentir em toda parte do país, em algumas regiões se tornou extrema. Falo do acesso de estrangeiros a cargos públicos. Os cargos públicos foram sempre, por definição constitucional, privativos dos brasileiros. Mas, as infrações a esse preceito foram também sempre númerosas, e quase sempre de má fé. Quando as disposições relativas aos cargos efetivos se tornaram mais rigorosas, o recurso dos contratos de técnicos e, freqüentemente, de falsos técnicos, foi um meio de burlar a exigência legal e constitucional. Assombra a facilidade com que se alojam estrangeiros nos serviços públicos — repetindo o que se dá nas empresas particulares — quando todos conhecemos as dificuldades que encontram, para colocar-se, numerosos moços brasileiros de mérito. Nós temos que acabar com esse estúpido preconceito que vê uma sumidade em cada “técnico” estrangeiro. Na maioria, são pequenos adjuntos sem possibilidades no seu país ou práticos formados pelos mesmos processos por que se formam os nossos. Aqui chegam., porém, carregados de diplomas, de cartas e de circunspecção que lhes valem ordenados fabulosos. A comissão de permanência de estrangeiros, que funciona no Ministério da Justiça, deu-nos ocasião de verificar a fundo esse fato. Enquanto isto, os nossos universitários, os nossos especialistas, os nossos estudiosos — como os que um dia se chamaram Frontin, Oswaldo Cruz, Chagas, Rebouças, Vital Brasil, Saturnino de Brito, Rui Barbosa... — não encontram satisfações econômicas adequadas ao seu talento e à sua capacidade.
Os recursos
A regulamentação do recurso administrativo dos atos do interventor, ou do governador, e dos prefeitos responde a uma exigência elementar do regime de responsabilidade central e delegação de competência, como é o regime configurado no artigo 176 da Constituição. Ao Presidente da República não deve ser reservada, apenas, a faculdade de fazer sentir a sua vontade através das normas predeterminadas, mas, também, a de intervir diretamente, sempre que preciso, para restabelecer, em cada caso, o pensamento e o interesse da União, o qual é, em última análise, o pensamento e o interesse da própria Nação.
Lei de fronteiras
A primeira Constituição republicana já atribuía à União, no art. 64, a porção de território necessária à defesa das fronteiras. Fora, por assim dizer, uma esmola feita à Nação por um sistema de descentralização forçada que não correspondia à realidade brasileira nem à história da formação nacional, e não passava de uma vulgar imitação (é bom lembrá-lo, quando há por ai tanto saudosista a catar, no regime atual, o que lhe cheira, ainda que vagamente, a importação...). Os constituintes de 1934 que, a rigor, não sabiam a quem acender as suas velas, foram, no entanto, um pouco mais generosos com o interesse da Nação e fixaram em 100 quilômetros a faixa da fronteira, estabelecendo os princípios da sua segurança. Mas, durante quatro longos anos — contudo tão agitados, tão cheios de perigos — a inovação não saiu do papel. A Constituição de 10 de novembro fixou em 150 quilômetros aquela faixa — e era o mínimo que correspondia às necessidades da defesa nacional. Com o decreto-lei n.° 1.164, de 18 de março, o Presidente da República, fazendo o que os parlamentos não souberam fazer durante 50 anos, acabou com essa gagueira legislativa e teve a coragem de romper com os óbices, na realidade tão frágeis, que durante meio século impediram, por amor de preconceitos e interesses regionais, que o Brasil possuísse uma boa legislação de fronteira, corporificando as medidas de defesa da fronteira nacional. Essa defesa não poderia ser apenas a instalação de forças militares. As necessidades brasileiras são, nesse particular, muito diversas das dos países superpovoados, como os europeus, em que as nacionalidades se enfrentam, nos limites dos seus territórios, sem nada perder da sua vitalidade e dos seus caracteres essenciais.
No Brasil, cujas linhas a audácia das entradas e das bandeiras colocou muito além das marcas fixadas nos textos escritos, no Brasil é preciso criar o que poderemos chamar de consciência da fronteira, isto é, fazer com que a fronteira deixe de constituir somente um traço no mapa, para ser um sentimento, alguma coisa de orgânico e inseparável da Nação É preciso povoar a fronteira, impregná-la de brasilidade, vigiá-la, não tanto para obstar a agressão pelas armas, que, graças a Deus, não temos razão de recear, quanto para aniquilar as tendências de decomposição e desnacionalização que as imensas distâncias poderiam favorecer.
Nacionalização da faixa limítrofe
Dentro da zona de 150 quilômetros, que a Constituição reserva à defesa nacional, e que é, portanto, uma zona nacional, sobre a qual se exerce a competência nacional, — por outras palavras, da qual a União pode dispor livremente (este é um dos conceitos fundamentais da nova lei), — dentro de tal zona a lei separa duas regiões. Na primeira, com uma largura de 30 quilômetros, contados da linha limítrofe, as exigências da lei são mais precisas, mais estritas, e a disposição fundamental é a que manda lotear as terras públicas para distribuí-las nas condições e de acordo com as restrições estipuladas no decreto-lei n.° 893, de 26 de novembro. de 1938, que regulou o aproveitamento das terras da União, situadas na Baixada Fluminense. Essas terras serão dadas, apenas, a brasileiros natos. É um conceito, talvez, que extravasa um pouco das fórmulas clássicas do nosso direito: mas é um conceito imposto pela gravidade do momento, por essa urgência quase trágica de preservar a nacionalidade.
Para toda a faixa, porém, a lei estipula minuciosamente as condições de concessão de terras e de exploração industrial e agrícola, dando a preeminência necessária à fiscalização do Conselho de Segurança Nacional.
Com relação às empresas industriais que interessam à defesa do país, às vias de comunicação e à concessão de serviços públicos na faixa da fronteira, a lei trouxe alterações essenciais ao regime que atualmente vigora. São alterações que, a rigor, constituem uma indicação de ordem geral, ou melhor, um conceito a ser generalizado. Refiro-me às disposições concernentes à formação dos quadros de administração e empregados das empresas. A proporção de brasileiros, nas empresas de fronteira, deve ser uma proporção respeitada não só com referência à totalidade do quadro como ainda em cada categoria em que se divida o pessoal, diferenciadas as categorias de acordo com salários fixados.
Outra inovação de relevo, constante do decreto-lei n. 1.164, é a disposição que dá aos brasileiros natos, na faixa de fronteira, a exclusividade do pequeno comércio e do comércio ambulante. Isto significa eliminar, de uma zona crítica, de importância fundamental para a segurança do país, toda uma númerosa classe de intermediários e díscolos que, a rigor, não sabemos bem, muitas vezes, o que realmente estão fazendo.
Revisão das concessões
A lei termina mandando rever as concessões de terras de fronteira até agora feitas por Estados e Municípios. Reexaminadas pelo governo federal, que lhes apreciará a legalidade, só se tornarão definitivas depois de confirmadas pelo Presidente da República. Era uma providência que há muito tempo se vinha impondo e que não importa absolutamente quebra de compromissos, anulação arbitrária de contratos, desconhecimento de direitos. Todos sabemos, com efeito, quantos erros e quantos abusos se práticaram, contra a lei, contra o povo e contra o interesse nacional, nas concessões de terras, algumas das quais com a extensão de verdadeiros Estados.
Ai está, de modo geral, o sentido do decreto-lei n.° 1.164. Promulgando-o, o Presidente da República prestou à Nação um serviço cuja relevância nós, hoje, talvez, não estejamos em condições de avaliar devidamente. Forma-se, ao redor do Brasil, que nós estamos no firme propósito de transmitir mais forte e, por assim dizer, mais brasileiro, aos que vierem depois de nós, um grande e belo anel de brasilidade — conforme a expressão de um jornal, e expressão exata.
A atividade legislativa do Ministério da Justiça
A lei de fronteiras não é, porém, um texto isolado. Ela pertence a uma cadeia de leis complementares da Constituição, e em que o Ministério da Justiça vem trabalhando sem cessar, desde a instauração do regime, cujo espírito elas corporificam e realizam. Tivemos, assim, desde os primeiros dias do regime, a lei das acumulações, cuja execução e interpretação o Ministério tem acompanhado, até hoje, em todo o país, por meio de centenas de decisões e pareceres sobre consultas oficiais, de instituições e até de particulares; a lei do Júri e a que dispõe sobre os serviços da Justiça Federal, extinta pela Constituição; a lei orgânica do ministério público federal, a lei orgânica do Distrito Federal, a lei de dissolução dos partidos políticos a lei de segurança e a respectiva lei de processo, a reorganização do Tribunal de Segurança; a relativa ao loteamento de terrenos, a lei dos crimes contra a economia popular, a lei dos executivos fiscais, entre outras: o projeto do Código de Processo Penal, já concluído, o anteprojeto do Código de Processo Civil e Comercial, o anteprojeto do Código Penal, quase terminado, a lei de nacionalidade, a de extradição e a de expulsão, a de imigração, a das atividades políticas de estrangeiros, entre outras, são o testemunho de uma constante atividade legislativa que o Ministério tem exercido, quer diretamente, quer participando de comissões especiais.
As acumulações
Com o decreto-lei n.° 24, o Estado Novo pôs termo a uma situação que, há mais de um século, desafiava a boa vontade e a energia dos governantes. O novo regime não podia encarar o problema das acumulações com a fraqueza e a passividade dos regimes anteriores. Inspirado no bem estar do povo que legitimamente aspira aos cargos públicos, o atual governo enfrentou interesses e ambições que se contrapunham à aplicação da lei, com orientação segura e inflexível, procurando, em cada caso, dar uma decisão conforme ao espírito e à letra da Constituição. Prestigiado em suas decisões pelo Chefe do Governo, o Ministério da Justiça granjeou, desde logo, a confiança popular. Inúmeras consultas dos demais órgãos do governo federal e dos Estados, de entidades publicas e de particulares foram prontamente respondidas e suas decisões acatadas. Dentro em pouco tempo firmou-se a convicção geral de que o problema das acumulações, dentro do Estado Novo, não sofreria os colapsos e as reticências a que estivera sujeito em épocas anteriores.
Firmada jurisprudência com a fiel aplicação da lei, o governo pode hoje afirmar ao país que o problema das acumulações está solvido e que não mais se reproduzirão os abusos e a licença, tão próprios do regime democrático-liberal.
Dissolução dos partidos políticos
Foi um dos primeiros atos do governo, após o 10 de novembro, e da sua oportunidade os acontecimentos que se seguiram, aqui e no estrangeiro, têm dado constante e eloqüente testemunho. Os partidos políticos e as organizações parapartidárias não tinham outro fim senão o de satisfazer os apetites das facções regionalistas, indo até ao sacrifício da segurança nacional e dos mais altos interesses do Brasil. Extirpando o mal quando nem todos ainda lhe divisavam nitidamente os contornos e antes que os profissionais do maquinismo eleitoral conseguissem articular-se para recompô-lo, o presidente Getúlio Vargas práticou um ato de patriotismo, que nunca poderemos agradecer bastante.
Distrito Federal
Ao Distrito Federal, sede da União, os constituintes de 1934 haviam dado um regime que era um prodígio de insensatez.
A nova Lei Orgânica, em que o Ministério da Justiça trabalhou sob a inspiração direta do Presidente, recompôs, para a Capital do Brasil, o seu verdadeiro quadro, integrando-a no sistema do governo nacional, de que os cariocas e todos quantos aqui têm verdadeiros e legítimos interesses nunca procuraram afastar-se. Hoje, os interesses territoriais e patrimoniais do Distrito e o seu governo confundem-se com os da União, as delimitações constantes da lei não significando mais que uma divisão racional de trabalho, uma descentralização de aspectos secundários, com o fim de favorecer a atividade administrativa. Em suma, a Prefeitura não é senão, do ponto de vista constitucional e administrativo, um departamento do governo federal. E estou certo de que os filhos desta bela cidade, cuja história é uma história nacional, e nunca crônica regional, e todos os seus habitantes saberão apreciar o benefício do novo regime que para ela se estabeleceu.
Leis de segurança
A Lei de Segurança Nacional, a do processo dos crimes contra a ordem política e a de reforma do tribunal respetivo compõem um sistema cuja precisão e justeza já têm sido postas à prova com resultados excelentes. Podemos dizer que o problema da ordem deixou, graças a um modelar aparelho repressivo — sem excessos, mas sem desfalecimentos de ser o fantasma que tolhia quaisquer iniciativas proveitosas para o país. Os crimes contra o Estado são punidos com rapidez, serenidade e isenção de ânimo. Como estamos longe do tempo em que processos dessa natureza levavam três, cinco, dez anos para resolver-se!...
Loteamento de terrenos
Era um velho abuso que o governo tinha que coibir. As vendas de terrenos a prestações efetuavam-se sem a menor garantia para os compradores, na maioria gente de recursos modestos. Vendiam-se terrenos alheios, vendiam-se terrenos de existência fantástica, vendiam-se terrenos gravados. Havia empresas e “arapucas” que enriqueciam rapidamente, à custa das economias do povo, assim ludibriado e furtado, sem que a autoridade dispusesse de um instrumento adequado de fiscalização e punição. Foi a esses erros e a esses crimes contra a bolsa popular que o governo acudiu com um decreto-lei que se acha em plena e eficaz execução.
Economia popular
Entre as atribuições do Tribunal de Segurança a lei incluiu, de acordo com o princípio constitucional sobre a matéria, o julgamento dos crimes contra a economia popular. Quando foi publicada essa lei, tive ocasião de expor o seu plano e os seus fundamentos. Era necessário, com efeito, pôr termo aos “staviskismos”, aos tortuosos expedientes dos defraudadores da bolsa do povo, à camorra parasitária que se organizara, lenta e seguramente, à sombra de um código benigno, onde a justiça não conseguia tomar pé para defender o povo dos seus insaciáveis exploradores. A lei está sendo aplicada com honestidade e em todo o país, segundo o próprio testemunho dos jornais. que repetidamente nos dão conta de novos e expressivos casos, — e o das casas de penhor que cobravam juros de 120 por cento ao ano foi um dos mais gritantes. O lucro do capital e das operações dos intermediários não é lícito senão quando colocado dentro de certos limites, além dos quais estão o abuso e o crime.
Executivos fiscais
A lei que regulou a cobrança da divida ativa da União, dos Estados e dos Municípios — em resumo, da Fazenda Pública — era reclamada há longos anos. Ela foi feita num plano consentâneo com o interesse que procura defender e que, sendo o interesse do Tesouro é, principalmente, o interesse do povo. O crédito do Fisco é um crédito do povo contra a minoria de devedores remissos que se julgam com o direito de gozar, gratuitamente, dos benefícios que a maioria paga. Inspirada nas modernas idéias processuais, a lei do executivo fiscal permite cobrar, em pouco tempo, créditos que as leis antigas deixavam dormir durante anos, quando não morrer no esquecimento dos arquivos e nos infinitos meandros da chicana forense ou administrativa.
Processo penal
O projeto do Código de Processo Penal, resultando de um imperativo da Constituição de 1937, como o era da de 1934, mas que os tumultuosos legisladores da segunda República não souberam realizar, já está concluido.
De par com a necessidade de coordenação das regras do processo penal num código único para todo o Brasil, impunha-se o seu afeiçoamento ao objetivo de maior facilidade e energia da ação repressiva do Estado. As nossas leis vigentes de processo penal asseguram aos réus, ainda que colhidos em flagrante ou confundidos pela evidência das provas, um tão extenso catálogo de garantias e favores, que a repressão terá de ser deficiente, decorrendo dai um indireto estimulo à criminalidade. Urgia abolir semelhante critério de primado do interesse do indivíduo sobre o da tutela social. Não se podia continuar a transigir com direitos individuais em antagonismo ou sem coincidência com o bem comum. O indivíduo, principalmente quando se mostra rebelde à disciplina juridico-penal da vida em sociedade, não pode invocar outras franquias ou imunidades além daquelas que o garantem contra o exercício do poder público, fora da medida reclamada pelo interesse social.
Se, por um lado, os dispositivos do projeto tendem a fortalecer e prestigiar a atividade do Estado, na sua função repressiva, é certo, porém, que asseguram, com muito mais sinceridade do que a legislação atual, a defesa dos acusados. Ao invés de uma simples faculdade outorgada a estes, e sob a condição de sua presença em juízo, a defesa passa a ser, em qualquer caso, uma indeclinável injunção legal — antes, durante e depois da instrução criminal. Nenhum réu, ainda que ausente do distrito da culpa, foragido ou oculto, poderá ser processado sem a assistência de um defensor, a pena de revelia, não excluindo a garantia de contraditoriedade do processo, inscrita no inciso 11, do art. 122, da Constituição. Ao contrário das leis processuais em vigor, o projeto não pactua, em caso algum, com a insídia de uma acusação desacompanhada de defesa.
O projeto faculta à pessoa lesada pelo crime o pedido civil de reparação do dano no próprio processo penal, ou o transporte para este da ação cível intercorrentemente proposta para tal fim; mas não consente que, no juízo criminal, seja liquidado o quantum da indenização. A sentença penal condenatória limitar-se-á a reconhecer a existência do dano ressarcível e a obrigação de indenizar e, desde que se torne irrecorrível será liquidada no juízo cível, como se tratasse de execução por força da atio judicati.
Não descurou o projeto de evitar que se torne ilusório o direito à indenização, quando o seu titular não disponha de recursos pecuniários para exercê-lo. Em tal caso, a ação cível ou a execução da sentença penal no juízo cível será promovida pelo ministério público, mediante requerimento do interessado. Ficará, assim, sem razão de ser a crítica segundo a qual, pelo sistema do direito pátrio, a reparação do dano, em muitos casos, não passa de uma promessa vã ou platônica.
O projeto abandonou radicalmente o sistema chamado da “certeza legal”, substituindo-o pelo da “certeza moral” do juiz, e atribui a este a faculdade de iniciativa de provas, quer no curso da instrução criminal, quer, afinal, antes de proferir a sentença.
Outra inovação, em matéria de prova, diz respeito ao interrogatório do acusado. Embora mantido o princípio de que o acusado não pode ser coagido a responder ao que se lhe pergunta, já não será esse termo do processo, como é atualmente, uma série de perguntas predeterminadas, sacramentais, a que o acusado dá respostas de antemão estudadas, para não se comprometer; mas, sim, uma franca oportunidade de obtenção de prova. É facultado ao juiz formular quaisquer perguntas que julgue necessárias à pesquisa da verdade e, se é certo que o silêncio do acusado não importa confissão, poderá, entretanto, servir, em face de outros indícios, para formar a convicção do juiz.
A prisão em flagrante e a preventiva são definidas com mais latitude do que na legislação em vigor. O clamor público deixa de ser condição necessária para que se equipare ao estado de flagrância o caso em que o criminoso, após a prática do crime, está a fugir. Basta que o fugitivo, em ato contínuo ao crime, esteja sendo perseguido pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer outra pessoa, em situação que faça presumir a sua responsabilidade: preso em tais condições, entende-se preso em flagrante delito. Considera-se, além disso, equivalente ao estado de flagrância o caso em que o indivíduo, logo em seguida à perpetração do crime, é encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor ou cúmplice da infração penal. O interesse da administração da justiça não pode continuar a ser sacrificado por obsoletos escrúpulos formalísticos, que redundam em assegurar a aí frondosa intangibilidade de delinqüentes surpreendidos em flagrante.
O Júri
Com ligeiros retoques, foram mantidos no corpo do projeto os dispositivos do decreto-lei n.° 167, de 5 de janeiro último, que regula a instituição do júri. Como atestam os aplausos recebidos, de vários pontos do país, pelo governo da República, e é notório, têm sido excelentes os resultados desse decreto legislativo, que veio afeiçoar o tribunal popular ao ritmo das instituições do Estado Novo. A aplicação da justiça penal pelo júri deixou de ser uma abdicação, para ser uma delegação do Estado, que se reserva o direito de ajustá-la à feição do interesse social. Privado de sua antiga soberania, que redundava, na prática, numa sistemática e alarmante indulgência para com os réus, o júri está, agora, integrado na consciência de suas graves responsabilidades e reabilitado na confiança geral.
Falências
É integralmente atribuído ao juízo criminal o processo por crime de falência; suprimido, por sua conseqüente inutilidade, o termo de pronúncia. Não são convincentes os argumentos em favor da atual dualidade de juízos, um, para o processo até à pronúncia, e outro, para o julgamento. Ao invés da singularidade de um processo anfíbio, com instrução no juízo cível e julgamento no juízo criminal, é estabelecida a competência deste ab initio, restituindo-lhe uma função específica e ensejando-lhe mais segura e experiente visão de conjunto, necessária ao acerto da decisão final.
Um golpe de vista sobre o Projeto
O projeto é, assim, infenso ao excessivo rigorismo formal, que dá ensejo, atualmente, à infindável serie das nulidades processuais. Segundo a justa advertência de ilustre processualista italiano, um bom direito processual penal deve limitar as sanções de nulidade aquele estrito “mínimo” que não pode ser abstraído sem lesar legitimos e graves interesses do Estado e dos cidadãos. Não será declarada a nulidade de nenhum ato processual, quando este não haja influído concretamente na decisão da causa ou na apuração da verdade substancial.
Do que disse, e de vários outros critérios adotados pelo projeto, vê-se que este tem a lastreá-lo, substancialmente, o pensamento de um racional equilíbrio entre o interesse social e o da defesa individual, entre o direito do Estado à punição dos criminosos e o direito do indivíduo às garantias e à segurança de sua liberdade. Se ele não transige com as sistemáticas restrições ao poder público, não o inspira, entretanto, o espírito de um incondicional autoritarismo do Estado ou de uma sistemática prevenção contra os direitos e as garantias individuais.
Código Penal.
O anteprojeto de Código Penal acha-se em última revisão. Terá assim o país uma lei à altura do seu grau de civilização e do seu regime político, em substituição do velho Código de 1890, que já era antiquado, na época em que se decretou, isto é, há meio século.
O princípio cardeal que inspira a lei projetada, e que é, aliás, o princípio fundamental do moderno direito penal, é o da defesa social. É necessário defender a comunhão social contra todos aqueles que se mostram perigosos à sua segurança. O critério da imputabilidade deixa, assim, de ser dominante. Isto é, não se indaga apenas, para o efeito da reação penal, se o indivíduo é ou não moralmente responsável por seus atos. O grau dessa responsabilidade servirá para diversificar a espécie de sanção aplicável à pena, ou a medida de segurança (manicômio, colônia agrícola, estabelecimentos de reeducação).
Os direitos dos grupos, da sociedade, da família, encontram a proteção que lhes é devida e que as leis inspiradas num critério de excessivo individualismo descuraram até hoje. Os direitos, como os interesses, a riqueza e as reações do grupo não são apenas a soma dos direitos, ou dos interesses, da riqueza e das reações dos indivíduos, para os quais há um sistema de limitações transcendentes que resultam da própria essência do Estado moderno. Nesse principio inspirar-se-á a nova lei penal brasileira, que consubstanciará o que de mais certo e útil tem assentado a ciência criminal.
Código de Processo Civil
É outra imposição da Constituição de 10 de novembro, uma só lei de processo civil e comercial para todo o Brasil. Mandei publicar o anteprojeto no “Diário Oficial”, há mais de 60 dias, e distribuir largamente o seu texto por todo o país, pedindo as sugestões dos estudiosos.
O projeto adota o sistema da concentração e da oralidade, defendido pelos mais eminentes mestres da ciência jurídica. Não ignoro, porém, que há objeções contra esse sistema e, portanto, de modo geral, contra o projeto.
O sistema do Código
Mas, a questão há de ser posta nos seguintes termos.
A Constituição de 1937 adotou, como adotara a de 1934, a uniformidade do processo para todo o país, passando à União a competência de legislar que, em 1891, sob o influxo de uma desastrosa tendência para a descentralização, se conferira aos Estados. Dois caminhos, porém, abrem-se diante de nós ou respeitar as linhas do processo tradicional, ou seguir a corrente reformadora que tem reunido as preferências dos melhores estudiosos da matéria.
Que seria, porém, o sistema tradicional brasileiro? Como identificá-lo, de resto, nesse “puzzle” de normas regionais, de peculiaridades, de conveniências, de erros acumulados em cinqüenta anos de multiplicidade e descontinuidade processual?
Não é preciso discutir o mérito intrínseco, ou a lógica, do Regulamento 737, ou das Ordenações do Reino, que constituem o fundo, a base do processo até agora em vigor no Brasil e contra o qual se levantou, com freqüência, a voz das cátedras, do foro, dos anfiteatros, do parlamento e dos comícios, e até o espírito da anedota e da fábula. Digamos apenas que ele deixou de corresponder às necessidades do nosso tempo — tempo em que é necessário viver mais depressa. O mundo transformou-se, as relações de direito complicaram-se demasiadamente para que pretendamos satisfazê-las com o instrumento primitivo que contentava o homem habituado à liteira e ao carro de bois.
O que eu tenho a dizer sobre a reforma do processo, já o disse há vários anos, falando aos meus colegas do Congresso de Direito Judiciário, em julho de 1936:
— “O sistema legal, por caraterísticas inerentes à sua própria estrutura e à natureza das suas funções é, precisamente, o mais refratário à mudança e o de passo mais lento no sentido das crises e das transformações. A rigidez das linhas do sistema legal e, particularmente, o fato de que o ministério ou o exercício das atividades legais constitui, ainda, aos olhos do público, uma técnica de processos obscuros dificilmente acessíveis ao entendimento comum, formam uma atmosfera propícia à conservação e perpetuação de hábitos, ritos e tradições, muitas vezes incompatíveis com exigências que em outros sistemas da vida coletiva já determinaram movimentos de reajustamento e de adaptação, ou respostas adequadas e satisfatórias.
Mais, portanto, no sistema legal do que em qualquer outro, torna-se necessário manter em atividade o espírito de exame e de crítica, de maneira a assegurar a continuidade do movimento de renovações úteis e necessárias, sem as quais o efeito cumulativo dos hábitos de conservação e de inércia acabará por tornar sensíveis ainda ao homem da rua os vícios de anacronismo da ordem legal e a sua inadequação às justificadas exigências da vida social, econômica e política da coletividade, desmoralizando a autoridade da lei e dos homens incumbidos do seu ministério, contra a de uma e dos outros, incentivando os movimentos de desprezo ou de protesto público.
“Haja vista, por ser o tema das vossas reuniões, e o da crítica e da mordacidade pública contra a técnica da administração da justiça, o caso do processo ou do direito judiciário, cujos ritos, cerimoniais, termos, dilações e formalidades continuam a ser os mesmos que já se encontram glosados em Rabelais, como razão do desespero do inocente Bridoie e de desgraça para os seus infelizes jurisdicionados, tão perplexos de se verem envolvidos nos jogos incompreensíveis da justiça como o ficariam se se encontrassem transportados para um mundo de mistérios, de prestidigitações e de mágicas.
“Ora, num tempo cujo traço fundamental vem a ser, precisamente, o do processo e do aperfeiçoamento da técnica em todas as suas modalidades desde a técnica do espírito, apercebida de novos instrumentos que aumentam o coeficiente da rapidez, do rendimento e da precisão do seu trabalho, até as técnicas de manipulação da matéria, não se justifica que a técnica da administração do direito continue a ser um indigesto conglomerado de processos, destituído de organização e de princípios, sobre o qual já passou em julgado a sentença não apenas dos entendidos ou dos doutos, senão a do público, cada dia mais impaciente com o verificar que a técnica pela qual o direito se torna acessível às suas necessidades e exigências continua a ser a mesma técnica anterior à invenção do vapor e da eletricidade, anterior às revoluções industriais, políticas e técnicas, que transformaram em um século a face do mundo e mudaram os hábitos bíblicos da humanidade, na vertigem das competições da era capitalista, na qual o ritmo das reações individuais e coletivas e o ciclo dos negócios criaram um novo sentimento do tempo, inteiramente particular à nossa época.
“Justiça rápida e barata” não é, portanto, apenas uma frase com que os eternos descontentes costumam variar a expressão da sua impertinência histórica. É uma justificada imposição das demais técnicas do trabalho humano sobre aquela que se encontra adormecida no cego automatismo dos seus processos e uma inevitável exigência de economia dos demais sistemas da vida coletiva, no sentido de que o sistema judiciário trabalhe no tempo ou no ritmo do seu funcionamento, de maneira a impedir as fricções, os atritos e as demoras prejudiciais à sua capacidade de produção e rendimento”.
E mais:
“Tanto a primeira quanto a segunda medida se resumem simplesmente em tornar o direito permeável às transformações intelectuais operadas em todos os domínios da atividade científica e prática, médica, econômica, industrial e política.
“O que se exige, em suma, é que o direito se beneficie dos mesmos métodos de apreciação e de estudo que tornaram possíveis os rápidos progressos da medicina, as transformações dos processos industriais e o melhoramento ou a racionalização de todas as técnicas do trabalho humano. Para isto, é necessário que os homens transportem para o domínio jurídico as mesmas perspectivas intelectuais em que se habituaram a situar os demais objetos do conhecimento humano e utilizem, quanto ao direito, os hábitos com que as ciências de observação e de experiência imprimiram uma nova orientação ao seu espírito.“Não é possível que a experiência jurídica não se organize, como as demais, em um aparelho de sistematização e de controle, destinado não somente a melhorar o funcionamento da justiça, como a tornar mais precisa ou mais conveniente a formulação do direito. Urge que a experiência dos juristas seja inteligentemente utilizada tanto na ordem crítica, quanto nas atividades construtivas ou criadoras do direito”.
Ideal de justiça rápida e barata
Esse ideal de justiça rápida e barata será atingido, eu o creio, na medida de nossas possibilidades, com o código de processo, cujo anteprojeto mandei publicar e que devo ao meu caro amigo Pedro Baptista Martins — formosa cultura jurídica e brilhante formação de advogado que não se deixa enredar no cipoal das praxes obsoletas. É possível que o anteprojeto tenha defeitos — e um trabalho sem defeitos não seria humano. É possível que o sistema nele apresentado não seja, em toda a sua pureza, o da oralidade e da concentração. Será, contudo, mil vezes melhor do que o que atualmente temos e que é, afinal, um monstruoso aparelho de ocultação da verdade, protelação e denegação da justiça, e não um sistema para distribuir justiça.
Uma opção de ordem política
O prazo para o recebimento de sugestões está findo. Das que nos foram enviadas, algumas são de valor extraordinário e estão sendo acuradamente examinadas, pensando eu que em breve esse estudo estará concluído. Acredito que já se terão manifestado, de um ou de outro modo, quantos podem ser tidos como realmente habilitados a opinar, isto é, os especialistas, os estudiosos do assunto. Valho-me deste ensejo para dirigir a quantos enviaram suas contribuições o meu cordialíssimo e sincero agradecimento. Por outro lado, o que está em discussão não é propriamente a preferência por um ou outro sistema. A escolha do sistema foi, com efeito, uma opção de ordem política, reservada por isso mesmo aos responsáveis pela direção da política do país, isto é, em última análise, ao Chefe do Governo. Essa opção ficou irrefragavelmente definida na primeira lei nacional de processo civil decretada pelo Estado Novo — a que regulou a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, ou lei do executivo fiscal. O Estado preferiu esse sistema, fundado na concentração e na oralidade do processo, para fazer valer em juízo os seus direitos: é natural que aos particulares seja dado o mesmo instrumento processual. Digo mais. Essa opção era uma conseqüência necessária do regime instaurado em 10 de novembro e definido na Constituição, e que procura aproximar, o mais possível, Governo e Povo: o Presidente Getúlio Vargas já teve ocasião de conceituar, com grande felicidade, a eliminação dos intermediários na vida política do Brasil. O Código de Processo Civil exprimirá, no campo em geral tão impermeável do sistema legal, essa tendência vital do regime, entregando ao povo um instrumento fácil e direto para fazer valer os direitos que a lei civil lhe atribui.
É por isso que eu dou importância fora do comum à reforma processual. Não se trata apenas de uma questão de técnica, a resolver-se entre técnicos e sem interesse para a massa. Mas, em verdade, de uma reivindicação dessa massa contra erros que a fizeram perder a confiança na justiça e na lei: enfim, uma grande conquista social.
Dentro das linhas do sistema preferido pelo governo, as sugestões recebidas serão estudadas e adotadas. Elas permitirão, de um lado, atender às peculiaridades reais; de outro, purificar o anteprojeto, eliminando tudo quanto importaria retardar, encarecer ou deformar a justiça.
É natural que a reforma do processo encontre oposição e resistência. Assim acontece com todas as reformas. Os interesses, o comodismo, o apego aos manuais patinados pelo tempo, o misoneismo, o derrotismo, todas essas formas de não querer e não pensar sentir-se-ão feridas com a novidade. Mas os homens que procuram o bem público, os espíritos que amam o progresso, os que sentem as reações da multidão e do mundo, os que sabem que alguma coisa mais virá depois deles — estes saberão apreciar o sistema, pesar-lhe as conexões históricas e, sobretudo, o profundo sentido popular.
Leis de nacionalidade
As leis de nacionalidade (naturalização inclusive), de repressão à atividade política de estrangeiros, de expulsão, extradição e imigração constituem um magnífico corpo de leis nacionalizadoras, decretado pelo Estado Novo. Era necessário, efetivamente, rever essa matéria, que o “dolce far niente” dos velhos legisladores deixara complicar-se, com gravame da Nação. Houve tempo em que os legisladores e os homens de Estado, com as facilidades oferecidas à vinda e à fixação dos estrangeiros, davam a impressão de procurar a mudança da raça, dos costumes, da língua e até, talvez, do nome de nosso país. O Presidente Getúlio Vargas, porém, desde o início do seu governo, vem desenvolvendo uma estupenda política de nacionalização, que encontrou nos textos do ano passado o seu corpo definitivo.
Essas leis têm uma significação tal, como nunca se havia antes encontrado na história de nossa Pátria. Elas exprimem um estado de consciência coletiva.
A raça brasileira foi bastante inteligente, bastante tenaz, bastante heróica para conquistar e reivindicar este território, para repelir agressões, para esmagar inimigos, para construir uma civilização de primeira plana. A ajuda estrangeira foi apenas, episódica e acessória. Nunca, porém, nunca — e o Brasil já selou com o sangue o seu amor à liberdade — nunca essa ajuda poderá importar a instauração de um regime de capitulações ou de concessões, cujos catastróficos efeitos já são demasiadamente conhecidos para que algum povo tenha a coragem de afrontá-los.
Para nós, os estrangeiros que se encontram no Brasil, e assim considerados os indivíduos como os seus capitães e interesses, não têm representação política, não têm voz coletiva.
O Brasil não comporta colônias com privilégios de extraterritorialidade, nem minorias, nem o exercício de proteção política. Os estrangeiros aqui podem viver tranqüilamente, aqui gozam de direitos civis, que podem fazer valer perante os tribunais como qualquer brasileiro, aqui toleramos que se associem para fins de beneficência e de cultura. Mas todo e qualquer intuito político, ainda que remoto, é terminantemente proibido, e nenhuma interferência do exterior nos fará mudar de atitude. A ação do governo, nesse particular, tem-se exercido com moderação, procurando antes convencer do que punir. Já é tempo, porém, que todos se tenham convencido de que a decisão não mudará e de que a repressão se tornará mais inflexível, enquanto persistirem as tentativas de fraudar, de iludir ou de ignorar a lei.
Ação legislativa de outros Ministérios
Eu me tenho circunscrito, até agora, a recordar a atividade legislativa do Governo Nacional, exercida por intermédio do Ministério a meu cargo. No campo dos demais Ministérios, a ação legislativa tem correspondido de idêntico modo e tão proficuamente à necessidade de assegurar, num plano jurídico harmonioso, o bem e o progresso do país. E aqui me refiro, somente, à expressão da atividade do governo por meio de textos de lei, deixando de lado a obra de aparelhamento nacional, de desenvolvimento econômico e de aperfeiçoamento intelectual e moral, que vem sendo realizada sem esmorecimento e cujos proveitos se fazem cada dia mais patentes no crescimento da produção e na atmosfera de trabalho, de ordem e de confiança, que nos autoriza a fazer um juízo otimista a respeito do futuro da nossa Pátria. Esse programa de equipamento material teve, há pouco, sua melhor definição no decreto-lei que dispôs sobre o grande plano de obras públicas de interesse nacional, a executar-se dentro de curto período, e que já se acha em começo de realização, ou em estudos adiantados.
Águas e minas
Lembrem-se, por exemplo, ainda no terreno da atividade legislativa, as leis sobre energia hidráulica e sobre minas, que tiveram por fim completar os textos existentes e dar-lhes, por assim dizer, força executória, rompendo de vez o cipoal de tergiversações e de manejos com que tentaram embargar o passo do Estado, na defesa dos bens do seu solo.
Nós conhecemos o número e a força dos interesses que se movimentam em torno das riquezas nacionais e que nos cumpre reduzir aos seus limites legítimos se quisermos continuar como donos desta terra que a audácia e tenacidade dos nossos antepassados dilatou e povoou. As leis de minas e de águas vieram colocar nas mãos do Brasil o controle e o aproveitamento de sua imensa riqueza de potencial elétrico e de minerais. Foi um grande benefício que hoje nós já podemos compreender devidamente, mas que os que vierem depois de nós saberão agradecer com ainda mais fundados motivos.
Petróleo
Chamo especialmente a atenção para a legislação relativa ao petróleo. O abastecimento de combustível, tão necessário ao funcionamento das indústrias, como indispensável à organização da defesa nacional, não podia continuar à mercê das competições e dos acordos privados, que não tinham outro fim senão auferir o maior lucro no menor tempo possível. Por outro lado, as pesquisas do combustível nacional — cujos indícios eram tão evidentes que só aos cegos não lograriam convencer — estavam sendo inexplicavelmente prejudicadas. Regulando a matéria, o governo criou o Conselho Nacional do Petróleo, entidade oficial, porém gozando de ampla autonomia e por isso mesmo capaz de organizar, nesse difícil terreno, a defesa da economia nacional. O Conselho está em franca atividade e cumprindo admiravelmente a sua tarefa. Dele podemos esperar uma grande obra.
Conselho do Comércio Exterior
Ao Conselho Federal do Comércio Exterior, criado há alguns anos, o Presidente Vargas continua a dedicar aquela mesma atenção com que lhe acompanhou, desde o início, o desenvolvimento. Órgão informativo por excelência nas questões concernentes às nossas importações e, principalmente, às exportações, o Conselho detém ainda, por enquanto, um certo número das atribuições de controle e organização que a Constituição confere ao Conselho da Economia Nacional. Em lei recente, a sua competência foi ampliada e a sua organização desdobrada com essa finalidade. A sua ação, que já tem dado tão bons resultados até agora, ganhará nova força e incremento.
Aproveitamento da Baixada Fluminense
Os ingentes esforços do governo do Presidente Getúlio Vargas para sanear a Baixada Fluminense e promover-lhe o aproveitamento agrícola, vinham sendo, há alguns anos, frustrados por “grileiros”, antigos e recentes, que procuravam, por todos os meios, desde a chicana até as ameaças contra os funcionários federais no exercício de suas atribuições, canalizar em proveito próprio os benefícios feitos às terras pelo poder público. Fazia-se mister obviar a esse abuso, criando, para os terrenos da Baixada, e especialmente da Fazenda Nacional de Santa Cruz, o regime jurídico que mais lhes conviesse. Um decreto-lei atendeu a essa necessidade. Aquelas terras eram, desde tempos remotos, propriedade da União, e assim foram declaradas na lei, que adotou algumas disposições de ordem prática para defender os direitos do governo. Essas providências, que a alguns críticos pareceram escapar aos limites da competência legislativa, e a outros se afiguravam “revolucionárias”, obtiveram, já agora, a sanção pacífica dos tribunais.
Serviço Militar
Entre os mais importantes atos legislativos do governo está o decreto assinado pelo Presidente, na pasta da Guerra, sobre o serviço militar, e a que é necessário dar, nos jornais e em todos os órgãos de divulgação, o relevo que merece. Nessa lei, as obrigações para com a segurança nacional e a defesa da Pátria são definidas na amplitude que lhes deu a Constituição. O serviço militar deixa de ser apenas o dever de um estágio nas fileiras e um afeiçoamento rudimentar às suas exigências, para tornar-se, por assim dizer, um hábito de cada cidadão, uma preocupação familiar e permanente. Essa intima ligação com a Força Armada, essa estreita relação com o seu espírito, que é o espírito de hierarquia e disciplina, será um precioso elemento de educação da mocidade e da população em geral. Para o serviço da Pátria não há idade, não há sexo, não há condição social, ou familiar: todos são obrigados a servir, de uma forma ou de outra, na fileira ou fora dela, de acordo com as suas aptidões, porque sobre cada um repousa um pouco da responsabilidade pela independência, pela integridade e pela honra do Brasil. A nova lei vem assim completar, no campo da defesa nacional, e sob um aspecto diverso, os atos com que o governo acudiu às exigências do equipamento do Exército e da Marinha.
Completando a lei de fronteiras
A segurança nacional reclama, além disso, que as recentes disposições sobre fronteiras sejam completadas, em certos pontos que a experiência indicou, pela assistência permanente e pela ação imediata do Governo Federal. Esse assunto, o Ministério da Justiça o vem estudando, em cooperação com outros departamentos da administração pública e, especialmente, com o Ministério da Guerra e o Conselho de Segurança Nacional.
Como se fazem as leis
Ai temos uma resenha da ação legislativa de ano e meio de regime. É claro que não falei senão de leis orgânicas, de leis, por assim dizer, de caráter político, deixando de lado as leis complementares, as de execução de serviços, as de recomposição de quadros, as de organização do funcionalismo e de aparelhamento técnico e burocrático, e outras. Essas leis que, se não perfeitas. são, pelo menos, infinitamente melhores do que os escassos textos de longa gestação que nos dava o Parlamento, provêm de uma ou de outra forma, da vontade do Presidente da República: ou como resultado de suas conversações com seus ministros, ou, diretamente, como fruto da sua apreciação dos negócios do governo. De posse dessa orientação, com freqüência constante de notas do punho do Chefe de Estado, e consultadas as fontes de informação, os órgãos de elaboração põem-se em trabalho e, em menos tempo do que levava uma Comissão da Câmara ou do Senado para dar parecer, apresentam o texto à consideração do Presidente. É um sistema que foge talvez do padrão usual; mas é um sistema que dá maior rendimento de trabalho, por um custo muito menor. É esta uma verdade que precisa ser dita bem claramente para escarmento dos saudosistas e dos sebastianistas.
O regime em realização
Essa intensa atividade mostra que o regime não ficou enclausurado num texto constitucional, mas que ele se realiza cada vez mais, cada vez mais procura corresponder aos profundos anseios populares que lhe deram origem. O Presidente Getúlio Vargas definiu com propriedade esse plenum de vitalidade, no seu formoso discurso no Arsenal de Guerra. A Constituição de 1937 não foi uma criação cerebrina, nem uma imitação, nem uma experiência, mas, sim, a consubstanciação de princípios inseparáveis da formação brasileira, o instrumento adequado para a efetivação do nosso desejo de unidade e de poder.
É certo que tão grandes reformas e tão grandes coisas não se poderão fazer por força apenas de decretos. Não se ergue uma Nação sobre alicerces de papel. Mas a lei, desenvolvendo os princípios do regime, definidos expressa ou implicitamente na Constituição, dá-lhes maior possibilidade de realizar-se, atribui a cada serviço e a cada brasileiro a tarefa a desempenhar. indica os meios de ação e, sobretudo, rompe com preconceitos acumulados durante séculos e abre caminho através das mil dificuldades dos sistemas particulares que tanto mais resistem quanto mais errôneos, por corresponderem a interesses de ordem privada, a interesses contra a Nação e a sua unidade.
A CONSOLIDAÇÃO JURÍDICA DO REGIME
Problemas materiais e morais — Uma reivindicação popular — Aparelhamento judiciário — O que é o processo vigente — Revisão do Código de Processo Penal — Três ótimas leis — Linhas do novo Código Penal — Reforço da defesa coletiva — Código Civil — Código Comercial — Facilidades à mobilização do capital brasileiro — A defesa da economia popular — Saneamento da sociedade anônima — Uma resposta ao amadorismo — Código de transportes — O direito marítimo e a revolução industrial — O nosso Código de Comércio e as atuais condições do transporte marítimo — Os costumes e as normas corporativas substituíram-se ao Código — A figura do capitão de navio — Em resumo — Código único de transportes — O individualismo no Código Civil — Interpretação e retroatividade da lei — Estatuto pessoal — Pela unificação do direito das obrigações — Falências — Retomando uma velha tendência do direito brasileiro — Reparação do dano — Direito de família, das coisas e das sucessões — A Lei Orgânica dos Estados — Centralização política — E a política?
Entrevista concedida à Imprensa, em 28 de julho de 1939.
Problemas materiais e morais
Passada a fase da consolidação da ordem política — e foram sem conta os sacrifícios que ela impôs na luta contra as tendências regionalistas, a demagogia e a infiltração de exotismos — o Presidente Getúlio Vargas tem todas as forças do seu espírito privilegiado dirigidas para a rápida e exata solução dos problemas nacionais, de ordem material e de ordem moral.
Não somente o preocupa, com efeito, a economia brasileira, que ele orienta naquele sentido imperialista, a que já aludi, e que consiste na conquista do Brasil pelo Brasil, no controle e no fomento das nossas fontes de riqueza, no aproveitamento das grandes zonas de prodigiosos recursos e a que tem faltado, até agora, o auxílio do braço humano. Não lhe reclamam os cuidados apenas a cultura e as questões de assistência social. O seu pensamento volta-se, por igual, no ambiente de paz e de ordem pública de que desfrutarmos, para a necessidade de dar ao país um corpo de leis adequadas para regular o exercício dos direitos e o cumprimento dos deveres dos cidadãos: em suma, para aquilo a que poderemos chamar a consolidação jurídica do regime.
“No regime atual” — disse o Presidente, na bela e completa entrevista que concedeu ao “Paris Soir” e em que define as diretivas do regime brasileiro — “as relações entre o indivíduo e o Estado estão nitidamente definidas num conjunto de direitos e deveres. Nem o indivíduo se opõe ao Estado, no velho conflito, que degenera freqüentemente em agitações demagógicas, da concepção liberal clássica, nem o Estado o reduz à posição de escravo, segundo algumas fórmulas extremadas dos tempos modernos. Toda a originalidade do Estado brasileiro reside na sábia dosagem de um sistema de direitos e deveres recíprocos. Nesse sistema o Estado reflete a vontade da Nação organizada, como uma entidade viva, e o cidadão, tendo um lugar marcado dentro da organização nacional, dispõe de um espaço livre para o exercício de suas liberdades fundamentais.
No Brasil, havia uma crise permanente de dispersão de poderes que, sendo ruinosa para a Nação, não beneficiava o próprio indivíduo. A 10 de novembro de 1937, não instituimos um poder despótico, mas um poder institucional forte, como expressão da soberania nacional. Nesta hora de instabilidade generalizada, que atinge o homem, os seus interesses, as suas crenças e os seus princípios mais sólidos, o problema cruciante de cada povo é a cristalização de uma ordem efetiva, em torno de um núcleo orgânico. Podemos resumir o problema, num mínimo de palavras: a necessidade de governos que, realmente, governem”.
Com efeito, o regime de 10 de novembro — são ainda palavras do Presidente — não suprimiu, mas regulou o respeito aos direitos e às garantias individuais. Ele reconhece a iniciativa individual, propiciando-lhe um clima de expansão que a torna mais viva do que antes. Coexistem o individualismo, como caraterístico do poder de criação, signo da força, da inteligência e do espírito, e a ação propulsiva e coordenadora do Estado.
Eis o pensamento do supremo responsável pelos destinos do Brasil e que a nós, seus colaboradores, cumpre desenvolver na esfera de atribuições que nos está traçada pela sua esclarecida e firme vontade.
Uma reivindicação popular
Já entreguei ao Presidente o projeto do Código de Processo Civil, amplamente conhecido do país pela divulgação que mandei dar ao anteprojeto, no “Diário Oficial” e em avulso. É sabido que, nesse projeto, se preferiu, ao processo escrito, atualmente em vigor, e cujos vícios são em grande parte responsáveis pelo descrédito da justiça entre a massa do povo, o sistema denominado da concentração e oralidade.
Um mau acordo deixará, assim o esperamos, de ser melhor que uma boa demanda, e a chicana forense encontrará, finalmente, um sério obstáculo. A reforma do processo significa muito mais do que uma questão de técnica: ela constitui uma reivindicação popular, o aparelho judiciário perdendo o caráter de um segredo carismático só acessível aos grandes iniciados e manejado à mercê das conveniências e dos interesses puramente individuais, para tornar-se um instrumento adequado à pesquisa da verdade nos feitos e à distribuição da justiça entre as partes em conflito. O juiz não será mais o mero espectador do combate entre os litigantes, limitado a decidir sobre os dados, certos ou falsos, que estes lhe oferecerem, mas ficará investido da autoridade do Estado para realizar a parcela que lhe cabe no bem social.
Aparelhamento judiciário
Não nos deve impressionar demasiado a objeção de que a execução de um código de orientação progressista e que dilata o poder dos juizes, aumentando-lhes ao mesmo tempo a responsabilidade, poderá tropeçar nas falhas do nosso aparelhamento judiciário. O argumento reduzir-nos-ia a um círculo vicioso: as leis de processo não se podendo renovar por encontrar obstáculo no aparelho judiciário, e esse aparelho não se podendo igualmente renovar por falta de uma boa lei de processo que dê a medida das reformas necessárias na organização da justiça.
Em verdade, porém, não há esse círculo vicioso. A lei de processo tem primazia sobre a de organização, que deve ser lenta para servir às necessidades da justiça. Dentro do Estado, o órgão é feito para a função, e nunca a função para o órgão. Se houver choques entre a lei de processo e a organização judiciária, esta é que deve ser reformada; e a necessidade de uma reforma judiciosa a ninguém escapa, mesmo no atual estado de coisas.
O que é o processo vigente
A técnica da administração da justiça não poderia ficar indiferente à evolução das outras formas da atividade humana. Eu já tive ocasião de dizê-lo, há três anos, perante os membros do Congresso de Direito Judiciário, reunidos nesta Capital. O progresso econômico e intelectual, as transformações sociais e políticas têm forçosamente de repercutir na ordem processual. No processo brasileiro não há, de resto, verdadeiramente um sistema. Ele é, antes, uma compilação de praxes fundadas nas Ordenações, e tem origem naquele período de degradação do Direito Romano, da desarticulação da sua lógica e do seu sistema, sob a pressão dos usos das regiões que se desagregavam do Império. Ganhava-se, assim, um contato mais estreito com as peculiaridades locais, ao mesmo tempo que, no entanto, se perdia a noção do sistema. Foi um bem, de certo, mas foi um bem que já produziu os seus resultados.
Cumpre-nos, agora, realizar o trabalho de síntese. O direito público moderno definiu bem nitidamente as fronteiras dos regimes para que tenhamos a ilusão de que as leis inspiradas nos antigos postulados políticos se possam esquivar ao movimento de renovação.
Revisão do Código de Processo Penal
O Código de Processo Penal, que já se achava pronto e em mãos do Presidente, teve de sofrer uma pequena revisão, para se pôr de acordo com a lei substantiva em preparo.
Logo depois de publicada a nova lei do Júri, em janeiro de 1938, eu pedira, de fato, aos juizes Nelson Hungria, Antonio Vieira Braga e Narcelio de Queiroz, que a haviam redigido, e mais ao professor Candido Mendes de Almeida, que organizassem um projeto de Código de Processo Penal.
Em maio, a comissão entregou-me o trabalho, que revi e julgo uma obra à altura de servir perfeitamente ao Brasil. Sobre esse projeto já me pronunciei por várias vezes, em declarações feitas à Imprensa. Não será demais dizer que ele está informado de um profundo sentido de oportunidade e calcado no perfeito conhecimento que os seus autores têm da realidade das condições gerais do país. Sem deixar de assegurar, de forma sincera e eficaz, a defesa dos acusados, faz por não tornar ilusória a defesa da sociedade contra o crime, e oferece os meios necessários para a completa apuração da verdade nos processos criminais, adotando o princípio, hoje vencedor em todas as democracias do mundo, da liberdade de iniciativa das provas por parte dos juizes e do livre convencimento do julgador. Não quer dizer que este possa julgar sem provas, nem que os julgados possam ser pronunciados contra as provas existentes nos autos. As provas é que podem ser apreciadas livremente, liberto o juiz de normas preestabelecidas para determinar-lhe os meios de apreciação.
Ultimada a redação do projeto, como já estivesse muito adiantado o trabalho do anteprojeto do Código Penal, confiado ao professor Alcantara Machado, achei mais conveniente que a promulgação dos dois Códigos se fizesse ao mesmo tempo. Assim, o projeto primitivo do Código de Processo terá que ser adaptado à nova lei de direito material. Por outro lado, com os princípios adotados na redação do Código de Processo Civil, entendo que o projeto de Código de Processo Penal poderá, nesse sentido, sofrer algumas modificações.
Tão cedo se dê por terminado o projeto do Código Penal, será o de Processo posto de acordo com ele, acrescido da regulamentação de institutos não previstos pela lei atual, como o das medidas de segurança e a disciplina da ação penal, que será regulada só pelo Código de Processo.
É indispensável encarecer a vantagem e as magnificas condições de rendimento que serão obtidas por esse trabalho de conjunto, pelo qual se conseguirá uma perfeita entrosagem. dos dois Códigos.
Três ótimas leis
Estou convencido de que os códigos já preparados serão três leis úteis, três ótimas leis. O Código de Processo Civil, com as inovações introduzidas — o chamado “processo oral” — deverá prestar um enorme serviço ao povo, realizando aquele velho ideal de justiça rápida e barata que foi o mot d'ordre de tantos movimentos de opinião.
Quanto ao Código Penal, consubstancia o que de mais certo e pacífico assentou o moderno direito criminal, sem se afastar da tradição do direito e da cultura do Brasil, nem desprezar a consideração das nossas peculiaridades. O anteprojeto, redigido, a meu convite, pelo Sr. Alcantara Machado, professor da gloriosa Faculdade de Direito de São Paulo, e um dos mais elevados expoentes do pensamento brasileiro, é uma obra notável pelo saber e pelo respeito à realidade, tanto quanto pelo primor da forma.
O trabalho completo foi-me entregue em setembro do ano passado, e é o melhor projeto de código criminal que até hoje se fez no Brasil. Pensei, porém, que convinha retirar do Código, deixando para leis especiais, não só toda a matéria de contravenções, como também os crimes contra a ordem política e social e os crimes contra a economia popular, que já estão definidos em leis especiais e, pela sua natureza eminentemente política, não devem entrar, a meu ver, numa codificação de direito comum.
Por outro lado, alguns aspectos do sistema adotado pelo anteprojeto pressupunham a existência de magistratura especializada, o que, infelizmente, não é possível obter-se, de pronto, no Brasil. Sem dúvida, não é admissível que se adie por muito tempo a preparação da magistratura penal perfeitamente à altura dos grandes problemas da moderna ciência criminal; mas, também, não devemos admitir a existência de leis que, para uma eficiente aplicação, exijam conhecimentos que não estão ainda bastante difundidos na generalidade dos meios forenses do país. Tive, por isso, de revê-lo, o que fiz conjuntamente com o ministro Costa e Silva, de São Paulo, os juizes Nelson Hungria, Antonio Vieira Braga e Narcelio de Queiroz, e o promotor Roberto Lira. A comissão há vários meses se vem reunindo quase diariamente, e o trabalho está na fase final.
Linhas do novo Código Penal
A lei penal, mais do que qualquer outra, tem que ser clara, de maneira que, na sua aplicação, não haja possibilidade de interpretações sibilinas, nem oportunidades para sofisticações. Em matéria criminal, os julgamentos contraditórios, as conhecidas divergências doutrinárias dos julgados dos tribunais, as jurisprudências que variam com as transformações ocasionais na composição das câmaras de deliberação estabelecem a desconfiança na Justiça e chegam a levar a revolta ao espírito dos que não estão em condições de perceber esses bizantinismos jurídicos.
Por isso, a revisão tem procurado resolver, tanto quanto possível, todos os chamados pontos controvertidos, todas as questões de jurisprudência duvidosa, surgidas na vigência do código atual. É bem certo que tais males não podem ser evitados de todo, uma vez que são imprevisíveis as conseqüências a que a interpretação levará a aplicação da lei. E é natural que outras questões surjam, mais tarde, em face da lei nova, com tantos aspectos e problemas estranhos ao legislador de 1890. Mas, o nosso dever é reduzir ao mínimo essa probabilidade.
O futuro código, orientado pelo propósito de uma efetiva defesa social, criará, pela disciplina das penas e das medidas de segurança, um aparelhamento muito rigoroso para a repressão dos crimes. Os casos de isenção de pena sendo estabelecidos com muita cautela, dificilmente se poderão descobrir meios astuciosos de burla. Neste ponto, o direito material terá no processual uma garantia eficaz, como já temos oportunidade de apreciar nos magníficos resultados da aplicação da nova lei do Júri.
O Código não se ligará com exclusividade a nenhuma escola, nem terá modelo estabelecido. O legislador não deve ligar-se a nenhum credo filosófico, nem a nenhuma ortodoxia doutrinaria. Deve inspirar-se, principalmente, em considerações de ordem prática; deve objetivar a disciplina, de acordo com os interesses superiores do povo, deve fazer obra de oportunidade política, e, portanto, obra nacional, exclusivamente nacional. Assim sendo, a lição de outros povos só nos servirá quanto ao aspecto da técnica jurídica. Quanto à conveniência do preceito e ao maior ou menor rigor da sanção, só teremos de atender à influência da nossa opinião e à conveniência do nosso povo.
Na intenção de proporcionar ao Código Penal um máximo de estabilidade, a comissão, como eu próprio, julgou aconselhável excluir do seu texto todos os delitos que são atualmente objeto de legislação especial e julgados por uma justiça especial. Assim, os chamados crimes político-sociais, cuja disciplina está sujeita a uma adaptação mais freqüente às necessidades de uma repressão que varia com a diversidade dos meios de agressão, não farão parte do corpo do código, continuando a ser regulados à parte. Pelos mesmos motivos, as contravenções não serão objeto do Código, pois a freqüência com que novas figuras contravencionais são estabelecidas pelas leis especiais tornaria sempre incompleto o quadro das previstas pelo Código. A comissão está redigindo uma lei, que será promulgada com o Código, com o nome de “Lei de Contravenções”. e em que serão disciplinadas as contravenções de natureza propriamente penal. A lei deve durar, e um código ganha sempre, em eficiência e prestígio, com a estabilidade do seu texto.
Reforço da defesa coletiva
O Código teria forçosamente de sofrer, em suas diretrizes, a influência dos novos rumos do Direito. O indivíduo não é mais, em nossos dias, o objeto capital, e quase único, da proteção da lei e do Estado, os corpos sociais havendo-se tornado o principal sujeito de direitos. Esse princípio deve preponderar na aplicação da lei penal.
“A Constituição de 10 de novembro” — escreveu, em sua exposição, o professor Alcantara Machado — “deu nova estrutura ao Estado e novo sentido à política nacional, tornando imperiosa a mudança das diretrizes penais. Reforçar a defesa coletiva contra a criminalidade comum e resguardar as instituições contra a criminalidade política, são imperativos a que não pode fugir o legislador em países organizados da maneira por que atualmente se encontra o nosso”.
Código Civil
Acabo de tomar providências para, em cumprimento de ordem que recebi do Presidente, iniciar a revisão do Código Civil e do Código Comercial. Estão feitas as primeiras indicações dos especialistas que colaborarão nessa grande obra legislativa, cuja necessidade o Presidente Getúlio Vargas encareceu desde quando, em 1931, constituiu as comissões legislativas, cujo trabalho se interrompeu, infelizmente, em parte pela dispersão de método adotado, em parte pela superveniência da Constituição de 1934, mas a que, no entanto, recorremos como fonte subsidiária. Confiei o Código Civil ao desembargador Orozimbo Nonato, professor da Universidade de Minas Gerais e emérito conhecedor da matéria, e aos meus jovens, cultos e dedicados colegas da Universidade do Brasil, professores Hahneman Guimarães e Filadelfo Azevedo.
Código Comercial
Quanto ao Código Comercial, acredito que não seria aconselhável atacar a obra em bloco, tentando substituir o antigo por um novo Código. Esta seria tarefa para muitos anos e, talvez, fora de possibilidade de realização.
Julguei mais acertado desmembrar o Código em várias partes, confiando cada uma delas a uma equipe de especialistas. Assim, convidei para o penoso encargo os meus ilustres colegas srs. Clodomir Cardoso, Trajano de Miranda Valverde, Figueira de Almeida, Hugo Simas e João Vicente de Campos. Outros nomes serão provavelmente acrescidos a esta lista, e o Ministério da Justiça está disposto a receber a colaboração de todos os estudiosos da difícil matéria.
Homens de espírito novo e aberto à influência do moderno pensamento jurídico, os que tomaram a seu cargo a tarefa sabem que, se renovar as instituições do direito privado, não é entregar as leis do país à sedução de experiências perigosas e de novidades nefelibáticas; por outro lado, numa época em que as distâncias materiais são vencidas pelo progresso, o respeito às realidades e peculiaridades nacionais não consiste em isolar o direito brasileiro de toda repercussão dos sistemas universais. Os homens estão cada vez mas próximos uns dos outros pelos interesses econômicos tanto quanto pela cultura e até, paradoxalmente, pela trágica intensidade das suas paixões.
Facilidades à mobilização do capital brasileiro
É necessário dar, aos capitais brasileiros, facilidades para mobilizar-se com segurança, principalmente aplicar-se às industrias nacionais que a Constituição lhes reservou. É preciso estimulá-los nesse sentido. Desde que a lei atribui a brasileiros a exclusividade de certas atividades econômicas de interesse para o país, não é possível deixá-las sem realização.
A defesa da economia popular
No entanto, ao regular as sociedades anônimas, sem duvida a mais elástica das formas de sociedade comercial e a mais favorável ao desenvolvimento dos grandes negócios, a lei estabelecerá as regras indispensáveis para, definindo as responsabilidades de acionistas e administradores, salvaguardar os interesses da economia popular, que a Constituição protege.
Saneamento da sociedade anônima
A reforma visará o saneamento da sociedade anônima, removendo os motivos do descrédito em que incorreu por toda parte esse formidável instrumento de reunião e de emprego de capitais.
O saneamento das sociedades anônimas só poderá fazer-se mediante a concentração dos poderes e das responsabilidades da gestão em uma única pessoa.
Outro mal das sociedades anônimas consiste na inércia e no absenteísmo dos acionistas. Torna-se necessário colocar entre a direção e a assembléia geral de acionistas um conselho de vigilância, entre cujos poderes deliberativos será talvez conveniente incluir o da escolha da administração.
Uma resposta ao amadorismo
As objeções à oralidade do processo da falência não têm cabimento. Nem vale invocar o exemplo do passado, cujos erros a lei em vigor não corrigiu. Oralidade no processo não significa, como tem parecido à equipe de amadores da processualística, um inútil bate-boca que o juiz desprezará quando houver de apreciar a causa. A nova lei de processo associará ao debate oral a maior autoridade do juiz, que intervém no feito para tornar possível o descobrimento da verdade e assegurar, com o rápido andamento da causa, a boa administração da justiça, em que a sociedade e o Estado têm tanto interesse quanto as partes litigantes.
Código de transportes
Não me parece acertado codificar o direito marítimo como disciplina à parte. Todas as modalidades de transporte — marítimo, terrestre e aéreo — devem ser reguladas em uma única lei.
Os pontos comuns são tão númerosos, que constitui um atentado aos princípios da economia e da técnica legislativa a tentativa de separar, em corpos distintos, matérias de tão intima e profunda conexão.
O direito marítimo e a revolução industrial
O rápido desenvolvimento, a continua progressão da marinha mercante (confrontemos o número, a estabilidade, o raio de ação, a velocidade e a tonelagem dos navios daquela época com os de hoje; avaliemos a poderosa influência exercida sobre o transporte naval, sobre a indústria do armamento e sobre a economia dos transportes pelas renovadas conquistas das ciências da natureza: estruturas metálicas, propulsores mecânicos, rapidez e facilidade de comunicações, transmissões de ordens e notícias através do oceano e do espaço atmosférico), e a convicção se imporá de que o gênio humano provocou, dentro desse prazo, uma verdadeira revolução na navegação marítima, alterando-lhe fundamentalmente as condições, seja em relação aos riscos que corre, seja em relação às necessidades derivadas do distanciamento do navio do porto e do seu isolamento na vastidão do oceano, seja, enfim, em relação aos negócios e contratos, que sofreram verdadeiras metamorfoses e se desdobram em gigantescas proporções.
Solicitada por essas mutações radicais, a atenção do Legislativo deveria estar especialmente vigilante. Entretanto, o contrário é o que sucedeu. Salvo algumas intervenções insignificantes (leis sobre hipotecas marítimas, sobre conhecimentos de frete), os congressos e governos mantiveram-se indiferentes ao direito do mar.
Concorreram, talvez, para essa inércia, os dogmas consagrados da “imutabilidade” e da “peculiaridade” do direito marítimo. Donde uma discordância visceral entre as condições econômicas e os meios de navegação, de uma parte e, de outra parte, a legislação marítima.
Essa abdicação lamentável do legislador teve como conseqüência que as normas em vigor do Código de Comércio, relativas quase por inteiro a uma situação de transações que chamaremos de antigo regime, se tornam incoerentes, quando não francamente nocivas, desde que aplicadas ao tráfego náutico moderno e à mecânica atual.
O nosso Código de Comércio e as atuais condições do transporte marítimo
O Código, efetivamente, não conhece as formas atuais do armamento, nem dispõe sobre elas, e sim sobre o armador isolado e a parceira marítima, que quase não existem mais; as formas do crédito são outras que não as legisladas; o câmbio marítimo, ou dinheiro a risco, caiu em desuso há mais de quinze lustros; os privilégios estão caducos, a pacotilha desapareceu; as condições do ajuste da tripulação não se processam consoante o Código, o engajamento a artes, ou quinhão no frete, não se pratica hoje.
Sobretudo o contrato de fretamento, previsto e regulado no Código Comercial (carga, colheita, prancha e por viagem), mudou de caráter; não se regulamentaram os transportes sucessivos, as baldeações, o afretamento a tempo, nem as operações sobre mercadorias, nem as cláusulas de não responsabilidade, nem o reboque.
Junte-se a isso uma anacrônica teoria das avarias comuns; um conceito muito limitado do seguro marítimo; prazos impossíveis de observar em relação à proteção e defesa de direitos; formalidades embaraçosas, e sem razão de ser. E o que resta, depois disso, da parte II do Código Comercial, é muito pouca coisa.
Os costumes e as normas corporativas substituíram-se ao Código
A consciência jurídica do país não encontrando satisfação nas leis existentes, era natural que se formasse, como se formou, paralelamente a esse direito mumificado, novo direito vivo.
Esse novo direito marítimo, ainda amorfo e inconsistente, nasceu da confluência de duas correntes bem distintas e diversas, tanto nas suas manifestações quanto nos seus efeitos. A primeira resultou da infiltração do direito terrestre no marítimo pela legislação e pela jurisprudência.
Assim, nas relações de crédito, o processo original do direito marítimo — o dinheiro a risco — foi substituído por uma instituição civil: a hipoteca, Pelo direito comercial terrestre regem-se os adiantamentos sobre mercadorias em viagem e transferências. As sociedades anônimas, emprestadas pelo direito terrestre, substituíram as formas coletivas especiais da propriedade marítima. Aos contratos novos não previstos ou previstos sumariamente no Código Comercial, como, por exemplo, o reboque e o transporte de passageiros, aplicam-se as regras do direito comum dos contratos. A empreitada de direito civil regula a construção dos navios. A legislação industrial e social, sobretudo, invadiu o direito marítimo, impondo o horário do trabalho e o salário mínimo, assim como a assistência aos tripulantes em relação aos acidentes no serviço ou às doenças profissionais, aposentadorias e pensões. Por fim, o trabalho da gente do mar é tratado por acordos sindicais, reconhecidos e tutelados pelo Estado. Para essa obra de desnaturação do direito marítimo concorreu, sobretudo, a jurisprudência, que, na ausência, ou visível impertinência dos textos, propende a resolver as questões pelos princípios gerais e pelas regras civis, propensão que mais se acentuou depois que, com a extinção da justiça federal, os magistrados especializados deixaram de funcionar.
A segunda corrente é produto de iniciativa privada, à margem da lei e da jurisprudência, e às vezes contra elas. Não se trata, porém, de uma vigorosa manifestação consuetudinária, resultante da experiência e da prática de mútuas concessões para harmonia dos interesses, e que se cristalizasse em normas de justiça comutativa. Concebeu-a, em beneficio próprio, o esforço persistente e unilateral das forças capitalísticas que se apoderaram do comércio marítimo. Verifica ser efetivamente, por um simples relance na história da mercancia naval brasileira, nestes últimos três quartos de século, que progressivamente, todos os ramos da indústria marítima caíram nas mãos de sociedades anônimas e corporações plutocráticas as quais absorveram a iniciativa individual e o comércio marítimo. Essas sociedades e corporações, mediante seus pactos tipo, conhecimentos impressos e apólices, deram aos contratos marítimos, sobretudo aos mais importantes dentre eles — o fretamento e o seguro — uma feição inteiramente nova, que nem de longe se assemelha à estrutura traçada pela lei em vigor. Donde o resultado que as normas orientadoras do direito contratual marítimo não se encontram mais na lei escrita; também não estão nos usos e costumes. Essas normas são fixadas, na realidade, pelos estatutos corporativos das possantes organizações marítimas. Assim, as sociedades de armamento regularam o fretamento marítimo, a sabor dos seus interesses, no conhecimento-padrão redigido pelo sindicato da classe. O carregador não o pode discutir, ou modificar; tem que aceitá-lo tal e qual, ou desistir do transporte. Nesse instrumento, o armador exonera-se das responsabilidades que lhe impõe a lei e, praticamente, exerce sua indústria sem riscos. O carregador nacional está à mercê do armador, como estaria a tripulação se não fossem as leis sociais. O seguro, também, governa-se pelas cláusulas das apólices, mas não com tanta liberdade, porque estas são revistas pelo Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização.
Em resumo, em matéria marítima não temos leis marítimas. Temos ou leis terrestres, ou um direito corporativo unilateral, formando um conjunto anárquico. Temos, exatamente, nesta última parte, a negação virtual da noção do direito, por parte dos diversos interessados, por isso que a noção do direito é inseparável da supremacia e do predomínio da lei, como emanação que é do poder público e, no particular, ela se apresenta subjugada e vencida por preceitos de elaboração privada. É um fenômeno único no gênero.
A figura do capitão de navio
Quando não existiam o rádio e o telégrafo, o capitão, desde que deixava o porto de matrícula, pela força das circunstâncias, tinha que ser não só o condutor do navio, mas também o representante legal de todos os interesses ligados a ele. Compreende-se que o direito marítimo tivesse que ser um direito peculiar e autônomo. Hoje, porém, que, do seu escritório, o gerente de uma empresa de armamento orienta tão bem a indústria de transportes náuticos como o administrador da empresa ferroviária seus trens, ou o da empresa de transportes seus caminhões, só se pode falar em peculiaridades por amor à tradição. O direito do mar, como bem argumenta Henebicq, não está mais no mar, mas na terra, nas bolsas de comércio. Assim como a máquina a vapor, criação anfíbia, move igualmente os navios e os trens-expressos, o direito marítimo tornou-se também anfíbio. Todo o sistema da Ordenação de Luiz XIV, como o do nosso Código, que a reproduz, gira em torno da situação criada pelo isolamento do navio em viagem e dos poderes do capitão como representante forçado do armador e dos carregadores, das responsabilidades que nessa dupla qualidade lhe competem e da sua ação para amparar-lhes os interesses. O capitão, “magister navis”, único senhor a bordo depois de Deus, acumulava todas as funções na expedição marítima, desde o fretamento, a estiva e a arrumação, até a descarga e a entrega; demandava e era demandado pessoalmente, em nome do proprietário armador e dos carregadores, era comerciante, administrador, depositário, gerente, fretador, comissário e representante. Hoje, porém, o capitão é um simples técnico e sua função quase única é a direção do navio. A parte comercial está inteiramente a cargo do armador e de seus prepostos, inclusive estiva e arrumação a bordo. Nem em viagem o capitão intervém na carga, pois, logo depois do carregamento, os porões são fechados, e só abertos à chegada, ou nas escalas. Não há, assim, necessidade de abrigar as leis marítimas dentro de um quadro especial na organização do direito. Ele se acomodará perfeitamente num código, ou lei orgânica geral sobre transportes, juntamente com a navegação fluvial, aérea e terrestre.
Em resumo
As normas do direito terrestre — direito civil, comercial, industrial e social — que afastaram, em quase todas as matérias de grande relevância, as normas peculiares de direito marítimo tendem, cada vez mais, a sobrepôr-se-lhes, porque aquilo que as distinguia outrora era ser o direito terrestre excessivamente individualista, “jus proprium” — um direito para determinada sociedade, dentro de determinado território, ao passo que o direito marítimo era um direito de solidariedade, com tendências à universalidade, um verdadeiro “jus gentium”. Hoje, porém, o direito terrestre, socializando-se, suavizou as arestas e alargou o quadro rígido em que o afeiçoara o duro gênio romano. Seus princípios fundamentais são idênticos em todo o mundo civilizado. A tendência à universalização verifica-se em todos os ramos do direito, não mais unicamente no marítimo. É um fenômeno constante, que marcha de par com a progressiva universalização dos usos e costumes.
A parte creditória do direito marítimo rege-se hoje inteiramente pelo direito terrestre, e por este se guiam o armamento e a locação de serviços. Dentre as instituições próprias à lei do mar, só subsistem o abandono liberatório e a avaria comum, — e esta perderá sua razão de ser desde que, com a instituição obrigatória do seguro, tal como se previu na criação do Instituto de Resseguros, a compensação do prejuízo conseqüente ao sacrifício deliberado para salvação comum terá que ser debatida somente entre os vários seguradores do casco e da carga, não havendo outros interessados. Quanto ao abandono liberatório, é uma instituição que se poderá estender aos transportes terrestres, não havendo motivos especiais para restringir ao proprietário marítimo essa forma especial de pagamento.
Relativamente aos transportes marítimos, é certo que estes tendem a aproximar-se, cada vez mais, dos terrestres, não somente na sua aparência, com serviços regulares, comportando partidas e chegadas a horas fixas e agências permanentes das grandes companhias, preenchendo todas as funções comerciais das estações ferroviárias, mas, também, pela equivalência crescente dos riscos. O grande paquete, que leva ao destino milhares de fardos, não está mais exposto à fúria dos elementos do que o trem de carga que circula nas vias férreas. A marinha mercante, outrossim, não independe do comércio terrestre, mas está vinculada a todas as forças produtoras do país. Constitui um prolongamento da atividade nacional sobre o mar. A mercadoria, colhida no lugar de origem — na fazenda, na fabrica, na mina — é levada ao seu destino pelos meios mais variados — carros e caminhões, trens, e também barca e navio. Tudo é caminho: as estradas, as vias-férreas, os rios e o mar. Os transportes terrestres entrosam-se nos marítimos, sendo freqüentes os contratos que prevêem, ao mesmo tempo, transportes marítimos e terrestres. O porto não pode viver sem estar ligado por artérias terrestres e fluviais com o interior, nem este sem as saídas para o mar; todo o movimento comercial do hinterland e dos países estrangeiros limítrofes está numa constante troca de mercadorias e produtos. Essa especulação processa-se pela correlação estreita dos transportes terrestres com os marítimos e, atualmente, também com os aéreos. Como resultado de todas essas influências, as regras gerais, que fixam os deveres e direitos recíprocos do condutor e do carregador, tornaram-se, no substancial, idênticas, tanto para o transporte terrestre quanto para o marítimo e o aéreo.
Os elementos fundamentais de fato, que emprestavam ao direito marítimo sua feição particular, eram: o isolamento do navio no mar, a situação especialíssima de capitão, o transporte autárquico. Ora, hoje, com a radiotelegrafia e outros meios de comunicação, não se pode dizer que o navio viaja isolado, pois está em constante ligação com a terra, recebendo daí, ainda que em alto mar, as ordens e instruções do armador. Quanto ao capitão, como dissemos, é hoje apenas o orientador técnico do navio. O transporte autárquico existe, no mar como em terra, porque as mercadorias — no trem, no caminhão, no aeroplano, como no navio — desde que embarcadas, fogem completamente ao controle do dono, assim como do administrador comercial da empresa transportadora, seja terrestre, seja marítima, ficando inteiramente à mercê do condutor e de seus subordinados.
Não existem mais, por isso, motivos para emprestar ao transporte marítimo normas reguladoras peculiares e diferentes das dos transportes terrestres.
Código único de transportes
Enquadrar o direito marítimo atual num sistema rígido, retilíneo, construindo-lhe como que um domínio próprio, e fazendo o mesmo para o direito terrestre de transporte, não me parece cientifico. Não sou partidário dessa técnica de etiquetar certas relações de direito e engavetá-las num código. Creio que aquilo que pede o interesse nacional é uma lei orgânica de transportes, que contenha todas as disposições de direito público e privado sobre a matéria, sem distinguir os transportes marítimos dos terrestres ou aéreos: lei que compendiará, porém, em capítulos especiais, as normas peculiares a cada um.
O individualismo no Código Civil
Apesar de ser uma grande obra, o Código Civil ressente-se de numerosos defeitos técnicos, que não se encontravam no projeto de Clovis Bevilaqua e vieram prejudicar o sistema construído com mão segura pelo eminente jurista. Copiosa legislação posterior e paralela mostra, além disso, que as disposições do Código não atendem satisfatoriamente às necessidades da hora presente. O que impõe com maior urgência a revisão é, porém, a necessidade de termos um código inspirado nos princípios da ordem jurídica que a Constituição de 10 de novembro estabeleceu. A feição acentuadamente individualista do Código não se amolda aos interesses da família e da ordem econômica, protegidos pelo Estado. E educação integral da prole precisa ser tutelada com providencias mais eficazes que as atuais. Em relação aos filhos naturais, devem os pais ter os mesmos direitos e deveres existentes com respeito aos filhos legítimos, igualando-se aqueles a estes e facilitando-se-lhes o reconhecimento. Na ordem econômica, a liberdade contratual precisa harmonizar-se com o princípio da solidariedade social, com a proteção devida ao trabalhador, com os interesses da economia popular, com a preocupação de reprimir a usura.
Interpretação e retroatividade da lei
A comissão revisora dedica-se presentemente à reforma da Introdução do Código Civil, preparando um projeto em que serão coordenadas as normas sobre a obrigatoriedade e a aplicação da lei. Serão ai resolvidos, com maior desenvolvimento que no direito em vigor, os problemas suscitados em torno da interpretação e da irretroatividade, que não só deixou de ser um limite legislativo, como também precisa ser considerada à luz de critério mais amplo que o dos direitos adquiridos ou dos fatos jurídicos perfeitos, separando-se os casos de mero efeito imediato da lei dos em que ocorrerá o efeito propriamente retroativo.
Estatuto pessoal
Os problemas que provocam a aplicação das leis estrangeiras exigem soluções mais completas e sistemáticas que as adotadas nos artigos 8 a 21 da Introdução. As alterações que o Congresso fez na parte dos projetos Primitivo e Revisto, concernente a este assunto, mutilaram profundamente a obra de Clovis Bevilaqua. É preciso restaurá-la. No que diz respeito ao estatuto pessoal, o meu parecer é que seja preferido o direito do domicílio, consoante o pensamento de Teixeira de Freitas e de Carlos de Carvalho, traduzido nas emendas que o ministro Eduardo Espinola apresentou, por ocasião dos trabalhos da la. Sub-Comissão Legislativa.
Pela unificação do direito das obrigações
Far-se-á depois a revisão do direito das obrigações, que será estendida ao Código Comercial, para se estabelecer um novo direito comum do crédito. Talvez se possa combater a unificação do direito privado, mas não há argumentos que demonstrem a necessidade de regular em dois códigos as mesmas relações creditórias. É, hoje, injustificável a diversidade de disciplina em matéria de modalidades das obrigações, do pagamento, da novação, da compra e venda, da troca, da locação, do mandato, etc. As inovações trazidas às relações obrigacionais pelo direito comercial foram assimiladas pelo civil. Houve a chamada comercialização do direito civil e, por isso, os negócios mercantis não exigem mais regras especiais, diferentes das que vigoram para a atividade comum. O Código Comercial brasileiro regulou extensamente as obrigações, a exemplo de outros, porque a legislação civil era deficiente e informe. Deve-se observar, aliás, que as disposições sobre compra e venda e locação mercantis se originaram do Código Civil francês. A doutrina já se manifestou favorável também a que certos contratos, como a troca e o mandato, fossem excluídos do Código Comercial. A unidade do direito das obrigações já tem por si dois convincentes exemplos: o direito das obrigações suíço, que, em 1936, sofreu a segunda revisão, e o Código polonês das obrigações, vigente desde julho de 1934. A tendência unificadora já se fez sentir também na França, havendo sido nomeados, por decreto de 1932, os membros de uma comissão de estudos para a revisão e a unificação das disposições de direito civil e comercial, relativas às obrigações e aos contratos.
Falências
Há opiniões, sem dúvida respeitáveis, em favor da limitação da falência aos comerciantes. Pessoalmente, e ressalvado novo exame de matéria, inclino-me pela remodelação da execução concursual, no sentido de estabelecer-se a falência civil.
Penso que não foi um bem que só tivessem passado ao Código Civil as disposições do Projeto Primitivo sobre preferências e privilégios, abandonando-se as que estabeleciam o regime da insolvência civil, já antes adotado por Coelho Rodrigues e que constituiria largo avanço no sentido de estabelecer-se um direito falimentar unificado. A aplicação do processo de concurso a todos os devedores insolventes, sem distinguir entre comerciantes e não comerciantes, é necessidade já reconhecida pelas legislações alemã e suíça, e pela doutrina.
Retomando uma velha tendência do direito brasileiro
Em nosso direito, o decreto n.° 370, de 2 de maio de 1890, artigo 380, já sujeitava à jurisdição comercial e à falência todos os signatários de efeitos comerciais, inclusive os que contraíssem empréstimos mediante hipoteca, penhor agrícola ou bilhetes de mercadorias. Teríamos, assim, a possibilidade da falência do devedor não comerciante, se leis posteriores não nos tivessem remetido para o grupo dos países que distinguem a falência do devedor comerciante e a insolvência do devedor civil.
Há, como observa Navarrini, uma consideração óbvia na qual se quebram todos os argumentos apresentados pelos que defendem o chamado sistema francês: é que não existe motivo para tutelar-se mais eficazmente quem dá crédito ao comerciante. A tutela deve ser a mesma, quer se trate de devedor comerciante, quer se trate de devedor civil. A simpatia pelo regime germânico, pelo regime falimentar comum, não data, entre nós, de época recente. Na magnifica introdução à sua “Nova Consolidação das Leis Civis”, Carlos de Carvalho mostrava, enfileirando as legislações de diversos países, até 1899, que a tendência dominante era favorável à extensão do processo concursual a todo devedor insolvente.
Acredito que o processo falimentar único, generalizando o “jus paris conditionis creditorum”, retomaria uma tendência várias vezes contrariada do direito brasileiro — fiel, neste ponto, à tradição romana.
Reparação do dano
O direito das obrigações por atos ilícitos está há muito reclamando uma reforma, a que a comissão atenderá. A reparação do prejuízo deve obedecer a princípios mais justos que os atuais, fundados na tradicional mas inaceitável oposição entre dano contratual e extra-contratual. É preciso, além disto, abrandar o exagerado subjetivismo do Código. Em certos casos, a obrigação de reparar o dano deveria ser imputada a pessoas que não tenham culposamente concorrido para ele.
Direito de família, das coisas e das sucessões
A Comissão voltar-se-á, logo depois, para o direito de família e. mais tarde, para o direito das coisas e o das sucessões. Espero, em breve, submeter ao exame da opinião pública os trabalhos da comissão, para que lhes sejam oferecidas sugestões e emendas.
A Lei Orgânica dos Estados
A Lei Orgânica dos Estados foi republicada. Haviam escapado à revisão pequenos senões, que era preciso corrigir. E não se faça carga de lapsos dessa espécie à legislação do Estado Novo, quando há cochilos de redação no próprio código Civil, sobre o qual passaram, anos a fio, os olhos dos mais eminentes e decorativos juristas, legisladores e filólogos que já viveram neste país. Quandoque bonus... Mas não se alterou a essência do Decreto-Lei n. 1.202, e tenho a certeza de que ele prestará à Nação, aos Estados e aos seus governos um serviço inestimável.
Grandes e belos esforços perdem-se, muitas vezes, por falta de continuidade e de unidade. A essa unidade e continuidade de ação é que a Lei Orgânica procurou dar o meio de realizar-se. O Ministro da Justiça sente-se feliz de ter cooperado com o Presidente no preparo desse grande estatuto, que corrige erros inveterados de descentralização política. Unir-se, ou perecer: uma Nação digna de seu nome não pode hesitar dentro desse dilema, que não se apresenta apenas a nós, brasileiros, mas a todos os povos do mundo.
Centralização política
Note-se que o Decreto-lei n. 1.202 não procura efetuar a centralização administrativa: visa, apenas, a centralização política, como é natural que suceda neste período, durante o qual a Constituição entregou ao Presidente os mais amplos poderes para a reconstrução econômica do Brasil e, digamos assim, para a realização da sua unidade e do seu poder. O controle da legislação sobre matéria que envolva direitos e deveres dos cidadãos, sobre as matérias da competência concorrente da União, sobre economia e finanças, especialmente o saneamento tributário, decorre da necessidade dessa centralização política. Tudo quanto se faz, a respeito, em cada Estado, tem forçosamente uma repercussão profunda na vida da União, e não era possível deixar que a disparidade de critério viesse prejudicar a uniformidade da grande obra de reerguimento nacional que o Presidente vem realizando. O sistema adotado pela Lei Orgânica permite que todos esses esforços se desenvolvam e articulem num todo harmonioso, para o bem do Brasil, de cada uma de suas unidades e de cada um de seus filhos. Foi o que procurou o Presidente, promulgando o Decreto-lei: e estou certo de que ninguém lhe negará, por atos ou omissões, a sua cooperação.
E a política?
Política? Novidades políticas? Mas o que eu lhe disse já não é política?
É política dotar o Brasil de leis claras e justas. É política promover a boa distribuição da justiça. É política aperfeiçoar a administração. É política realizar obras produtivas. É política aparelhar as forças armadas. É política fomentar a harmonia nacional. É política desenvolver o espírito da unidade da Pátria. Tudo isto é política, a melhor política, e essa política é a que vêm praticando todos os órgãos do governo, sob a clara direção do Presidente Getúlio Vargas.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO PROJETO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Decadência do processo tradicional — O processo como instrumento de dominação política — A concepção duelística e a concepção autoritária do processo — Sentido popular do novo sistema — A opinião de Taft, Elihu Root e Roscoe Pound — A restauração da autoridade e do caráter popular do Estado — A função do juiz na direção do processo — Chiovenda e a concepção publicística do processo — Willoughby, Suderland e os poderes do juiz — Produção e apreciação das provas — Forma das ações — Recursos — Nulidades — Oralidade, concentração e identidade do juiz — Críticas e objeções ao sistema oral — Fontes do sistema tradicional — A elaboração do projeto — A reforma do processo e a unidade política do país.
Decadência do processo tradicional
Este documento legislativo já era uma imposição da lei constitucional de 34, e continuou a sê-lo da Constituição de 37. Era, porém, sobretudo, uma imposição de alcance e de sentido mais profundos: de um lado, a nova ordem política reclamava um instrumento mais popular e mais eficiente para distribuição da justiça; de outro, a própria ciência do processo, modernizada em inúmeros países pela legislação e pela doutrina, exigia que se atualizasse o confuso e obsoleto corpo de normas que, variando de Estado para Estado, regia a aplicação da lei entre nós. Já se tem observado que o processo não acompanhou, em nosso país, o desenvolvimento dos outros ramos do Direito. O atraso em que se achavam as nossas leis judiciárias refletia-se sobre o trabalho dos estudiosos, e, enquanto por toda parte as construções teóricas mais sagazes, e por vezes mais ousadas, faziam da ciência do processo um campo de intensa renovação, a doutrina nacional retardava-se no repisar de praxes, fórmulas e máximas de que fugira o sentido e de que já não podíamos recolher a lição. O processo era antes uma congerie de regras, de formalidades e de minúcias rituais e técnicas a que não se imprimia nenhum espírito de sistema e, pior, a que não mais animava o largo pensamento de tornar eficaz o instrumento de efetivação do direito. Incapaz de colimar o seu objetivo técnico, que é o de tornar precisa em cada caso a vontade da lei, e de assim tutelar os direitos que os particulares deduzem em juízo, o processo decaíra da sua dignidade de meio revelador do direito e tornara-se uma arma do litigante, um meio de protelação das situações ilegítimas, e os seus benefícios eram maiores para quem lesa o direito alheio do que para quem acorre em defesa do próprio.
O processo como instrumento de dominação política
Pode-se dizer, porém, que não foi de caráter meramente técnico a crise do nosso Direito Judiciário. As profundas transformações operadas em todos os campos da atividade humana, particularmente as transformações sociais e políticas, concorreram para manifestar a extensão dessa crise, pois levaram os benefícios da ordem jurídica a terrenos que a velha aparelhagem judiciária não estava capacitada para alcançar. O processo em vigor, formalista e bizantino, era apenas um instrumento das classes privilegiadas, que tinham lazer e recursos suficientes para acompanhar os jogos e as cerimônias da justiça, complicados nas suas regras, artificiosos na sua composição e, sobretudo, demorados no seu desenlace. As transformações políticas que entre nós se cumpriram abrem, entretanto, o gozo dos instrumentos de governo a uma imensa massa humana, que antes não participava deles senão indireta e escassamente, e assim impõem um novo regime à administração da justiça. Antes, esta podia Ser assimilada a certos serviços públicos, destinados ao uso de alguns, e em relação aos quais o Estado pode revelar menos vigilância, deixando aos interessados o cuidado de melhorá-los. Em tal atmosfera, o processo poderia continuar a ser um conjunto de regras destinadas a orientar a luta judiciária entre particulares, que dela se serviriam à mercê do seu interesse ou dos seus caprichos. É ainda a concepção duelística do processo judiciário, em que o Estado faz apenas ato de presença, desinteressando-se do resultado e dos processos pelos quais foi obtido. A transformação social elevou, porém, a Justiça à categoria de um bem geral, e isso não apenas no sentido de que ela se acha à disposição de todos, mas no de que a comunidade inteira está interessada na sua boa distribuição, a ponto de tomar sobre si mesma, através dos seus órgãos de governo, o encargo de torná-la segura, pronta a acessível a cada um. Responsável pelos bens públicos, o Estado não pode deixar de responder pelo maior deles, que é precisamente a Justiça, e à sua organização e ao seu processo há de imprimir os traços da sua autoridade.
A concepção duelística e a concepção autoritária do processo
À concepção duelística do processo haveria de substituir-se a concepção autoritária do processo. À concepção do processo como instrumento de luta entre particulares, haveria de substituir-se a concepção do processo como instrumento de investigação da verdade e de distribuição da justiça.
Essa reforma do processo, destinada a pôr sob a guarda do Estado a administração da justiça, subtraindo-a à discrição dos interessados, tem um sentido altamente popular. Nenhum ramo de ciência jurídica se havia tornado tão hermético como o processo. Dos complicados lances em que se esmeravam os malabaristas da vida forense, o povo deixara há muito de perceber as razões do fracasso ou do êxito. A ordem judiciária tornara-se inacessível à compreensão popular, e com isto se obliterava uma das finalidades mais altas do Direito, que é introduzir e manter a segurança nas relações sociais. Seguro embora de seu direito, ninguém afrontava sem receio os azares imperscrutáveis de uma lide. Deixando à mercê de si próprio e do adversário, o homem via no juízo um ordálio de que só o acaso ou a habilidade o faria sair vencedor.
Sentido popular do novo sistema
Nesse sentido, o novo processo é eminentemente popular. Pondo a verdade processual não mais apenas a cargo das partes, mas confiando, numa certa medida, ao juiz a liberdade de indagar dela, rompendo com o formalismo, as ficções e presunções que o chamado “princípio dispositivo”, de “controvérsia” ou “contradição”, introduzira no processo, o novo Código procura restituir ao público a confiança na Justiça e restaurar um dos valores primordiais da ordem jurídica, que é a segurança nas relações sociais reguladas pela lei.
Noutro sentido ainda podemos falar do cunho popular do novo processo: ele é um instrumento de defesa dos fracos, a quem a luta judiciária, nos quadros do processo anterior, singularmente desfavorecia. Eis o que a respeito escreveu o presidente Taft:
“Pode-se afirmar, como uma proposição geral, que o que tende a prolongar ou demorar o processo é uma grande vantagem para o litigante que tem a maior bolsa. O indivíduo que tem envolvido no litígio tudo o que possui é muito prejudicado em uma luta judiciária com um contendor apto, pelos seus recursos, a prolongar a lide e, portanto, a manter, pelo maior espaço de tempo possível, o outro litigante privado daquilo que realmente lhe pertence”.
Somente a intervenção ativa do Estado no processo pode remover as causas de injustiça, que tão freqüentemente ocorrem nas lides judiciárias, criando em torno da justiça uma atmosfera, muitas vezes imerecida quanto aos juizes, de desconfiança e de desprezo público.
Para ilustrar as outras falhas do processo tradicional, eu me limitarei, tão sobejamente conhecidas são as do nosso, a transcrever algumas críticas, das mais autorizadas, ao processo, semelhante ao nosso, ainda vigente em um dos países mais cultos do mundo.
A opinião de Taft, Elihu Root e Roscoe Pound
Eis como em relação ao processo nos Estados Unidos se pronunciam Taft, Elihu Root e Roscoe Pound.
Escreve o primeiro:
“Se alguém perguntasse em que ponto do nosso governo mais nos distanciamos do ideal, penso que poderíamos responder, a despeito dos notórios defeitos da nossa administração municipal, que no fato de não termos assegurado, de maneira eficaz, nos nossos tribunais, a efetivação dos direitos públicos e privados”.
Elihu Root, ainda mais explícito, comenta os mesmos defeitos, em termos mais candentes:
“Quando nos voltamos para o campo ocupado por nossa profissão, não podemos deixar de sentir que o nosso país seria mais forte se tivéssemos mudado os caraterísticos da nossa administração da justiça. Não há país no mundo em que a administração da justiça custe de maneira tão desproporcional ao volume dos litígios. As delongas processuais, o mau ajustamento da máquina de distribuição da justiça e o exagerado formalismo do processo representam incalculável prejuízo de tempo para todos quantos, particulares ou serventuários, participam do funcionamento da justiça”.
Roscoe Pound assim se exprime:
“Nossa organização judiciária é arcaica e nosso processo atrasou-se em relação ao nosso tempo. Incertezas, delongas, despesas e, sobretudo, a injustiça de decisões fundadas exclusivamente em pontos de etiqueta judiciária — resultado direto da nossa organização judiciária e do caráter antiquado do nosso processo — criaram nos homens de negócio o desejo de cada vez mais se absterem de recorrer aos tribunais”.
Os defeitos apontados pelos três grandes nomes da jurisprudência americana são os mesmos de que padece a nossa administração da justiça, particularmente o instrumento pelo qual ela se exerce, que é o processo.
A restauração da autoridade e do caráter popular do Estado
O regime instituído em 10 de novembro de 1937 consistiu na restauração da autoridade e do caráter popular do Estado.
O Estado caminha para o povo e, no sentido de garantir-lhe o gozo dos bens materiais e espirituais, assegurado na Constituição, teve que reforçar a sua autoridade, a fim de intervir de maneira eficaz em todos os domínios que viessem a revestir-se de caráter público.
Ora, se a justiça, em regime liberal, poderia continuar a ser o campo neutro em que os interesses privados procurariam, sob a dissimulação das aparências publicas, obter pelo duelo judiciário as maiores vantagens compatíveis com a observância formal de regras de caráter puramente técnico, no novo regime haveria de ser um dos primeiros domínios, revestidos de caráter público, a ser integrado na autoridade de Estado.
Do que fica dito resulta, necessariamente, o sistema que foi adotado no projeto. A questão de sistema não é uma questão a ser resolvida pelos técnicos; é uma questão de política legislativa, dependendo, antes de tudo, do lugar que o Estado, na ordem dos valores, destina à justiça, e do interesse maior ou menor que o Estado tenha em que ela seja administrada como o devem ser os bens públicos de grau superior. Ora, ninguém poderá contestar que no mundo de hoje o interesse do Estado pela justiça não pode ser um interesse de caráter puramente formal: a Justiça é o Estado, o Estado é a Justiça. À medida que crescem o âmbito e a densidade da justiça, a sua administração há de ser uma administração cada vez mais rigorosa. mais eficaz, mais pronta e, portanto, requerendo cada vez mais o uso da autoridade pública.
A função do juiz na direção do processo
O primeiro traço de relevo na reforma do processo haveria, pois, de ser a função que se atribui ao juiz. A direção do processo deve caber ao juiz; a este não compete apenas o papel de zelar pela observância formal das regras processuais por parte dos litigantes, mas o de intervir no processo de maneira que este atinja, pelos, meios adequados, o objetivo de investigação dos fatos e descoberta da verdade. Dai a largueza com que lhe são conferidos poderes, que o processo antigo, cingido pelo rigor de princípios privatísticos, hesitava em reconhecer-lhe. Quer na direção do processo, quer na formação do material submetido a julgamento, a regra que prevalece, embora temperada e compensada, como manda a prudência, é que o juiz ordenará quanto for necessário ao conhecimento da verdade.
Chiovenda e a concepção publicística do processo
Prevaleceu-se o Código, nesse ponto, dos benefícios que trouxe ao moderno direito processual a chamada concepção publicística do processo. Foi o mérito dessa doutrina, a propósito da qual deve ser lembrado o nome de Giusepe Chiovenda, o ter destacado com nitidez a finalidade do processo, que é a atuação da vontade da lei num caso determinado. Tal concepção dá-nos, a um tempo, não só o caráter público do direito processual, como a verdadeira perspectiva sob que devemos considerar a cena judiciária, em que avulta a figura do julgador. O juiz é o Estado administrando a justiça; não é um registro passivo e mecânico de fatos em relação aos quais não o anime nenhum interesse de natureza vital. Não lhe pode ser indiferente o interesse da justiça. Este é o interesse da comunidade, do povo, do Estado, e é no juiz que tal interesse se representa e personifica.
Nem se diga que essa autoridade conferida ao juiz no processo está intimamente ligada ao caráter mais ou menos autoritário dos regimes politicos. É esta a situação dos juizes na Inglaterra; esta, a situação pleiteada para eles, nos Estados Unidos, por todos quantos se têm interessado pela reforma processual.
Willoughby, Suderland e os poderes do juiz
Eis o que a respeito escreve W. F. Willoughby, diretor do Institute for Government Research, no livro em que estudou a fundo os defeitos da processualística americana e as urgentes reformas que está a exigir:
“Entre esses princípios básicos, nenhum é de importância mais fundamental do que o do papel a ser desempenhado pelo juiz na condução do processo no tribunal. Concretamente, a questão apresentada é se o juiz deve assumir a efetiva responsabilidade de verificar que todos os fatos estejam plenamente e convenientemente aduzidos, e, quando intervém o júri, de o aconselhar e auxiliar na ponderação desses fatos, ou se deve restringir suas funções às de um simples moderador, com o dever de observar se as regras da lide são devidamente observadas pelas partes litigantes ou por seus procuradores. É difícil exagerar a importância da alternativa ora apresentada. A decisão que a respeito se tome determina todo o caráter do procedimento judicial. De modo geral, pode-se dizer que a Inglaterra. segue o primeiro sistema e os Estados Unidos o segundo. Na Inglaterra, o juiz tem o controle de todas as fases do processo”. (“Principles of Judicial Administration”, pag. 455).
Entre os dois sistemas, o que atribui ao juiz o poder e a responsabilidade na direção do processo e o que o reduz a mero espectador do ordálio judiciário, qual o recomendado por Willoughby? Ai vão as suas palavras:
“Quanto aos méritos relativos dos dois sistemas, não pode haver dúvida. O sistema inglês está certo, o americano errado. Tanto a teoria quanto a experiência o demonstram. Em princípio, recai sobre o governo o dever positivo de verificar que justiça seja feita, e ele falta ao seu dever se o desfecho for deixado à mercê da relativa habilidade com que os litigantes conduzirem o pleito. Em geral, a idéia de um duelo judiciário, que está na base do sistema do processo judicial nos Estados Unidos, é radicalmente errada” (Willoughby, op. cit., pag. 457).
Não menos explícito, quanto ao ponto, o professor Suderland:
“Em princípio, não há diferença entre uma decisão baseada sobre o embate de habilidade processual entre dois advogados e uma decisão baseada sobre o embate de forças entre dois campeões armados. Nós sorrimos quando nos dizem que o juízo pelo embate, ainda que atualmente obsoleto, era um método legal de decidir casos na Inglaterra, até ser abrogado pelo Parlamento, há cerca de cem anos atrás, e nós nos maravilhamos de que uma nação de sentimentos tolerasse tanto tempo uma tal anomalia. Mas, enquanto na Inglaterra, o juízo pelo combate existia somente nas páginas poeirentas das coleções de leis, e foi redescoberto por acaso, nos Estados Unidos, o juízo pelo combate floresce de alto a baixo, com os tribunais por liça, os juizes por árbitros, e os advogados, aguerridos com todas as armas de sagacidade da armadura legal, por campeões das partes. É um sistema que está rapidamente destruindo a confiança do povo na administração da justiça pública”. (Suderland, “An appraisal of english procedure”).
A Comissão a que se incumbiu, na Califórnia, o projeto de reforma do processo criminal, assim se manifestou no seu relatório, relativamente à função que o juiz deve exercer no processo:
“A finalidade do processo judicial deve ser chegar à verdade, sem consideração da habilidade dos advogados das partes respectivas. Para realizar isso, bem como para apressar o processo, é essencial que o tribunal seja mais do que um simples árbitro”. (“Report”, pag. 18).
Elihu Root, escrevendo sobre o processo que reduz o juiz a uma função passiva, diz:
“Ele torna certo que as vantagens individuais decorrentes de se ter um advogado mais sagaz não devem ser postas à margem. Ele garante ao indivíduo o direito de vencer se puder, e nega ao público o direito de ver realizada a justiça. Transforma a lide num simples encontro esportivo entre juristas, e proíbe a interferência do árbitro no jogo”. (“Public Service by the Bar”. Report, American Bar Association, 1916, pags. 363-364).
Produção e apreciação das provas
Outro caraterístico do sistema processual consubstanciado no projeto, e que se pode considerar como corolário da função ativa e autoritária do juiz, é, seguramente, o papel atribuído ao juiz em relação à prova. No processo dominado pelo conceito duelístico da lide judiciária, as testemunhas e os peritos são campeões convocados pelas partes para ajudá-las na comprovação das suas afirmativas. No processo concebido como instrumento público de distribuição da justiça, as testemunhas e os peritos passam a ser testemunhas e peritos do juízo.
O seu dever é dizer e investigar a verdade, sem as restrições que hoje incidem sobre elas. Embora as primeiras sejam indicadas pelas partes, uma vez convocadas pela justiça, passam a ser auxiliares desta. Willoughby escreve, no livro em que condensou de modo admirável as aspirações dos profissionais e do público em relação — à reforma das leis processuais americanas:
“Pareceriam ser fortes argumentos em favor do abandono de todo este sistema e de sua substituição por outro no qual as testemunhas não são convocadas somente pelo tribunal (ainda que sejam citadas, naturalmente, por sugestão das partes) mas, quando convocadas, adquirem a condição antes de testemunhas do juízo que das partes. De acordo com isso, o juiz deveria ter o direito, e exercê-lo livremente, de inquirir ele próprio as testemunhas, com o objetivo de obter uma completa e conveniente apresentação dos fatos, dentro dos limites do conhecimento delas e, quando as partes tenham faltado à produção de um testemunho material ou à manifestação de um documento material, de fazer com que tal testemunho seja convocado ou o documento exibido”. (Willoughby, op. cit., pag. 478).
Em relação à prova pericial, o projeto encontra a sua melhor justificativa nestas palavras de Willoughby:
“Logicamente, e de um ponto de vista prático, parecia ser da essência de tal testemunho que ele representasse um juízo, absolutamente imparcial e independente, das pessoas que o prestassem. No sistema vigente, entretanto, essas testemunhas são escolhidas unicamente em atenção ao fim de fornecerem prova que favorecerá à parte responsável pela sua escolha. Devia verificar-se, e provavelmente na maioria dos casos é certo, que tais testemunhas não são chamadas a depor e não depõem contrariamente às suas convicções. É um fato, contudo, inevitável, que tais testemunhas sofrem um incentivo para fazer seu depoimento tanto quanto possível, conforme aos desejos das partes que as chamaram. Na melhor das hipóteses, elas procuram apresentar os fatos favoráveis às alegações de tais partes, enquanto não fazem esforço algum a respeito dos fatos que lhes são desfavoráveis. Mesmo quando isso não se dá, sempre resta o fato que só são chamadas como peritos. as pessoas que à previa inquirição das partes se revelam inclinadas a dar, por motivo de convicção científica ou de outra natureza, o testemunho desejado. O resultado do sistema é que, na maioria dos casos em que se exige prova dessa natureza, são apresentadas ao tribunal provas parciais e contraditórias, deixando-lhe assim, ou ao júri, o encargo de decidir entre pontos de vista em conflito.
“Se alguém tem em mente a natureza especial dessa prova e o seu objetivo próprio, não encontrará justificação alguma para tal sistema. Todos os argumentos são a favor do estabelecimento da regra segundo a qual os peritos, em qualquer caso, devem ser escolhidos e convocados por iniciativa do próprio tribunal. Se assim convocados, eles serão escolhidos de maneira inteiramente desinteressada, e não terão outro objetivo senão esclarecer o tribunal, quanto sua capacidade lhes permita. Fazendo uma seleção de tais peritos, o tribunal será influênciado somente pelo desejo de assegurar a sua mais útil informação e de modo algum pela direção que possa tomar o testemunho.
“Parece razoável pensar, pois, que, via de regra, serão obtidos peritos de maior competência, já que a não adoção desse sistema é devida quase exclusivamente à liberdade indefensável com que são tratadas nos tribunais as partes litigantes, como num duelo judiciário, presidido por um juiz com poderes de árbitro”. (Willoughby, op. cit., pags. 479-480).
Não se verá, porém, na liberdade com que o magistrado dirige a prova, a adoção do princípio, preconizado no processo penal, de livre convicção do juiz. Pelo fato de coligir os seus meios de convicção, não fica o juiz autorizado a julgar com inobservância das regras estabelecidas pela lei civil quanto á forma e á prova dos atos jurídicos. Se assim não fosse, estariam burladas as razões de economia e de amor à segurança, que inspiraram ao legislador as raras exceções feitas ao princípio de que os atos independem de forma especial.
Três outros traços distintivos do projeto, no sentido da simplificação e da racionalização do processo, referem-se à forma das ações, aos recursos e às nulidades.
Forma das ações
Quanto à forma das ações, continuamos envolvidos nos meandros, muitas vezes inacessíveis aos próprios técnicos, do formalismo mais bizantino. À pluralidade de ações o processo em vigor faz ainda corresponder uma pluralidade de formas. O projeto reduziu todas as ações a uma forma única. Ainda aqui, para não estar repetindo em outras palavras o que já foi excelentemente escrito, transladarei as palavras dos que mais de perto sentiram, na teoria e na prática, os defeitos do processo tradicional.
Willoughby, no livro já citado, resume a questão nestes termos:
“É possivel que tal sistema (variedade de formas de ação) tenha a justificação de reunir condições verificadas ao tempo de seu desenvolvimento. É, porém, impossível justificá-lo como instituição moderna. Ele viola um dos requisitos primordiais da eficiência — a simplicidade. É certo que, se uma comunidade pudesse iniciar a vida com uma folha em branco, sem a influência de preconceitos, não pensaria um só momento em dar existência a um sistema tão complicado para realização do que é, afinal de contas, uma coisa simples. Ainda que possa haver uma variedade infinita de lesões para as quais se busca reparação, o problema de determinar essas lesões e indagar do remédio é, em todos os casos, o mesmo. Trata-se apenas de determinar a natureza da lesão e o caráter da reparação procurada. A única exigência que é necessário adicionar é que esta determinação seja de forma tão direta e clara quanto possível. Tornou-se geral, modernamente, a opinião de que a feição fundamental de uma reforma do sistema de processo deveria ser a forma única para as ações. Com a simples adoção desse traço, far-se-ia um grande progresso. De um só golpe, uma enorme massa de tecnicismo legais seria relegada para os arquivos históricos. A simplicidade substituiria a complexidade, e a justiça seria obtida pela abolição de inúmeros casos em que ela tem falhado por fracasso dos litigantes, pelos seus advogados, no achar o caminho através da massa de tecnicismo que envolve o simples ato inicial do processo”. (Willoughby, op. cit., pags. 442-443.
Recursos
Quanto aos recursos, foram abolidos os dos despachos interlocutórios. Tais recursos concorriam para tumultuar o processo, prolongá-lo e estabelecer confusão no seu curso. Fundavam-se, na sua generalidade, em matéria de caráter puramente processual, e só se justificariam em um sistema de processo concebido de maneira rígida ou hierática, como tendo por única finalidade a estrita observância das suas regras técnicas, sem atenção ao seu mérito e à sua finalidade. Este ponto encontra, igualmente, ampla justificação em Willoughby:
“A questão da extensão que deve ser conferida ao direito de recorrer, em relação à interpretação e aplicação da lei adjetiva, com as regras de processo que governam o juízo, é uma das mais difíceis.
“Aqui devem ser feitas algumas distinções que não são necessárias quando a decisão diz respeito à simples determinação dos fatos. A primeira distinção é entre as falhas de processo que afetam materialmente os direitos das partes, isto é, que pela sua natureza hajam influído realmente no julgamento proferido, e aquelas que são de uma natureza menos importante ou puramente técnica, as quais, ainda que admitidas como erros, não dão motivos razoáveis para se acreditar que tenham impedido a parte agravada de apresentar inteiramente o seu interesse ou que tenham influído sobre o juiz, ou o júri, no proferir suas decisões. Manifestamente, os argumentos em favor da permissão de uma reforma da. decisão, no caso de erros da primeira categoria, são mais fortes que no caso dos da segunda. Permitir os recursos em todos os casos em que se alegue estar errado o julgamento com relação à aplicação de regras, sejam ou não tais erros de natureza a se supor que tenham afetado o julgamento, acarretará males desproporcionados aos benefícios que se podem verificar em casos relativamente raros. Abre a porta ao uso do direito de recorrer simplesmente com propósitos protelatórios, e aumenta as despesas do pleito, o que tudo trabalha em desfavor da parte fraca.
“Além disso, a existência de tão largo direito afeta profundamente todo andamento da espécie em juízo. O processo tende a tornar-se conhecido como uma provocação para o erro; isto é, algo em que o advogado da defesa não somente consagra sua atuação a combater a matéria alegada pelo queixoso, como procura induzir o advogado deste ou o juiz presidente a cometer algum erro técnico, na aplicação das regras, para nisto basear um recurso ao tribunal superior. A tal ponto isto é levado, onde o sistema prevalece, que o processo é às vezes descrito como algo em que o julgador está mais em causa do que o próprio demandado.
“É lamentável que seja este o sistema geralmente adotado e que, embora, nos últimos anos, se tenham manifestado tendências para abandoná-lo, ainda prevaleça largamente nos Estados Unidos. Ele constitui um dos maiores defeitos da nossa administração judiciária. A sua adoção entre nós é devida inteiramente à atitude assumida pelos tribunais, no tocante a essa fase do nosso sistema judiciário. Não somente os tribunais haviam excluído, de modo geral, qualquer distinção entre erros na interpretação e aplicação da lei substantiva e da lei adjetiva, como fundamento do recurso, mas ainda ignoraram a distinção entre erros de processo, tendo uma influência material sobre a decisão e erros de caráter técnicos, os quais somente por um esforço máximo da imaginação poderiam ser considerados como capazes de influênciar o juiz ou o júri contrariamente ao direito. O princípio seguido foi, numa palavra, o de que a presunção de qualquer erro, por mais leve, ocasional e sem importância, deve ser considerada capaz de causar dano e de servir de fundamento ao recurso para tribunal superior e, em alguns casos, a novo julgamento. O resultado tem sido multiplicarem-se os recursos e fazer-se com que estes se fundem antes em matéria de processo do que na lei substantiva.
“É radicalmente errôneo um sistema no qual assuntos de simples processo desempenham papel tão importante, e em que as sentenças podem ser revistas e postas de lado, com o fundamento de que, na opinião do tribunal revisor, as regras não foram rigidamente observadas, ainda que de significação puramente técnica, sem influência na substância do direito dos litigantes. Tem-se tentado remediar essa situação. Um dos remédios, como já foi referido no capitulo “Legal basis and controling forces of rules”, tomou a forma de uma medida do governo nacional e do de certos Estados, declarando que o tribunal deverá julgar o mérito da causa sem atender a erros técnicos, defeitos ou excepções que não interessam à substância do direito das partes“. (Willoughby, op. cit., pags. 517-520.
Nulidades
O terceiro ponto, finalmente, é o relativo às nulidades, que sempre foram o instrumento da chicana, das dilações e dos retrocessos processuais. Os males do processo tradicional foram agravados com um enxame de nulidades, a que os litigantes sempre recorreram insidiosamente, quando lhes faltavam os recursos substanciais em que apoiar as suas pretensões. A nulidade tinha caráter puramente técnico ou, antes, sacramental. Era a sanção das violações das regras do processo, em atenção exclusivamente ao espírito de cerimônia e de formalidade, ainda que de tais violações não decorresse nenhum prejuízo para as partes e os atos práticados fossem absolutamente aptos à finalidade a que o processo os destinava.
O projeto submeteu as nulidades a um regime estrito, só as admitindo em casos especiais, quando os atos não possam ser repetidos ou sanadas as irregularidades. Estabelecendo, ainda, que o juiz, antes de começado o período de instrução, profira o despacho saneador, em que deverá mandar que o processo seja a tempo expurgado dos seus vícios, o projeto remove, de modo inteiramente satisfatório, uma das causas mais importantes de desmoralização do processo e uma das fontes mais abundantes das insídias, surpresas e injustiças em que era tão rico o processo tradicional.
Oralidade, concentração e identidade do juiz
A questão mais importante, porém, era a do sistema a ser adotado no projeto. Quanto a este ponto, conhecendo as idéias de Vossa Excelência em relação ao rumo que deveriam seguir as reformas legislativas, recomendei desde o princípio que o futuro Código não poderia deixar de aí afeiçoar-se ao sistema a que quase todos os Códigos de Processo do mundo se vêm progressivamente conformando, tão uniformemente se fazem sentir por toda a parte as inconveniências do processo escrito tradicional. Impunha-se uma reforma de fundo do nosso processo. O nosso problema não poderia ser o de emendar e retocar: a questão era de estrutura e de sistema.
Se a questão era de remodelar o processo no sentido de torná-lo adequado aos seus fins, de infundir na máquina da justiça um novo espírito, que é, precisamente, o espírito público, tão ausente da concepção tradicional do processo; se o problema era, em suma, de racionalizar o processo, adaptando-o às formas mais precisas, adquiridas pelo espírito humano para o exame e a investigação das questões, a opção teria que se decidir pelo processo oral, em uso em toda a Europa, à exceção da Itália, onde, porém, a reforma está iminente.
O processo oral atende a todas as exigências acima mencionadas: confere ao processo o caráter de instrumento público; substitui a concepção duelística pela concepção autoritária ou pública do processo; simplifica a sua marcha, racionaliza a sua estrutura e, sobretudo, organiza-o no sentido de tornar mais adequada e eficiente a formação da prova, colocando o juiz em relação a esta na mesma situação em que deve colocar-se qualquer observador que tenha por objeto conhecer os fatos e formular sobre eles apreciações adequadas ou justas.
O ponto é importante. No processo em vigor o juiz só entra em contato com a prova testemunhal ou pericial através do escrito a que foi reduzida. Não ouviu as testemunhas, não inspecionou as coisas e os lugares. Qual o grau de valor que conferirá ao depoimento das testemunhas e das partes, se não as viu e ouviu, se não seguiu os movimentos de fisionomia que acompanham e sublinham as palavras, se no escrito não encontra a atmosfera que envolvia no momento o autor do depoimento, as suas palavras ou o seu discurso? Que juízo formará sobre a situação dos lugares e a condição das coisas, descritas no laudo pericial, se de uma e de outra não tem nenhuma impressão pessoal?
Tudo quanto foi objeto de prova, visto apenas através da transcrição de impressões alheias, o juiz o colocará no mesmo plano, por lhe faltar precisamente o critério pessoal, único que o autoriza a medir o valor das provas, a graduar o seu peso a conferir a cada uma o seu coeficiente específico na formação do juízo.
O processo oral coloca à disposição do processo judiciário exatamente o método que torna possível ao espírito humano a aquisição de certezas mais ou menos satisfatórias nos domínios até então entregues ao jogo e às preferências da opinião.
Tive a oportunidade, durante a reunião do Congresso de Direito Judiciário, e na presença de Vossa Excelência, de declarar que já era tempo que o direito e, particularmente, o direito judiciário, se beneficiasse da renovação das outras disciplinas do espírito, servindo-se, na investigação da verdade, dos mesmos métodos que tornaram tão rápidos, nestes últimos tempos, os progressos da medicina, da biologia e de outras ciências dos fatos. Ora, o processo tem por fim a investigação de fatos. Será possível ao juiz investigá-los apenas no papel, nos relatórios e depoimentos escritos, abstraindo-se das pessoas e das coisas? Seguramente não, a não ser que o processo de julgamento corresponda ao da investigação dos fatos onde eles não se encontram, isto é, a não ser que os juizes passem a adotar, para o julgamento, o mesmo processo de Bridoie — o da sorte tirada pelos dados.
O princípio da concentração dos atos do processo é um dos postulados do sistema oral. No processo tradicional, os atos do processo se vão desenvolvendo no tempo, à medida da iniciativa das partes. O processo tradicional é essencialmente dispersivo e caótico. Quando os atos do processo chegam ao conhecimento do juiz, já medeia um largo tempo entre o momento em que foram praticados e o em que o juiz vai apreciá-los. O princípio de concentração imediatiza o contato do juiz com o processo e exige que todos os atos e incidentes ocorridos na mesma audiência sejam objeto de solução imediata por parte do juiz. As atividades processuais desenvolvem-se em uma ou mais audiências, e no último caso, em audiências tão próximas quanto possível uma das outras, de maneira que a decisão sobrevenha quando ainda não se apagaram, no espírito do juiz, as impressões e o interesse que lhe haja despertado o curso do processo.
O princípio de concentração completa, ainda, a indispensável situação do juiz relativamente à prova, tornando a formação desta mais favorável a uma justa e adequada apreciação por parte do juiz.
O princípio que deve reger a situação do juiz em relação à prova e o de concentração dos atos do processo postulam, necessariamente, o princípio da identidade física do juiz. O juiz que dirige a instrução do processo há de ser o juiz que decida o litígio. Nem de outra maneira poderia ser, pois, o processo, visando a investigação da verdade, somente o juiz que tomou as provas está realmente habilitado a apreciá-las do ponto de vista do seu valor ou da sua eficácia em relação aos pontos debatidos.
Estes os caraterísticos fundamentais do processo oral. É certo que várias criticas lhe têm sido dirigidas pelos partidários dos anacronismos processuais ainda vigentes em alguns países.
Críticas e objeções ao sistema oral
Tais objeções fundam-se, porém, no desconhecimento do sistema e, particularmente, no nome que lhe foi geralmente atribuído. Tal o poder das palavras.
Alguns entendem por processo oral um processo puramente verbal, ou como se diz comumente, um mero bate-boca. Ora, no processo chamado oral, a escrita representa uma grande função. O processo oral funda-se em uma larga base escrita. Nele a escrita continua a representar o seu papel próprio, específico e indispensável. As pretensões ou a situação das partes no processo definem-se por escrito. Por escrito deduzem-se o pedido e a contestação.
A prova documental é outro elemento escrito e do que se passa nas audiências fica, igualmente, memória escrita. Não se trata, como visto, de um processo puramente verbal, de que não ficaria qualquer vestígio.
Outro argumento de que se tem lançado mão é que o processo oral exige um alto nível de cultura nos magistrados e advogados. Esquecem-se, porém, os críticos de que os requisitos de cultura são elementares na aplicação consciente de qualquer norma jurídica. São predicados que o processo tradicional também exige, e não em menor grau.
Admitindo, porém, que o processo oral fosse mais exigente quanto aos requisitos de cultura, tal exigência não constituiria objeção contra ele: seria, antes, uma virtude a ser animada, particularmente se levarmos em conta a função educativa da lei e a influência que, como todos os fatos do espírito, o sistema legal exerce no aprimoramento da cultura humana.
Outro argumento igualmente inconsistente é o que atribui ao processo oral a exigência de que o juiz profira a sentença sem maiores estudos e indagações, ou somente com os esclarecimentos e subsídios colhidos na audiência de instrução e julgamento. Este argumento representa uma falsidade em relação ao processo oral. Neste, o juiz poderá julgar a ação depois de suficientemente esclarecido, seja promovendo novas provas e exames periciais, seja consultando, quantas e como quiser, as obras da sua especialidade. O processo oral não impõe decisões precipitadas, improvisadas ou levianas.
Alega-se, finalmente, que no processo, reduzido o debate entre os advogados à audiência de instrução e julgamento, ficarão eles impedidos de dar maior amplitude e segurança às suas razões quando, muitas vezes, os pleitos, pela sua complexidade, exigem que a discussão seja mais larga ou mais abundante. É outra falsidade contra o sistema oral. Neste, a base escrita é suficientemente ampla, podendo as partes, na petição inicial e na contestação, ventilar, com largueza e abundância, os aspectos jurídicos do litígio, e só por infundada presunção podem os opositores dar como excluída no processo oral a apresentação de quantos memoriais as partes julguem útil apresentar no sentido de desenvolverem os pontos que hajam sumariamente exposto nas peças escritas ou orais do processo.
Fontes do sistema tradicional
O processo consolidado nas Ordenações Filipinas de 1613, que inspiraram o Regulamento 737, de 25 de novembro de 1850, e todas as reformas e tentativas de reformas processuais que se fizeram posteriormente entre nós, têm sua base na glosa e no direito canônico, principalmente na novela 45 do Imperador Leão, do século IX e do cânon de Inocencio III, de 1216.
Os termos e atos do processo, inclusive a sentença, que se desenvolviam perante testemunhas estranhas ao pleito, deixaram de ser orais e passaram a ser escritos por uma pessoa com fé pública. Mais tarde, com a vulgarização da escrita, é que as partes e o juiz passaram a escrever os atos por eles práticados.
Mas, a voz dos estudiosos e dos observadores de nossa vida forense já se vinha fazendo sentir, há mais de vinte anos, por uma reforma processual que não se limitasse à adaptação das velhas praxes às novas necessidades da atividade jurisdicional. Clamava-se por uma reforma de base, orientada nos princípios da oralidade e da concentração. Assim se pronunciaram nomes da maior reputação entre os cultores do direito, como Rui Barbosa, em 1910, João Martins Carvalho Mourão, em 1911, José Viriato Saboia de Medeiros, em 1924, e Francisco Morato, em 1936. No encerramento do Congresso de Direito Judiciário, realizado nesta Capital, em 1936, tive também oportunidade de advogar a reforma da estrutura do processo civil. E Portugal, que nos legou o processo tradicional, já o repudiou desde 1926, para adotar o sistema da oralidade consentida.
Quando o Governo, instituído em 10 de novembro de 1937, empreendeu a. reforma do processo, outras vozes, de professores, magistrados e advogados de nota, não menos autorizadas, fizeram-se ouvir no sentido de uma reforma da estrutura.
A elaboração do projeto
A publicação do anteprojeto, inspirado nos princípios da oralidade da concentração e de cuja elaboração se incumbiu, por solicitação deste Ministério, o meu amigo e brilhante advogado Pedro Baptista Martins, provocou de todo o país sugestões da maior valia. E adeptos do sistema cresceram de número, principalmente entre aqueles que de perto sentem a necessidade de uma reforma de fundo da nossa antiquada legislação processual.
O anteprojeto foi largamente discutido, e advogados, juizes, institutos e associações remeteram ao Ministério cerca de quatro mil sugestões, todas minuciosamente examinadas e muitas incluídas entre as emendas sofridas pelo texto.
Dediquei-me pessoalmente, apesar dos múltiplos e crescentes afazeres do meu cargo, à revisão do anteprojeto. Revi-o não uma, porém, muitas vezes, e pude contar, para a sua redação final, com o precioso concurso do meu caro amigo Dr. Abgar Renault, ilustre diretor do Departamento Nacional de Educação. Pesei a responsabilidade que havia assumido e longamente meditei sobre os principais temas do processo, concluindo por julgar do meu dever apresentar a reforma do nosso processo, se é necessário, como penso, remediar de maneira urgente o descrédito em que, não por culpa dos juizes, mas graças aos defeitos do seu instrumento de trabalho, vem, dia a dia, caindo, no conceito público, a justiça administrada pelo Estado. Nem me teria proposto mais este encargo superior às minhas forças, se não houvesse, desde logo, sentido o interesse que Vossa Excelência associava aos trabalhos de reforma legislativa que, sob a alta inspiração do seu pensamento e da sua experiência, vêm sendo empreendidos pelo Ministério da Justiça.
Depositando nas suas mãos e submetendo à alta aprovação de Vossa Excelência o projeto do Código de Processo Civil, destinado a vigorar em todo o Brasil, não posso deixar que passe sob silêncio um novo aspecto desse instrumento legislativo.
A reforma do processo e a unidade política do país
Aspecto relevante da reforma processual brasileira é, com efeito, a sua intima conexão com o problema da unidade política do país. Contra a tendência descentralizadora da Constituição de 1891, que outorgara aos Estados a faculdade de legislar sobre o processo civil e comercial, insurgiram-se os elaboradores do estatuto de 1934, transferindo à União essa prerrogativa política. Mas, esta restituição à União de um poder de legislar que, durante um século, lhe pertencera, estava destinada a permanecer letra morta dentro do ambiente da exagerada autonomia política ainda reservada por aquela Carta aos Estados componentes da Federação.
A Constituição de 10 de novembro veio tornar possível, fortalecendo o poder central, a realização da unidade processual e, para dar-lhe maior expressão e coerência, unificou também a Justiça.
O instrumento de efetivação dos direitos outorgados pela União será também por ela regulado. Poderá, assim, dar a todos os brasileiros, a par de um só direito substantivo, um só direito adjetivo, apto este a tornar aquele realmente efetivo. Mas, seria ilógico e inexplicável que a União, substituindo-se aos Estados nesta tarefa de unificação, fosse prescrever-lhes um processo que não estivesse à altura da sua responsabilidade intelectual e política. A tarefa de uma modificação na estrutura do processo vigente, somente a União poderia realizá-la, investida de autoridade e de poder capazes de reduzir a silêncio os interesses espúrios que se criaram à sombra do antigo regime.
O clima próprio a esta transformação criou-o o Governo, em 10 de novembro, ao outorgar a nova Constituição. Efetivamente, após a sua vigência, as primeiras leis de processo que foram decretadas trouxeram um cunho novo: os frutos. que já estão dando revelam o acerto da orientação adotada.
O processo prescrito para os crimes contra a estrutura do Estado e a defesa da economia popular tem permitido o pronunciamento de decisões prontas, justas e isentas de formalismos e de inúteis complicações. Com a direção do processo e a faculdade da livre apreciação das provas, os membros do Tribunal de Segurança se têm servido eficazmente do instrumento que a nova lei lhes proporciona, fundada nos princípios da concentração e da oralidade. Também a lei destinada a regular a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, em vigor desde 1.° de janeiro deste ano, foi informada pelos mesmos princípios e, sem sacrifício da defesa dos executados, vai permitindo ao erário um meio rápido e seguro de reaver os seus créditos.
Se bem que os objetivos desses processos, um penal e outro civil, sejam de natureza diversa do processo comum, reclamando uma regulamentação mais rígida e inflexível daqueles princípios, por se tratar de proteção de interesses vitais para a existência do Estado, sua conservação e realização de seus objetivos, não seria lógico que o Estado abandonasse, ao decretar a lei processual comum, essa orientação que a experiência já consagrou como acertada.
Apresento a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito.
Rio de Janeiro, 24 de Julho de 1939.
PELA REFORMA DO DIREITO JUDICIÁRIO
Discurso proferido em Julho de 1936, na Capital Federal.
Ilustres colegas do Congresso de Direito Judiciário
O Congresso de Direito Judiciário, que acaba de reunir-se nesta cidade, constitui um dos mais auspiciosos acontecimentos no quadro das atividades construtivas e renovadoras com que o Brasil vem procurando, nestes últimos anos, corresponder às novas exigências da época de transformações sociais, econômicas, jurídicas e políticas, cujas correntes sulcam o imenso panorama do nosso tempo de rugas de apreensão, de inquietações e de dúvidas.
O sistema legal, por caraterísticas inerentes à sua própria estrutura e à natureza das suas funções é, precisamente, o mais refratário à mudança e o de passo mais lento no sentido das crises e das transformações. A rigidez das linhas do sistema legal e, particularmente, o fato de que o ministério ou o exercício das atividades legais constitui ainda aos olhos do público uma técnica de processos obscuros, dificilmente acessíveis ao entendimento comum, formam uma atmosfera propícia à conservação e perpetuação de hábitos, ritos e tradições, muitas vezes incompatíveis com exigências que em outros sistemas da vida coletiva já determinaram movimentos de reajustamento e de adaptação, ou respostas adequadas e satisfatórias.
Mais, portanto, no sistema legal do que em qualquer outro torna-se necessário manter em atividade o espírito de exame e de crítica, para assegurar a continuidade do movimento de renovações úteis e necessárias, sem as quais o efeito cumulativo dos hábitos de conservação e de inércia acabará por tornar sensíveis ainda ao homem da rua dos vícios de anacronismo da ordem legal e a sua inadequação às justificadas exigências da vida social, econômica e política da coletividade, desmoralizando a autoridade da lei e dos homens incumbidos do seu ministério, contra a de uma e dos outros, incentivando os movimentos de desprezo ou de protesto público.
Haja vista, por ser o tema das vossas reuniões e o da crítica e da mordacidade pública contra a técnica da administração da justiça, o caso do processo ou do direito judiciário, cujos ritos, cerimônias, termos, dilações e formalidades continuam a ser os mesmos que já se encontram glosados em Rabelais como razão do desespero do inocente Bridoie e de desgraça para os seus infelizes jurisdicionados, tão perplexos de se reverem envolvidos nos jogos incompreensíveis da justiça, como o ficariam se se encontrassem transportados para um mundo de mistérios, de prestidigitações e de mágicas.
Ora, num tempo cujo traço fundamental vem a ser, precisamente, o do progresso e do aperfeiçoamento da técnica em todas as suas modalidades, desde a técnica do espírito, apercebida de novos instrumentos que aumentam o coeficiente de rapidez, de rendimento e de precisão do seu trabalho, até as técnicas de manipulação da matéria, não se justifica que a técnica da administração do direito continue a ser o indigesto conglomerado de processos, destituído de organização e de princípios, sobre o qual já passou em julgado a sentença não apenas dos entendidos ou dos doutos, senão a do público, cada dia mais impaciente de verificar que a técnica pela qual o direito se torna acessível às suas necessidades e exigências continua a ser a mesma técnica anterior à invenção do vapor e da eletricidade, anterior às revoluções industriais, políticas e técnicas que transformaram em um século a face do mundo e mudaram os hábitos bíblicos da humanidade na vertigem das competições da era capitalista, na qual o ritmo das reações individuais e coletivas e o ciclo dos negócios criaram um novo sentimento do tempo, inteiramente particular à nossa época.
“Justiça rápida e barata” não é, portanto, apenas uma frase com que os eternos descontentes costumam variar a expressão da sua impertinência histórica. É uma justificada imposição das demais técnicas do trabalho humano sobre aquela que se encontra adormecida no cego automatismo dos seus processos e uma inevitável exigência da economia dos demais sistemas da vida coletiva, no sentido de que o sistema jurídico trabalhe no tempo ou no ritmo do seu funcionamento, de maneira a impedir as fricções, os atritos e as demoras prejudiciais à sua capacidade de produção e rendimento.
Para manter o sistema legal em consonância com os demais sistemas da vida coletiva há várias medidas indispensáveis. Em primeiro lugar, a reforma do ensino jurídico, dando maior envergadura e outras finalidades ao estudo do direito, transportando-o do plano da memorização e dos dogmas para o da investigação e da crítica, para o que seria imprescindível estender o campo dos estudos jurídicos a outros domínios de fatos, particularmente os de ordem econômica, a fim de inculcar desde cedo no espírito do jurista a noção do serviço social do direito, isto é, das suas íntimas e imediatas relações com as demais ocupações ou técnicas do trabalho humano, cujos processos e finalidades o jurista não pode deixar de compreender, se a sua função é, como deve ser, a de colaborar no regime de trabalho e de produção, próprio do seu tempo, e não o de fazer força, seja por incompreensão ou por inércia, no sentido contrário ao movimento de iniciativa e de criação em que se acham empenhados os demais sistemas de organização das atividades coletivas.
Em segundo lugar, a organização racional do serviço legislativo, criando um centro de estudos, de informações e de investigações com a função de verificar as lacunas e defeitos do sistema jurídico, os vícios do seu funcionamento ou as inadequações ou incompatibilidades do direito com as legitimas exigências nascidas da modificação das circunstâncias da vida ou das transformações operadas nos hábitos ou nos sentimentos públicos. É uma iniludível contingência, a cujo império não podemos fugir, a de que o direito do presente é sempre formulado pelo passado, na crença, tantas vezes desmentida, de que as coisas de amanhã continuarão a ser as de ontem e como as de ontem. Nos longos períodos de estabilidade, tão raros na história das vicissitudes humanas, essa crença pode praticamente funcionar como verdade. Acontece, porém, que, nos períodos de inquietação ou de renovações, quanto mais acentuadas sejam estas, o direito muitas vezes já nasce velho, inconveniente tanto maior quanto, não sei por que misteriosas propriedades, de todos os sistemas de organização humana é o direito o que tem mais pronunciadas tendências a persistir nos seus hábitos e, portanto, nos seus erros.
Tanto a primeira quanto a segunda medida se resumem simplesmente em tornar o direito permeável às transformações intelectuais operadas em todos os domínios da atividade cientifica e prática, medica, econômica, industrial e política.
O que se exige, em suma, é que o direito se beneficie dos mesmos métodos de apreciação e de estudo que tornaram possíveis os rápidos progressos da medicina, as transformações dos processos industriais e o melhoramento ou a racionalização de todas as técnicas do trabalho humano. Para isto, é necessário que os homens transportem para o domínio jurídico as mesmas perspectivas intelectuais em que já se habituaram a situar os demais objetos do conhecimento humano, e utilizem, quanto ao direito, os hábitos com que as ciências de observação e experiência imprimiram uma nova orientação ao seu espírito.
Não é possível que a experiência jurídica não se organize como as demais em um aparelho de sistematização e de controle, destinado não somente a melhorar o funcionamento da justiça, como a tornar mais precisa ou mais conveniente a formulação do direito. Urge que a experiência dos juristas seja inteligentemente utilizada tanto na ordem crítica, quanto nas atividades construtivas ou criadoras do direito.
Os congressos de juristas constituem uma louvável tentativa de colocar as questões jurídicas na ordem do dia do interesse público e na perspectiva de exame de revisão e de crítica, sem cuja renovação periódica o direito se transformará em um campo de desarmonias e conflitos com a ordem de coisas em cujo serviço se encontra o seu destino.
A vossa reunião, prestigiada com o patrocínio do Governo Federal, foi fecunda em resultados. O Governo do Distrito Federal não podia ser indiferente à honra que conferistes a esta cidade, escolhendo-a para sede dos vossos trabalhos. Prestando-vos a homenagem do seu apreço e do seu reconhecimento, ele formula o voto de que o vosso exemplo frutifique em outras reuniões, destinadas ao estudo e à ventilação de outros domínios do direito nacional e que a experiência dos advogados e juizes tenha, no movimento de renovação jurídica, o destacado lugar que lhe compete de essencial e primeira colaboradora no governo e na legislação do país.
ESTADO NACIONAL
Discurso proferido em 10 de Maio de 1938.
Dez de novembro não foi um episódio. Assinala, ao contrário, o começo de uma época. O episódio não tem conteúdo espiritual e projeção histórica: faltam-lhe o impulso ideológico e a perspectiva no tempo, elementos essenciais para que os acontecimentos se desenvolvam no sentido da duração e se organizem segundo as linhas de uma ordem que, antes de existir nas coisas, já era na inteligência e na vontade humana. O episódio é instantâneo, não tem volume no tempo. Não existe no episódio a vontade de durar, a força de crescimento e de expansão, graças às quais a decisão dos homens se apodera do tempo para nele criar a sua história e realizar a sua vocação.
Uma época não são seis meses de história. Uma época é uma atmosfera, uma ambiência, um clima. Com o dez de novembro começou para o Brasil uma atmosfera, uma ambiência, um clima. Em primeiro lugar, o clima da ordem: não apenas o da ordem nas ruas, mas, antes de tudo, e sobretudo, o clima da ordem no Estado. O Estado passou a ser uma ordem, isto é, um sistema animado de um espírito e de uma vontade, unificado em torno de uma pessoa, que é em política a primeira categoria da realidade. O Estado tem um chefe. A política deixou os bastidores das combinações para ser o que é, efetivamente, nas grandes horas dignas de serem prolongadas no tempo e vividas em toda a plenitude: as decisões tomadas por um homem que se sente em comunhão de espírito com o povo de que se fez guia e condutor, responsável por ele diante da história e do destino. No regime das combinações, o Estado era um ponto ideal de imputação. A autoria real das decisões perdia-se no anonimato das coletividades fortuitas ou ocasionais, que se apresentavam em público como responsáveis por uma decisão que era de todos sem ser de nenhum ou de ninguém. Todos os artifícios, mecanismos e processos do demoliberalismo tinham por fim impedir que o povo identificasse, escolhesse ou aclamasse o chefe, isto é, a autoridade encarnada na pessoa, único meio de ser a autoridade humana e responsável.
À consciência, à responsabilidade, à decisão, virtudes da pessoa, e inseparáveis da pessoa, substituía-se o anonimato das coletividades, em cuja comunhão não entrava a decisão, a consciência, a responsabilidade de ninguém. O Estado era uma presa, uma posse, uma coisa, a cujo propósito e a cuja custa alguns homens combinavam. As combinações surgiam a público sem a responsabilidade de ninguém; eram combinações em que todo mundo havia participado, mas em que ninguém havia decidido. A vontade, a responsabilidade, a decisão são atributos da pessoa humana. As abstrações, as coletividades, os parlamentos, os conselhos, as entidades incorpóreas ou ideais não são capazes de vontade, de decisão e de responsabilidade. Se a política é, por excelência, o domínio da vontade, da decisão e da responsabilidade, a primeira categoria. da política, a categoria fundamental, há de ser a pessoa — a pessoa que decide, o centro de vontade e de responsabilidade o chefe, o homem que a confiança pública aceita ou designa como encarnação do Estado. O povo representa o Estado sob a forma da pessoa humana. As ficções e os artifícios jurídicos, o espírito das combinações, próprios da índole especulativa, tanto no sentido político quanto no sentido econômico do liberalismo, impediam que o povo identificasse o chefe. A índole especulativa não se compadece com a ordem ou com a autoridade: a especulação não frutifica onde há vontade, decisão, responsabilidade, onde não reina o acaso e não decidem os dados, onde o espírito que rege é informado nas virtudes da equidade e da justiça, que os monstros anônimos, seja qual for o nome que se lhes dê, não podem possuir por serem atributos exclusivos da pessoa humana. Eis o clima do novo Estado brasileiro. É o clima do povo, o clima da sua vocação para a pessoa e para o chefe. O Estado que ai está existe para o povo, sob a forma por que o povo representa naturalmente o Estado, a forma humana da pessoa.
O segundo ponto a notar, no novo clima político criado no Brasil pelo acontecimento de 10 de novembro, é o caráter popular do Estado. Este traço resulta, aliás, do anterior: somente um Estado que se encarna num chefe pode ser um Estado popular. O Estado sem chefe é uma entidade para juristas, algebristas e especuladores da política, da bolsa, da indústria e da finança, interessados em que o Estado seja amoral, apolítico, neutro, indiferente, uma disponibilidade a ser usada nas combinações ou na concorrência de interesses. O povo, como o Criador, não conhece vontade abstrata; a vontade para ele encarna-se na pessoa. O povo não conhece o Estado desencarnado, reduzido a símbolos e a esquemas jurídicos. O Estado popular é o Estado que se torna visível e sensível no seu chefe, o Estado dotado de vontade e de virtudes humanas, o Estado em que corre não a linfa da indiferença e da neutralidade, mas o sangue do poder e da justiça. O Povo e o Chefe, eis as duas entidades do regime. O Estado é do povo e para o povo e, por isto, é um Estado de chefe porque o povo, como todos os grandes criadores, representa, sob a forma humana da pessoa, o poder digno de ser amado e obedecido, o poder animado do espírito de proteção, de justiça e de equidade.
O terceiro ponto, na nova ordem de coisas do Brasil, é que o nosso Estado é hoje um Estado Nacional.
Existe, efetivamente, um governo, um poder, uma autoridade nacional. O Chefe é o Chefe da Nação. Mas não é Chefe da Nação apenas no sentido jurídico e simbólico. É o Chefe popular da Nação. A sua autoridade não é apenas a autoridade legal ou regulamentar do antigo Chefe de Estado. A sua autoridade se exerce pela sua influência, pelo seu prestígio e a sua responsabilidade de Chefe. Somente um Estado de Chefe pode ser um Estado Nacional: unificar o Estado é unificar a Nação. Foi o que se deu no Brasil. A inflação de prestígios locais ou regionais, ou de prestígios nascidos sob a influência de combinações, sucedeu, com a deflação política operada no país com o advento do Estado Novo, a instauração de uma autoridade nacional: um só Governo, um único Chefe, um só Exército. A Nação readquiriu a consciência de si mesma; do caos das divisões e dos partidos passou para a ordem da unidade, que foi sempre a da sua vocação.
Quem contestará que assistimos no presente à mais alta afirmação do espírito nacional, do sentimento nacional, da vontade, ou antes, da decisão do Brasil de ser uma Nação?
Um chefe, um povo, uma nação: um Estado nacional e popular, isto é, um Estado em que o povo reconhece o seu Estado, um Estado em que a Nação identifica o instrumento da sua unidade e da sua soberania. .Ai está o Novo Estado Brasileiro. Um Estado que é isto não é uma simples mecânica do poder. É também uma alma ou um espírito, uma atmosfera, uma ambiência, um clima.
Não é verdade, portanto, que, ao organizar o Estado, a única preocupação foi a mecânica do poder. A pessoa humana foi, antes, a preocupação dominante. Não a pessoa abstrata, mas a pessoa no seu meio natural, na família, na escola, no trabalho: o pai de família, o operário, a infância, a juventude.
Há, no novo regime, toda uma pedagogia social a desenvolver-se nos seus princípios e nas suas conseqüências, e o centro dessa pedagogia social é precisamente a pessoa humana: a juventude que se coloca sob a proteção especial do Estado, cujo primeiro dever é o de garantir-lhe condições favoráveis ao desenvolvimento da personalidade e do caráter; a economia, que se procura organizar sobre bases de justiça, pondo de lado a hipocrisia liberal, que consiste na afirmação de que o direito público termina onde termina a política e que a economia é do domínio exclusivo dos contratos.
A liberdade liberticida da economia liberal, que consiste em reconhecer aos fortes o domínio sobre os fracos, o Estado Novo opõe a disciplina corporativa, na qual a economia não é apenas uma ordem das coisas, mas uma ordem das pessoas, e, por conseguinte, e por definição, uma ordem justa.
Mas ouço uma pergunta: que é que o Estado Novo fez, no primeiro semestre da sua existência?
Fez, além de outras coisas, isto que acabo de dizer: criou uma nova ambiência, uma nova atmosfera, um clima novo no Brasil. Construiu um Estado. Suscitou no país uma consciência nacional. Unificou a Nação dividida; pôs termo às lutas sociais e políticas; está eliminando as injustiças econômicas; impôs silencio à querela dos partidos, empenhados em quebrar a unidade do Estado e, por conseguinte, a unidade do povo e da Nação; suprimiu o poder, que se denominava liberdade, de exercerem os interesses privados, através dos instrumentos de propaganda, uma falsa magistratura pública
O Estado Novo está construindo um novo Brasil. Em seis meses, vê-se logo, a obra não pode estar terminada.
Mas, as realizações do Estado Novo? Não vou repetir aqui a lista que, ainda há poucos dias, o Chefe colocou diante das vistas do país.
Estou vendo daqui o sorriso dos estrategistas e dos construtores de mesas de café. Estão habituados a ganhar batalhas em dois minutos e a edificar, em cinco, monumentos votados à eternidade. Pudera não. Eles operam sobre uma superficie de dez polegadas quadradas e as suas batalhas e as suas construções se desfazem no fumo do cigarro.
Não podemos operar com a rapidez com que operam os seus soldados e os seus pedreiros imaginários. O que os incomoda, porém, é que começa um Brasil a que não estão adaptados, um Brasil sem conforto, um Brasil um pouco duro, um Brasil que exige ordem, atenção e disciplina.
O certo, porém, é que ai estão uma ordem e um Estado. O Chefe que criou esta ordem e este Estado não criou uma problemática política, destinada a servir de exercido aos esgrimistas ou aos dialetas do descontentamento. Criou uma solução: uma solução que está funcionando satisfatoriamente.
É de ontem a declaração autorizada de que não se pensa em modificar o que foi feito. O Estado Novo não é uma controvérsia nas nuvens, mas uma realidade na terra. O que está feito está feito e foi feito para o bem do Brasil. Para diante e para frente, com o Chefe, com o Povo, com a Nação.
O ESTADO NOVO
Discurso proferido a 10 de Novembro de 1938, por ocasião do primeiro aniversário da instituição do Estado Novo.
O Dez de Novembro não é um marco arbitrariamente fincado no tempo, nem uma criação gratuita da hora que passa. Emerge de um longo passado de erros e falsidades e é uma severa afirmação para o presente e para o futuro, incluindo-se entre as categorias da duração. O Dez de Novembro resulta de cinqüenta anos de experiência política. Cinqüenta anos de constituição acima, constituição abaixo, cinqüenta anos de falso sistema representativo, em que os Paracelsos do regime introduziram progressivamente todas as abusões de sua medicina mágica, do mito do sufrágio universal e do espiritismo do voto secreto à nova regra pitagórica da eleição proporcional. Enquanto a mentira, as abusões e o psitacismo parlamentar se assenhoreavam do campo da política, dele se ausentavam, dia a dia, a razão e o sentimento de responsabilidade, a autoridade intelectual e a autoridade moral, a razão, em suma, a cujos mandamentos se organiza em Estado a matéria política que, sem ela, cai no domínio das manipulações e das fraudes, passando pelas pseudomorfoses mágicas com que os Paracelsos da política fazia o povo tomar por Juno, ou pelo Estado, a nuvem de palavras, atrás de cujo fantasma se dissimulava a substância dos interesses dos grupos, das igrejas e dos partidos em que se desmembrara a unidade da Nação;
O Dez de Novembro pôs termo ao jogo, aos passes e às encantações, e confiscou os instrumentos de prestidigitação com que os especuladores do regime operavam sobre a boa fé do povo, narcotizada pelas drogas políticas que lhe davam a ilusão de serem da sua vontade as decisões tomadas em seu nome.
O Dez de Novembro não foi um ato de violência. O antigo regime era, evidentemente, um regime demissionário e caduco. Os seus braços senis não podiam mais abarcar o tronco do poder, cujo vulto havia crescido na proporção do crescimento do país. Cada vez mais divorciada do regime, a Nação havia crescido fora dos quadros desse regime e adquirira a consciência de que os instrumentos de governo não estavam condicionados às exigências, às dificuldades e às imposições da vida em nosso tempo. Os verdadeiros interesses nacionais não encontravam ressonâncias nas salas deliberativas, umas, calculadas para os segredos e as combinações, e outras, para a frase espetacular em que a substância do governo se dissolvia em fatuidades discursivas.
O Estado Novo nasceu como uma imposição da ambiência social e política em que vínhamos vivendo. Inspirou-o e permitiu-lhe a realização o estado de incerteza em que estava o Brasil, insatisfeito com a solução das suas instituições e desassossegado em face das soluções agressivas e extremas que se propunham ao seu caso, nenhuma delas com raízes no passado, justificações no presente e perspectivas para o futuro.
O Estado era uma “terra de ninguém” mais ou menos ao alcance dos imperialismos estaduais, que medravam e cresciam à custa da unidade espiritual e política da Nação. Era imperioso remover os obstáculos que impediam a ação, imediata e eficaz, necessária para recompor e restaurar aquela unidade, imprimindo-lhe o sentido da ordem, da decisão e da vontade, sem o que o Estado, ao invés de aglutinação, se transformava em motivo de discórdia, de conflitos e de divisões. Com a sua unidade ameaçada, sem ordem interna e sem segurança externa, ao Brasil faltavam os instrumentos adequados à sua própria restauração, e a tais circunstâncias acrescia ainda o fato de que se haviam artificialmente estabelecido lutas e antagonismos políticos e sociais, a que não correspondia nenhum sentimento substancial e para os quais o país não se encontrava preparado. O Brasil estava dotado de instituições em que não ressoavam as vozes claras da realidade e, ao mesmo tempo, criavam-se, pelo artifício e pela mentira, correntes de opinião estranhas ao seus sentimentos, à sua índole, à sua cultura e à sua formação nacional. Subitamente, desse plano lunar de bovarismo político, fomos precipitados na mais crua realidade, como o demonstram acontecimentos recentes. A Nação havia ultrapassado o ponto crucial do regime de irresponsabilidade, de irrealidade, de indecisão permanente e de inconsciência geral, sob o qual vinha penosamente arrastando uma existência ameaçada, dos quatro cantos de perigos reais e iminentes.
O Estado Novo teve por fim justamente destruir esse sistema organizado de mistificação nacional, desarticulando os sindicatos, as comparsarias e os grupilhos que, com os seus enredos e maranhas, compunham a prodigiosa teia de engodo da Nação, e combater aquele duplo bovarismo, substituindo as antigas instituições por novas, adequadas às condições reais do Brasil. Sendo autoritário, por definição e por conteúdo, o Estado Novo não contraria, entretanto, a índole brasileira porque associa à força o direito, à ordem a justiça, à autoridade a humanidade. Do que ele realizou, o mais importante não é o que os olhos vêem, mas o que o coração sente: com ele o Brasil sentiu pulsar, pela primeira vez, a vocação da sua unidade, tornando, assim, possível substituir, sem oposições nem violências, à política dos Estados a política da Nação.
Neste primeiro ano de Estado Novo, não só os acontecimentos nacionais justificaram e legitimaram a transformação das nossas instituições. Acontecimentos mundiais acabam de demonstrar que, para dar à Nação o sentimento de segurança por ela exigido como condição de vida, é indispensável não só realizar de maneira mais efetiva a sua unidade espiritual, senão também proceder a uma unificação política mais rigorosa e completa.
Nação não é apenas número e espaço: é preciso organizar o número e articular o espaço, por forma a dar à Nação o sentimento de que ela constitui um só corpo e uma só vontade. Fora dos quadros estabelecidos pela técnica do Estado Novo, não há solução para o problema social e político do Brasil, a menos que uma nação possa viver e realizar o seu destino dentro de um constante estado de desassossego, de desordem e de insegurança, sobrepondo aos valores permanentes, condição da vida coletiva, os valores efêmeros, fundados no capricho e na mobilidade humana. E esse fenômeno não é apenas brasileiro, mas universal. À medida que cresce o número dos indivíduos e se torna mais densa e compacta a coletividade humana, a autoridade tem de ser mais forte, mais vigilante e mais efetiva. Os Estados autoritários não são criação arbitrária de um reduzido número de indivíduos: resultam, ao contrário, da própria presença das massas. Onde quer que existam massas, sempre se encontra a autoridade, tanto maior e tanto mais forte quanto mais numerosas e densas forem aquelas. À medida que o espaço se povoa e se articula, que deixam de existir áreas rarefeitas, de distância e isolamento, que se apura a técnica da convivência humana e os instrumentos de atividade postos à disposição dos indivíduos se multiplicam, torna-se necessário, para garantir os bens da civilização e da cultura, dotar o governo de possibilidades de ação rápida e eficaz.
A Constituição que veio consubstanciar os princípios e as normas essenciais do Estado Novo não podia, portanto, ser obra de combinações, coordenações e ajustamentos parlamentares. Não podia ser obra especulativa de ideólogos ou dialetas, mas devia ser obra política, isto é, realista. O Estado deixou de ser uma entidade para ser um fato, e a Constituição só poderia ser o que é: obra de experiência, de meditação e de entendimento com a realidade do Brasil, inspirada num longo passado de tentativas frustradas, em que se procurara transplantar para o país instituições inadequadas à sua vocação e — por que não dizer? — inadequadas até ao próprio espaço sobre que se teria de exercer a autoridade do governo. Assim é que a Constituição assegura aos brasileiros todos os direitos próprios à dignidade humana, sem esquecer-se, todavia, de conferir à Nação as garantias essenciais à preservação da sua unidade, da sua segurança e da sua paz. À sua sombra, todos os brasileiros podem viver em concórdia e em harmonia uns com os outros, desde que não coloquem acima do Brasil pessoas, opiniões, credos ou ideologias.
Estou seguro de que, passadas as inquietações dos primeiros tempos, a paz, a concórdia, a fraternidade e o sentimento de segurança e tranqüilidade hão de ancorar-se profundamente no coração de todos os brasileiros, afirmando-se e consolidando-se cada vez mais a confiança nas novas instituições, de modo que o Brasil possa conquistar e garantir, no mundo, o crédito correspondente às suas proporções geográficas e morais.
O novo governo correspondeu ao novo Estado e transformou-se em um vasto e poderoso sensorium, através de cuja sensibilíssima capacidade de captação e ressonância repercutem, com a densidade e a profundeza das vozes da vida, as ansiedades, as esperanças e as aspirações da Nação.
Urge agora que todos os brasileiros, com aquele mesmo sentido de ordem na unidade, se integrem e se fundam num só pensamento, que é o de criar no país uma atmosfera de confiança e de boa vontade, a fim de que antagonismos pessoais, intrigas e lutas de grupilhos e campanários não perturbem o ritmo do trabalho do Brasil e do, seu crescimento, nem desviem de seus desígnios a linha clara e definida que o destino lhe traçou.
Este o sentimento do povo brasileiro, que plebiscitou o regime antes do seu advento e que só terá inspirações e motivos para, na oportunidade própria, confirmar a antecipação do seu voto e reafirmar o imperium da sua vontade.
SEGUNDO ANIVERSÁRIO DO ESTADO NOVO
Discurso proferido no Palácio Monroe, em 10 de Novembro de 1939.
“Encontramos na Constituição de dez de novembro o sentido construtor da nacionalidade, o sentido renovador da revolução, na qual todos devemos colaborar, porque ai não há vencedores nem vencidos”. Nestas palavras, há poucos dias pronunciadas pelo Presidente da República, encontra-se definido o clima do novo regime. Não houve e não há, com efeito, nem vencedores, nem vencidos. O regime foi a última etapa de uma longa série de crises políticas, cuja crescente gravidade havia premunido a Nação de que estava próximo o acontecimento que ela, com impaciência, esperava, para recebê-lo com o seu aplauso e a sua confiança. O regime emergiu, sem sobressalto e sem surpresa, de um pronunciamento da consciência popular. Quando se deu o seu advento, ele já encontrou na consciência pública a sua ambiência, a sua atmosfera, o seu clima de expectativa e de compreensão.
O dez de novembro não foi o ato de um partido, de um grupo ou de uma fação política. Pois apenas o registro, pelos responsáveis dos destinos do país, da votação popular, despida de formalidade, mas espontânea, clara e inconfundível, traduzida no rumor, que se propagou por todo o Brasil, nas vésperas do ato culminante do regime extinto, de que nos aproximávamos de um fim e de um começo.
Talvez nunca na história um acontecimento de tais proporções se haja representado na consciência popular com a antecipação e a lucidez com que o povo brasileiro representou, previu e antecipou o dez de novembro. Não foi um improviso, uma surpresa, um episódio. O dez de novembro, como todos os grandes acontecimentos, teve a sua geração e a sua história. A decomposição do regime extinto não se consumou em um dia. Foi um longo processo, entrecortado de sobressaltos e de crises, e que encontrou o seu fim na atmosfera de indiferença, de estagnação espiritual e de apatia pública em que se processaram os últimos debates do regime extinto — debates sem auditório e sem paixão, debates sem público, cujos temas e cujas idéias não correspondiam a realidades políticas, econômicas e espirituais; temas e idéias que fatos, acontecimentos e revoluções, de alcance e repercussão universal, haviam privado de sentido, de substância e de valor; temas e idéias em torno dos quais já se havia estendido há muito o deserto do ceticismo e do desinteresse público. O regime não poderia, evidentemente, continuar, como sem D. Quixote não poderia ser continuado o romance de D. Quixote.
Um regime não se cria no papel, nem resulta do capricho de um homem ou de um grupo de homens. No passado encontram-se as suas raízes e por entre a decomposição do regime anterior se delineia e configura a fisionomia do novo regime. O dez de novembro foi o elo final de uma longa cadeia de experiências e de acontecimentos, de tentativas e de aproximações. O dez de novembro aconteceu na história, dentro da história e em função do nosso passado, da nossa experiência, da nossa história. Não foi uma interrupção ou uma fenda na história: foi um crescimento, uma continuação, o amadurecimento do passado em presente, da experiência em razão e lucidez. A vontade pessoal foi apenas o instrumento das decisões já tomadas pela história. Quando a Nação decide dos seus destinos, não há vencedores, nem vencidos: começa um novo período da história, uma época, novo estilo da vida, outro clima social e político, que envolve, no seu lençol espiritual, os homens, as instituições, os acontecimentos, as idéias. O novo estilo político, pelo qual se modelaram as instituições de governo no Brasil, não é a imposição de um homem, de um grupo de homens, de uma facção ou de um partido. Não resultou de lutas partidárias, nem representa a vitória de uma concepção do mundo ou da vida sobre outras concepções capazes de disputar a adesão da consciência nacional. No vazio que a morte de um regime, que havia perdido a confiança pública, deixou no espaço social e político do Brasil, o novo regime levantou o seu edifício e em torno dele se restauraram a fé, a confiança e, sobretudo, a convicção coletiva de que as nações não morrem com os regimes e que da sua própria substância, do tecido vivo da sua experiência e da sua vontade, é que nascem as instituições, os códigos, os governos, prefigurados, antes de nascer, no inconsciente coletivo, como expressão das exigências e dos imperativos das comunhões humanas, eternas como a vida.
Assim, a Nação brasileira quis continuar a viver e, para que continuasse, forjou os instrumentos indispensáveis à vida, os instrumentos de proteção do seu trabalho, da sua riqueza e da sua prosperidade e, acima de tudo, os instrumentos de garantia da sua paz, do seu sossego, da sua tranqüilidade, requisitos imprescindíveis não só à vida material como à vida moral das coletividades humanas. Assim, das profundas raízes da vontade nacional do Brasil de perseverar em ser, cada dia mais, uma nação, isto é, uma unidade territorial, política e moral, surgiu o Estado Novo, expressão dos anseios populares e criação da nossa própria história.
O Estado Novo não se filia, com efeito, a nenhuma ideologia exótica. É uma criação nacional, eqüidistante da licença demagógica e da compressão autocrática, procurando conciliar o clima liberal, específico da América, e as duras contingências da vida contemporânea, cheia de problemas e de riscos e varrida de ondas de inquietação e de desordem, instável no seu equilíbrio, obrigado a criar novas formas para o trabalho, a produção, a distribuição dos bens, o manejo do capital e da moeda, e, sobretudo, as novas configurações políticas, sociais e morais em que o turbilhão de idéias, de sentimentos e tendências encontre o seu estado de satisfação e de repouso.
Construída para a tempestade, a nau tem que ser forte, o seu comando há de ser concentrado nas mãos de um homem de tempera serena, firme, resoluta, e, principalmente, habituado às intimidadas com o destino, a tripulação corajosa e amante do perigo, unida por um único pensamento e disciplinada por uma só vontade. Este, o único regime capaz de enfrentar os elementos, o regime que os povos que ainda não se deixaram conformar com o pensamento da escravidão ou da morte, pedem ao destino inexorável, na hora que pode ser a dos naufrágios ou dos acontecimentos funestos.
Forçados pela história e premidos por circunstâncias de ordem não só local como universal, criamos o nosso regime, edificamos o nosso Estado e aceitamos o governo que a história, as circunstâncias e o destino nos ofereceram como o único instrumento capaz de nos garantir, com a ordem e a paz, o gozo dos bens materiais e morais que somente a comunhão humana, sob a forma de nação organizada, propicia aos homens, elevando do plano material para o ideal o valor e o sentido da sua vida e do seu destino.
Não criamos, porém, do nada o nosso regime. Conservamos e desenvolvemos o que havia de bom no velho Brasil, no Brasil imperial e no Brasil republicano, nos seus costumes e na sua vocação, na sua experiência e nas suas aspirações; o clima de benignidade, contrário a todos os extremos, o equilíbrio, a modéstia, a medida, as virtudes da serenidade e da compreensão, a tutela das liberdades individuais e coletivas, o clima jurídico, a cuja sombra amadureceram os frutos da nossa civilização e da nossa cultura. Eis como Estado Novo é um Estado nacional e popular, criado pela Nação e para a Nação, pelo povo e para o povo.
Um Estado como este não pode ser, porém, uma abstração jurídica. Há de ser um homem, uma pessoa viva, inteligência, vontade e sentimento — faculdades da pessoa humana e não de fórmulas algébricas ou de abstrações jurídicas. O Estado popular é o Estado que se torna visível e sensível no seu chefe, o Estado dotado de vontade e de virtudes humanas, o
Estado em que corre não a linfa da indiferença e da neutralidade, mas o sangue do poder e da justiça.
Há uma relação misteriosa entre as coletividades humanas e a personalidade que, em cada época, o destino lhes reserva como chefe. As instituições são, em parte, o homem que as modelou e que as anima do seu espírito e da sua vontade. Pode-se dizer, portanto, que o Estado Novo é o Sr. Getúlio Vargas, e que sem ele, sem o seu temperamento e as suas virtudes, o Estado Novo teria outro sentido e outra expressão.
O que a posteridade reconhecerá como um dos traços definidores da sua fisionomia singular de homem público é a feliz aliança de qualidades que andam ordinariamente separadas: retidão, fortaleza, serenidade, compreensão, humanidade. A constância da sua atitude por entre as mais diversas circunstâncias indica a existência de um desígnio secreto, superior às vicissitudes do tempo e sem o qual o homem público não é um grande homem de Estado. Este é o grande construtor, o homem que projeta para os tempos a vir, que espera e pacienta com as circunstâncias, sem se deixar dominar por elas, o homem de um pensamento e de uma vontade, firme ainda quando parece transigir ou contemporizar, trabalhando interiormente nos seus planos e nas suas antecipações, quando aqueles e estas encontram exteriormente dificuldades, empecilhos ou obstruções.
Vejamos por um exemplo. Desde o primeiro dia do seu advento, o que mais preocupava o pensamento do nosso Presidente era a unidade do Brasil. Este pensamento, porém, nem sempre correu à flor da ação. Como um rio subterrâneo, continuava o seu curso para aflorar, nas ocasiões oportunas, à superfície, indicando assim a continuidade interior, que nunca se interrompeu, contornando os obstáculos, aproveitando-se das circunstâncias favoráveis, engrossando com o tempo o seu volume e, finalmente, conquistando ao seu pensamento, sem violência e sem surpresa, os setores que pareciam mais refratários e rebeldes.
Richelieu, quando se dedicava à obra de transformar a França em Nação, foi advertido por um amigo de que se impopularizava. “Quand on fait un grand pais, on ne regarde point des cotés”, respondeu. Assim, o nosso grande Presidente, como arquiteto da Nação, não olha para os lados. “Sejamos brasileiros, antes de tudo”, ainda repetia, há pouco tempo, em Minas, seguindo, talvez sem propósito definido, o fio do seu pensamento de arquiteto e construtor do Brasil unificado, política e espiritualmente unificado, e reatando, assim, as tradições da Independência e do Império.
A sua presença no governo não nos deu apenas esta grande coisa, que é o pensamento de um Brasil sem fronteiras interiores, de um Brasil sem regiões algidas ao toque do sentimento nacional, de um Brasil sem quistos e sem fendas, de um Brasil unido por um único sentimento de comunhão fraterna e de devotamento filial. A sua presença no governo deu-nos também esta pequena grande coisa, esta coisa trivial e comum, e que, à força de ser comum, só raramente nos parece preciosa: a tranqüilidade, o sossego, a segurança. Calmo, mas enérgico; longânime, mas severo; tolerante, mas inflexível; empenhado em resolver os problemas do presente em função do futuro, a sua serenidade reflete a intimidade com o tempo, intimidade essencial aos grandes construtores habituados à perspectiva e ao espaço e, acima de tudo, às leis do crescimento e da maturidade, cujo tecido se confunde com o tecido do tempo. Serenidade, tempo, meditação, eis, em resumo, a ciência e a prática da política, como de toda construção que pretenda conquistar o tempo e durar na sua dança e nas suas vicissitudes.
Dois anos constituem apenas um começo. Não há bronze, nem mármore que, em dois anos, adquira a pátina das obras definitivas. É um prazo para linhas gerais, experiências, ajustamento de quadros, desbravamento de terreno. Contudo, o que nesse interregno já realizou o Estado Novo constitui, sem dúvida, um grande avanço no tempo. Sente-se que as peças estão ajustadas, a locomotiva abastecida de combustível, os trilhos lançados no chão, e que já começou a arrancada para o futuro. Os sôfregos, os açodados, os impacientes não se darão por satisfeitos. Quereriam que, em dois anos, já tivéssemos chegado ao fim da carreira. Não existem para eles o tempo e a meditação, os dois instrumentos que tornam possível ao homem conquistar, num mundo de movimento e de transformações, postos de resistência e duração. A matéria prima que as mãos do nosso Presidente trabalham não é matéria bruta e insensível. É o Brasil, — o Brasil território, o Brasil Nação, o Brasil homem, o Brasil sangue, músculo, sensibilidade, vida, o Brasil vivo. Os problemas a serem resolvidos exigem a rotação do espírito em órbitas imensas. Em domínios como estes, a precipitação, a afoiteza, o açodamento constituem faltas contra o espírito, contra os sentimentos de compreensão e de fraternidade humana.
A fortaleza não exclui a humanidade. A fortaleza de ânimo, que é um dos traços fundamentais do nosso grande Chefe, disputa no seu coração primícias à generosidade. Só os fortes perdoam, — e ele tem perdoado, até em conjunturas em que a falta de perdão seria estrita justiça. Ao lado, porém, ou talvez acima da fortaleza do caráter há outra — a da inteligência, a da vontade, a do espírito, que não se deixa desviar da sua rota, do seu programa e da sua vocação.
Compreensão e humanidade, eis as duas grandes faculdades que o homem de Estado, que trabalha no plano do espírito e da vida, não pode dispensar, sob pena de ser a sua obra estéril e áridas e inviáveis as suas criações.
Ninguém melhor compreendeu o Brasil do que o nosso Presidente, cujas antenas registam ainda os movimentos de opinião que não impressionam a sensibilidade comum. Ele sente como sente o povo brasileiro; ele surpreende na fase nascente as aspirações e as tendências populares, identificado pelo pensamento e pelo coração com o povo que o festeja e o aclama como protetor e justiceiro. Sereno e imparcial, o sentimento cristão de humanidade tem sido uma das fontes de inspiração do seu governo, sempre inclinado para a sorte das crianças, dos trabalhadores, dos deserdados, não apenas por sentimento de caridade ou de altruísmo, mas por um alto sentimento de dever para com a coletividade que lhe entregou a direção dos seus destinos.
Esse o homem diante do qual se inclinaram os estandartes das lutas fratricidas, — o construtor, o pacificador, o homem do destino, fechado consigo mesmo para melhor compreender, no plano de sua vida interior, a vida do Brasil, a imagem do seu presente e o panorama do seu futuro.
O homem completa e corrige o regime. Amplia os seus quadros, retifica as suas linhas e abre espaço à colaboração de todos. Não há vencedores nem vencidos, quando uns e outros, à sombra de um chefe de espírito compreensivo e tolerante, se dispõem a cooperar na obra comum, animados do mesmo amor que o anima em relação ao Brasil.
Que todos os brasileiros, como o grande Chefe que está nos segredos e na intimidade do tempo, possam a este. como Ésquilo, dedicar orgulhosamente a sua obra: o Brasil do Estado Novo, o Brasil Maior.
JURAMENTO DO BRASIL
Oração proferida em 22 de Setembro de 1937, no cemitério de São João Batista.
De onde esta romaria? De onde essa imensa ondulação humana, de onde este silêncio carregado de sentido, esta pausa no tempo, por cuja fresta parece dado ao pensamento humano debruçar-se um instante sobre a eternidade? Nesta romaria, nesta ondulação humana, neste silêncio, nesta pausa do tempo está o Brasil. Esta romaria vem do fundo do Brasil — dos seus lares, das suas capelas, da sua piedade. Ela vem do passado do Brasil, e a sua fonte é o mesmo sentido cristão que sempre conduziu o nosso povo a procurar nos momentos difíceis, os humildes cruzeiros que se erguem nos pontos culminantes das pequenas cidades e que são as suas colunas inspiradas, onde, no pensamento e no coração, amadurece o voto, a resolução, a coragem de continuar com alegria o sacrifício.
Esta romaria vem do fundo do Brasil; do fundo do Brasil no sentido do tempo, porque nela a continuidade da nossa tradição, — o mesmo velho e grande Brasil, piedoso romeiro das colunas inspiradas, e do fundo do Brasil, no sentido da sua inspiração, porque nela e por ela o que se afirma é a vontade do Brasil de continuar a ser brasileiro, fiel às virtudes que construíram a nossa casa, fundaram a nossa família, formaram o nosso coração e dedicaram o Brasil à fé sob cuja invocação as cidades dos mortos vivem os seus dias de ressurreição e de gloria.
Aqui está o Brasil, não apenas para recordar o passado, mas para abrir o coração aos votos e às resoluções que deram sentido ao sacrifício a que vimos tributar a nossa gratidão. Neste dia, não é aos mortos que nós honramos; a nós mesmos nos procuramos honrar, evocando a sua memória e lembrando o seu sacrificio.
A sua honra eles mesmos a conquistaram, colocando-a acima da vida. E a sua memória não é nas nossas palavras que viverá. Quando estes discursos houverem caído no esquecimento, eles, os mortos, que conquistaram com a sua honra um lugar neste campo, eles ainda serão lembrados na memória dos vivos. Não estamos aqui para consagrar os mortos. A sua consagração eles mesmos a fizeram, Eles se dedicaram a si mesmos os seus monumentos funerários, e o sinal com que marcamos os lugares que eles conquistaram neste campo é apenas um traço na areia, diante da perenidade do que eles mesmos construíram em sua lembrança. Não é possível honrá-los mais do que eles a si mesmos se honraram, nem consagrá-los nem dedicá-los, pois a si mesmos se consagraram e se dedicaram. Nós é que nos devemos consagrar e dedicar ao que eles consagraram e dedicaram à vida. Eles não morreram para nos resgatar do sacrifício, mas para nos lembrar que mais vivem os que morreram pela honra do que os que a trocam pela vida.
Lembrando-os, não nos esqueceremos de que para possuir o que já temos é necessário conquistá-lo todos os dias. O homem surgiu no dia em que passou da economia paradisíaca ou da plenitude gratuita dos bens para a economia do esforço e do trabalho, para o domínio da liberdade, da criação, da história, dos acontecimentos, da decisão e da vontade. Assim também as nações. Não conservaremos o Brasil se não o conquistarmos todos os dias.
A comemoração dos que morreram pelo Brasil é o juramento dos vivos de tomar nas fileiras os seus lugares e de continuar a luta até o sacrifício. Aqui estamos, porque estamos resolvidos a não consentir que os mortos tenham morrido em vão; somente com a providência dos vivos serão resgatadas as suas culpas para com os mortos. Esta a dívida e este o juramento do Brasil.
AS DECISÕES QUE MUDAM O CURSO DA HISTÓRIA
Oração proferida no cemiterio de São João Batista, em 27 de Novembro de 1939.
O governo da República tinha, que associar-se a esta romaria de caráter eminentemente popular, na qual, todos os anos, as cabeças se inclinam em reverência e os corações, animados de piedade cristã e de fé patriótica, renovam o voto de reconhecimento e de gratidão às figuras, hoje simbólicas e legendárias, a cuja invocação a cidade dos mortos se transfigura, por um momento, em campo de ressurreição e de glória.
O episódio que elevou da obscuridade para a glória e da modéstia pessoal para o orgulho de toda a nação os bravos cujos nomes se tornaram, para sempre, indeléveis na memória, no reconhecimento e na admiração do Brasil, por mais curto que tenha sido, faz, hoje, parte da nossa história. Com ele, começou para o Brasil um novo tempo. Dele passamos a contar um período novo da nossa história. Com ele, a Nação adquiriu outra consciência do seu destino e em torno dele se organizou e cristalizou um novo sentimento e uma nova concepção da ordem política, social e espiritual, que o Brasil, por entre a perplexidade e a confusão que assinala o fim dos regimes, postulava como condição essencial da sua restauração interior e da continuação da sua unidade.
Graças aqueles que na hora decisiva, vivos ou mortos, acordaram na posteridade, o Brasil pode continuar a ser uma Nação. Como acontece, às vezes, na história, o curso do destino pode ser, à última hora, mudado pela decisão dos homens. Assim, em novembro de 35, a decisão dos homens mudou o curso da nossa história. A atmosfera política, social e intelectual que então envolvia o Brasil indicava que havíamos chegado à hora funesta das grandes provações coletivas, que só podem ser impedidas por oportunas decisões armadas, pelo emprego consciente e severo da força ao serviço de uma ordem espiritual que ainda não perdeu a fé nas suas razões.
O Brasil ainda não havia perdido a fé nas suas razões, a fé no seu passado e no seu futuro, a fé na ordem espiritual, sob a influência de cujos mandamentos havia formado o seu coração e a sua inteligência, a fé que lhe havia valido mais de um século de independência, de soberania e de unidade.
Esta independência, soberania e unidade, nós a conquistamos, novamente, em 35.
Nós a conquistamos pela decisão e pela força, — decisão e força que tornam possível aos homens mudar o curso do destino.
Rememorando os mortos, relembrando a sua bravura e o seu sacrifício, não esqueçamos, contudo, os vivos — as forças armadas do Brasil, fieis à sua missão histórica, identificadas com a existência nacional, disciplinadas, atentas e vigilantes, guardas da independência, da soberania e da unidade do Brasil, forças armadas para cumprir, nas horas graves, as decisões que, para que não mude o Brasil ou para que o Brasil continue, mudam o curso dos acontecimentos e, portanto, da história e do destino.
ORAÇÃO À BANDEIRA
Proferida na Esplanada do Castelo, em 19 de Novembro de 1936.
A bandeira é um símbolo, e a sua comemoração, uma cerimônia. As cerimônias e os símbolos não trazem em si mesmos a sua justificação e o seu sentido.
Não basta hastear a bandeira e prestar-lhe reverência e juramento. A bandeira é um sinal. Ela representa realidades e valores, e os valores e as realidades que ela representa não estão inscritos no seu quadrilátero, mas no espírito, na vontade e no coração dos homens.
Basta de cerimônias e de comemorações se nelas não se contêm a vontade e a fé, o propósito de que constituem a falsa expressão e a aparência fraudulenta. Não se hasteie a bandeira, si com ela não se eleva o espírito e não sobe no coração o canto de amor e de fidelidade às realidades e aos valores que representa.
Basta de cerimônias e de comemorações, se os atos não correspondem às palavras, a vontade aos gestos, o coração ao pensamento, as responsabilidades aos deveres.
Basta de cerimônias e de comemorações, se nelas tudo se reduz à formalidade, ao rito, à mímica convencional da palavra sem conteúdo, das paradas cívicas a que não se seguem os movimentos cívicos, do voto simbólico que não se faz acompanhar do voto efetivo e militante, das promessas destinadas a não ser cumpridas, da boa vontade que se não traduz em iniciativa, coragem, responsabilidade, definição de rumos e marcha na direção dos rumos definidos.
Não te dês por satisfeita, Bandeira do Brasil, com a homenagem dos lábios e a reverência puramente formal dos gestos cerimoniosos e convencionais. Essas palavras e esses gestos são palavras e gestos gratuitos, sinais fiduciários, que se não convertem em valores de ação e em realidades morais. Pede o coração, quando te quiserem dar palavras, e o trabalho, o devotamento, a disciplina, o dever, a consciência, quando desfilarem diante de ti as promessas, as intenções, as palavras fáceis e o frívolo rumor das festas, do contentamento beato e da satisfação gratuita e irresponsável. Exige a fé, quando te derem afirmações. Espera e confia, mas julga, profere e decreta, quando os votos não se traduzirem em ação, e a expectativa e a esperança não frutificarem em realidades.
O Brasil está exigindo, no clima aquecido pela passagem do bólide moral das revoluções, uma redefinição em termos de cultura, de vontade, de governo e de justiça. Nas formas morais e políticas vigentes, a mocidade não encontra expressão para as suas inquietações, os seus anseios e o seu sentido da vida, os seus impulsos criadores e o direito que cabe a cada geração, de fazer, à sua própria custa e com a sua responsabilidade, a sua experiência original ou a reinterpretação das experiências passadas em termos próprios e adequados à sua experiência e às antecipações do seu pensamento e do seu coração. Não se pode frustrar impunemente o direito da juventude de reinterpretar o passado em termos do presente e do futuro. Ela tem o direito à redefinição dos valores, dos ideais e dos símbolos fiduciários, que recebeu do passado e que lhe cumpre submeter à verificação dos critérios intelectuais e morais que lhe inspiram a sua experiência própria e os seus sentimentos em relação à vida e ao mundo, ao seu sentido e ao seu valor.
Bandeira, na nossa língua, mocidade do meu país, significa também programa e marcha, arregimentação, iniciativa, risco, descobrimento. Empunha, pois, a nossa Bandeira, mocidade do Brasil, e, em nome dela, exerce o teu direito e cumpre o teu dever.
Radiosa juventude brasileira, a vontade decidida e o pensamento em forma, afina os lábios pelo coração, ergue a voz em canto e a mão em continência — pela Bandeira, pelo Brasil!
ORAÇÃO À BANDEIRA
Proferida no Campo do Russel, no dia 19 de Novembro de 1937.
Coincidem, no mesmo dia, duas comemorações a que o Brasil inteiro se associa: a consagração à Bandeira Nacional e, à sombra da Bandeira desfraldada, o pensamento e o coração voltados para os que, defendendo-a e defendendo o que ela de mais caro representa, deram a sua vida à Pátria, — soldados, que jamais poderão ser esquecidos pelo Brasil, mortos no posto de honra e rendidos nesse posto pelos seus irmãos de armas, que continuam com a Bandeira e com o Brasil. Um pensamento aos que morreram pela honra, e às forças armadas do Brasil, o respeito e a veneração dos Brasileiros.
Bandeira do Brasil, és hoje a única. Hasteada, a esta hora, em todo o território nacional, única e só, não há lugar no coração dos Brasileiros para outras flâmulas, outras bandeiras, outros símbolos. Os Brasileiros reuniram-se em torno do Brasil e decretaram, desta vez com a determinação de não consentir que a discórdia volte novamente a dividi-lo, que o Brasil é uma só Pátria e que não há lugar para outro pensamento que não seja o pensamento do Brasil, nem espaço e devoção para outra bandeira que não seja esta, hoje hasteada por entre as bênçãos da Igreja, a continência das espadas, a veneração do povo e os cantos da juventude. Tu és a única, porque só há um Brasil; em torno de ti se refaz de novo a unidade do Brasil, a unidade do pensamento e da ação, a unidade que se conquista pela vontade e pelo coração, a unidade que somente pode reinar quando se instaura, pelas decisões históricas, por entre as discórdias e as inimizades públicas, uma só ordem moral e política, a ordem soberana, feita de força e de ideal, a ordem de um único pensamento e de uma só autoridade, o pensamento e a autoridade do Brasil.
O ano passado, nesta mesma solenidade, eu tive a fortuna de dirigir a palavra à juventude do Brasil. Então, os tempos adversos nos traziam comprimido o coração. Mal convalescendo de uma crise decisiva, cuja fase aguda ainda não havia passado, tínhamos diante de nós a perspectiva de que, em dias bem próximos, voltaria a repetir-se o espetáculo da intranqüilidade e da insegurança pública, que um regime incapaz havia transformado em estado normal, confirmando, assim, o teorema político milenar de que, nas épocas de dissolução e de crise, se não se constitui o governo forte e responsável, a desgraça se apodera das nações e nada se salva se não se salva, na ruína geral, o centro de lucidez e decisão que, na confusão dos espíritos e na vacilação das vontades, responde pelo rumo e pela ordem. Dizia, então, que o Brasil, no clima aquecido pela passagem do bólide moral das revoluções, estava exigindo uma redefinição em termos de cultura, de vontade, de governo e de justiça, e que não se podia frustrar impunemente à juventude o direito de reinterpretar o passado em termos do presente e do futuro.
Essa reinterpretação um ano depois se fazia, e os termos em que está feita não foram escolhidos arbitrariamente, senão por um plebiscito tácito, em que se pronunciaram as forças vivas e responsáveis do país, as que o regime extinto havia proscrito das suas cogitações, as forças novas e as forças tradicionais do Brasil, as mais ameaçadas, porque as mais modestas e as mais silenciosas, as forças de criação, de trabalho e de defesa nacional.
Sob a inspiração dessas forças, em cujo nome se instaurou o novo regime, é que se procede a esta consagração do Brasil à sua Bandeira, a bandeira única de todos os Brasileiros. Honrai a vossa Bandeira, juventude do Brasil, consagrando a ela o vosso ideal, jurando criar valores para o Brasil, trabalhar por ele e defendê-lo, dedicando-lhe o vosso pensamento e o vosso coração. Antes de tudo, soldados do Brasil!
A vocação da juventude, em horas como esta, deve ser a vocação do soldado. Seja qual for o seu nascimento, a sua fortuna, a sua inclinação, o seu trabalho, que cada um, na sua escola, no seu ofício, na sua profissão. seja um soldado, possuído do seu dever, obediente à disciplina, sóbrio e vigilante, duro para consigo mesmo, trazendo, no pensamento, clara e definida, a sua tarefa e, no coração, em dia e em ordem, as suas decisões.
Todos somos soldados, quando o que nos pedem é a ordem, a disciplina, a decisão. Isto é o que o Brasil pedia e isto é o que o Brasil conquistou sobre si mesmo.
Sentido e mãos em continência, soldados desse ideal, soldados da Bandeira, soldados do Brasil!
ORAÇÃO À BANDEIRA
Proferida no Campo do Russel, no dia 19 de Novembro de 1939.
Neste campo, em torno dessa bandeira que acaba de ser hasteada por entre as aclamações do povo, eu sinto a presença do Brasil, a evocação do seu espaço e da sua história, a revivescência do seu passado e a afirmação do seu presente, o compromisso e o juramento, no coração da juventude, de devotamento, fidelidade e sacrifício pelo Brasil maior, o Brasil que cada um de nós traz no pensamento e na vontade, o Brasil de que somos apenas os operários efêmeros e modestos, o Brasil em crescimento, o Brasil continuação e perpetuidade, maior que o do passado e o do presente, mas igual a si mesmo, porque fiel às virtudes que o modelaram em nação, o Brasil simples e unido como um rio, cada vez maior e sempre o mesmo, o Brasil que não sabemos se mais amar na recordação ou na esperança, nas suas modestas nascentes do passado ou no imenso estuário do futuro, em que não se sabe onde o rio acaba e onde começa o oceano.
Neste campo, à sombra dessa Bandeira, o Brasil concentra-se num ato de meditação e de fé. Aqui, o Brasil se recorda e revive na memória o seu passado; aqui, nesta curta pausa de sol que se abre na continuidade de seu trabalho, o Brasil transfigura-se em símbolo, reduzida, no mundo interior, a sua imensidade a uma imagem visual, e no coração, o amor dos brasileiros pelo seu país, em um sim uníssono e jovial, um sim ao Brasil que foi e ao Brasil que é, um sim ao seu passado e ao seu presente, a aceitação do Brasil como a história o fez, do Brasil brasileiro, do Brasil com o nosso céu, a nossa luz, as nossas águas, o nosso sentimento, os nossos costumes, a nossa fé, a nossa civilização e a nossa língua.
A pátria não é, porém, apenas uma dádiva do céu. Os homens constróem a sua pátria como os pássaros o seu ninho, os termitas as suas cidades de mistérios e de silêncio, os rios o seu curso e o coral os seus arquipélagos de sonho. Cada uma dessas construções representa esforço, trabalho, sacrifício, tenacidade na luta, obstinação no instinto ou na vontade, continuidade na ação e, nas construções humanas, as difíceis e raras virtudes de modéstia na grandeza, de desinteresse, de disciplina, de humildade, porque a construção da pátria pelos homens é uma construção no tempo para a eternidade.
Cada geração, trabalhando no seu tempo, com as suas limitações, as suas contingências, os seus erros, cada indivíduo no seu ofício, na sua profissão, na estreiteza do horizonte quotidiano da sua vida, está, sem o saber, contribuindo para a obra comum cujo perfil no tempo somente nos é dado representar no espírito nos raros momentos como este, de emoção coletiva, quando no plano da nossa vida individual se projeta, por um instante, a imagem dessa constelação de sentimentos — do sentimento da terra, do céu, da língua, das lembranças e dos acontecimentos vividos em comum, e que abre ao nosso espírito e ao nosso coração, sobre os tempos passados e os tempos a vir, a imensidade desse horizonte virtual em que o sentimento da pátria alarga no sentido do eterno as pequeninas dimensões da nossa vida. O sentimento da pátria dá ao homem uma nova dimensão — a dimensão ideal que prolonga a sua vida na linha do passado. É na linha do futuro, dando-lhe o sentimento de que a sua vida não é apenas um efêmero acidente no oceano do tempo mas, como o coral, um elemento destinado à edificação de continentes.
Em torno desse edifício, porém, nem sempre o tempo é sereno, os ventos favoráveis e as águas unidas e tranqüilas. Há, na história, épocas de inquietação e de insegurança, de intranqüilidade e de perigos, épocas em que os homens sentem que a sua nação, o seu país, a sua pátria, para que continue a ser construída e defendida, exige vigilância, coragem, virtudes fora do comum, severa disciplina, exemplar devotamento, mobilização da inteligência e da vontade e, sobretudo, ordem e paz interiores, a fim de que do interior da própria casa não se abra a fenda destinada a minar os alicerces do edifício.
No nosso tempo, as pátrias estão em perigo. Sopra sobre elas, principalmente sobre as fracas e pequeninas pátrias, o vento da inquietação e da ameaça. A hora que o destino nos reservou na história não é a do sossego, da confiança e do repouso, a hora dourada em que, depois de haver trabalhado, o homem espera, cantando, que os frutos e as searas amadureçam ao sol.
Depois de haver trabalhado, os homens, se querem colher, devem montar guarda às suas searas. A pátria não é mais, como nas épocas felizes, um dom do acaso, da natureza ou da história. Ela tem de ser conquistada todos os dias pelo trabalho perseverante, a ininterrupta vigilância e a disciplina da inteligência e da vontade. A hora não é apenas a do trabalhador, mas também, e principalmente, a do soldado, a hora da ordem, da atenção e do silêncio, a hora da vigília, a hora em que a sentinela escuta, vigia e espera.
Esta a advertência e a lição do nosso tempo: as pátrias estão em perigo. A hora não é das dissenções, das agitações das discórdias internas. A hora não é dos estandartes, que separam, mas da bandeira, que reúne, congrega e irmana.
Em nenhum tempo, talvez, a festa da Bandeira se possa atribuir o sentido que a de hoje: o sentido de advertência e de convocação. À sombra dessa Bandeira, cada brasileiro é um soldado e, seja qual for o seu ofício ou a sua profissão, a sua alma há de ser uma alma de soldado, pronta a atender, disposta a obedecer, preparada para a privação e para o sacrifício.
Brasileiros, cerrai fileiras em torno dessa Bandeira, com ela e por ela, para diante e para cima, ainda que por entre a tempestade; com ela e por ela, seja qual for a hora que nos reserve o destino; com ela no coração e as mãos em continência — o compromisso de nunca faltarmos ao Brasil!
©2002 — Ridendo Castigat Mores
www.ngarcia.orgVersão para eBook
eBooksBrasil.org
__________________
Julho 2002Versão para eBookLibris e pdf Fevereiro 2005
Proibido todo e qualquer uso comercial.
Se você pagou por esse livro
VOCÊ FOI ROUBADO!
Você tem este e muitos outros títulos GRÁTIS
direto na fonte:
www.ebooksbrasil.org