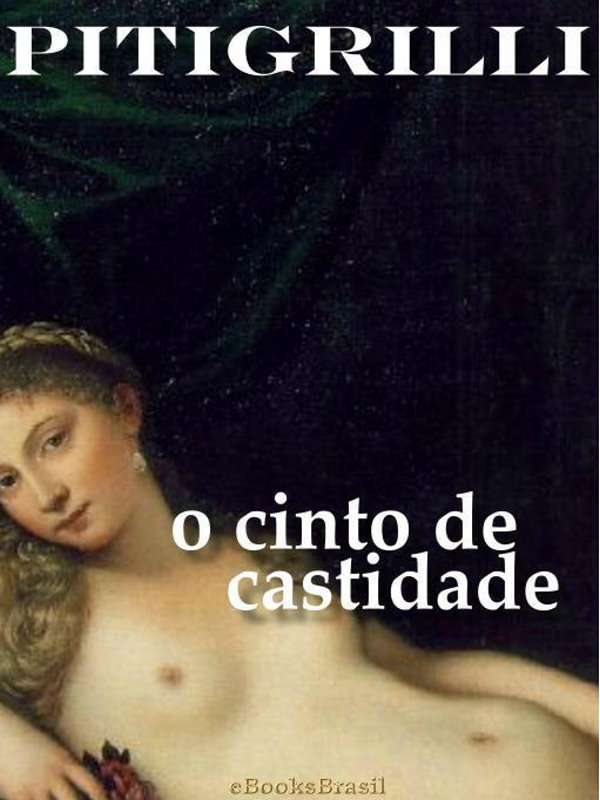
O Cinto de Castidade [1920]
Pitigrilli
[Dino Segre - 9.05.1893/8.05.1975]
Tradução de João Sant’ana
Versão para eBook
eBooksBrasil
Capa:
Une Odalisque (1814 - detalhe)
Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867)
Edição baseada na digitalização da edição em papel da
Casa Editora Vecchi Ltda., 1945 - 4a. edição
©2006 — Pitigrilli
[Ver nota de copyright]
ÍNDICE
O cinto de castidade
Um cão infeliz
A sua língua e a minha
Uma “garçonnière” e o teu coração
O centenário
Engana-me bem
O sereno pessimista
Mas não a tocarei
Numa noite de embriaguez alcoólica, uma loira e pálida vienense me deu o seu corpo e um frasco de amoníaco. Eu lhe ofereço este livro, que pretende ser um vidro de amoníaco contra a embriaguez do sonho.
O CINTO DE CASTIDADE
— És um amante demasiado vertiginoso para dares bom marido — segredara-lhe uma sua amiguinha num dia de infinito langor.
E o doutor Cirmeni, médico-cirurgião, não se casou.
* * *
— Achas que ainda poderei agradar às mulheres? — perguntara muito tempo depois o doutor Cirmeni, médico-cirurgião, a um amigo — achas que ainda poderei agradar às mulheres?
— Quanto tens de renda? — indagara o amigo.
— Sessenta mil liras anuais.
— Sim. Podes agradar ainda.
— Faria bem casando-me com a viúva Heiman-Bouchard? — perguntou um dia, depois dos quarenta o doutor Cirmeni.
— Não, não farias bem — desaconselhou o amigo. E o doutor Cirmeni casou-se com ela do mesmo jeito.
Os que se casam com uma viúva acompanham o gesto com espetaculosa exibição de inteligente modernidade de idéias.
Dizem:
— Os costumes estão por tal modo corruptos, que casando com uma virgem a gente se expõe, nove vezes em dez, a uma decepção. Uma senhorita que foi agitada pelo desejo e não se pôde satisfazer senão com os sucedâneos do amor, ao entrar na vida conjugal torna-se necessariamente uma adúltera. A viúva, ao contrário, já passou pelos bruscos movimentos durante o primeiro período matrimonial, como a madeira seca que se rachou, retorceu, inchou sob as intempéries, e depois de trabalhada não se altera mais.
Quem quiser uma boa mulher — aconselham — deve-se casar com uma viúva.
O fato de ter pertencido a outro homem não tem importância. O amor que a mulher nos dá é independente do que deu a outro, quando nós não tínhamos nem aparecido no seu horizonte. O florescimento de uma árvore nos delicia, mesmo se um ano antes, muitos anos antes, o mesmo florescimento deliciou a outros.
Dizem isso antes de se casarem com uma viúva.
Mas, depois que casaram, sentem-se como que envenenados por uma espécie de pudor. Sentem-se como que os voluntários do chifre, os cabrões legalizados, os minotauros consagrados, os enganados oficias. E envergonham-se disso como de u’a mancha. Não podendo esconder o seu estado, transformam-no habilmente com a fantasia.
— Casei-me com uma viúva, mas uma viúva especial. Quando casou comigo, era ainda virgem.
(Todos os meus conhecidos que se casaram com viúva, encontraram-nas virgens.)
— O primeiro marido, — explicam — descendo as escadas do Foro, tropeçou e partiu a espinha dorsal.
Esta é a versão mais simples. Outros dizem:
— Era virgem porque, apenas voltaram à casa após a cerimônia nupcial, tiveram de separar-se por incompatibilidade de gênios. Ele era um alcoólico brutal. Ela, alma delicadíssima, recusou-se-lhe e fugiu.
Também esta é uma versão de uso corrente. Mas há outras, cuja complexidade varia segundo o nível da imaginação do segundo marido: histórias de partidas inesperadas, de mandados de prisão, de ossos de frango que durante o jantar de núpcias entupiram o esôfago do esposo; de incêndios que irromperam no hotel no momento da cópula inaugural.
A história mais usual, a que me foi contada por nove pessoas diversas, é a da impotência do primeiro marido. Um amigo meu, que se casou com o dinheiro de uma viúva, jurava-me que o primeiro marido, fraco de constituição, deixara-a literalmente intacta.
Soube mais tarde que daquele primeiro marido impotente a viúva intacta tivera três filhos que agora gozam de excelente saúde, são os primeiros da classe e batem nos companheiros.
* * *
Casando-se com a viúva, o doutor Cirmeni não a engrinaldou aos olhos dos amigos com flores de laranjeiras artificiais.
Não escondeu a ninguém que a mulher era mãe de graciosíssima menina, e que durante o interregno de viúva tivera amiguinhos para uso interno.
O doutor Cirmeni era feio, mas tinha dinheiro.
Quando a u’a mulher se apresenta um homem com fins matrimoniais, se este é financeiramente um bom partido, ela não lhe vê os defeitos físicos, ainda que seja feio ou disforme.
Vê-lo-á feio e disforme somente se o homem a desdenhar...
O doutor Cirmeni era feio mas inteligente. Era magro, pálido, descarnado como a etiqueta farmacêutica dos venenos; tinha olhos pequenos como os dos homens míopes e os das galinhas cozidas; e tinha na cidade um consultório para moléstias dos ossos e u’a amante.
A amante era a “femme-crampon”.
Quando jovem fizera de modista; depois, de “chanteuse”; depois, de “cocotte”; e chegara a ser uma grande “cocotte”. Para chegar a ser uma grande “cocotte”, precisa-se começar fazendo de modista e de “chanteuse”. Estes estágios preparam para a faceirice como o jornalismo prepara para a política. Depois de ter feito a “cocotte” viajante em todas as redes ferroviárias internacionais, e de ter pernoitado em todos os hotéis, das mais elegantes praias e das mais espermáticas metrópoles, retirou-se dos negócios, para se dedicar exclusivamente aos cuidados íntimos do doutor Cirmeni. Fez como aqueles que depois de terem, durante anos e anos, exercido a tumultuosa profissão de advogado, fecham o escritório e ingressam numa empresa particular, ocupando-se fielmente com os negócios mais ou menos limpos de um só cliente.
O doutor Cirmeni, porém, não lhe dava excessivas ocupações. A sua escassa virilidade, devendo ser eqüitativamente repartida entre a mulher e a amante, reclamava aplicação prudente e cautelosa. Em outros tempos, quando os seu cabelos ainda não tinham necessidade de tintas e os seus nervos não exigiam regime equilibrado, o doutor Cirmeni era célebre na cidade pela sua vasta clientela feminina: diariamente vinham ao seu gabinete as belas e extravagantes iniciadas nos paraísos artificiais da morfina ou do éter, pedindo-lhe uma receita para a compra do doce veneno. E em troca do precioso documento, davam-lhe tudo. O dar “tudo” reduz-se afinal a dar uma coisinha só.
E se o doutor Cirmeni envelheceu precocemente, devia em grande parte agradecer à sua demasiado reconhecida clientela feminina.
— Outrora, — dizia — quando eu fazia a corte a u’a mulher, receava sempre que recusasse. Agora tenho sempre medo de que aceite...
Um dia por semana ia ao seu barbeiro fazer tingir os quatro, vírgula zero zero, cabelos que lhe restavam, e com ímpeto juvenil dirigia-se para a casa da amante, experimentada nas mais misteriosas fórmulas amatórias.
O apartamento da amante era todo mobiliado à turca, com lâmpadas que não dão luz e tapetes moles e macios.
Mesinhas baixas e cigarros.
Um narguilé para o efeito da cor local, mas que nunca se sabe em que parte do aposento colocar.
Madeiras incrustradas de madrepérola, pratos de bronze desbotado, quadros com minaretes ao crepúsculo, e o almuédão.
Obrigação para as visitas de se sentarem no chão, de pernas cruzadas, à turca.
* * *
Quem foi deputado durante uma legislatura, continua por toda a vida a chamar-se excelência.
Quem cantou num “music-hall” por alguns meses e depois foi fazer de “cocotte”, continua a atender por “chanteuse”.
Os vizinhos de casa e os amigos do doutor chamavam-na a “chanteuse”. A mulher também a chamava a “chanteuse”, simplesmente.
— E o seu marido, não vem ao mar?
— Não. Está na montanha com a sua “chanteuse”.
— Mas é sua amante mesmo?
— Uma “chanteuse” não se tem por poesia.
— Ao menos, quem sabe se pela música.
Era um homem esquisito aquele marido. Não amava a mulher, mas tinha-lhe ciúme. O seu amigo Axenfeld, doutor em física, alemão, estudioso de todas as ciências, explicava-lhe como o seu ciúme era fato inexistente.
— Se não amas tua mulher, — dizia — não podes ter-lhe ciúme. O amor e o ciúme estão sujeitos a uma lei que lembra a da ótica: o ângulo de incidência (amor) é igual ao ângulo de reflexão (ciúme).
“Imagina que tens um tubo de vidro em forma de U — dizia-lhe Axenfeld, o jovem doutor em física alemão — Se duma parte do tubo derramares amor, esta substância, que suporemos líquida, subirá pelo outro braço do tubo, e parará ao mesmo nível nos dois braços. De um lado derramaste amor. Do outro subiu até a mesma altura o ciúme. A coluna do amor e a coluna do ciúme têm sempre exatamente a mesma altura. Se amares pouco u’a mulher, serás francamente ciumento. Se a amares com loucura, o teu ciúme tocará a loucura.”
— Pois bem, estás errado, meu amigo — respondia o doutor Cirmeni —. Eu amo-a pouquíssimo e sou atrozmente ciumento. Tenho tido ciúmes de mulheres que não amava mais, ou que ainda não amava, ou que nunca amei. O que produzia esse estranho ciúme terá sido talvez amor em estado latente.
— Bem, então — retrucava o amigo — haverá em ti um amor em estado latente por tua mulher.
— Pode ser.
Mas o seu verdadeiro amor dirigia-se à “chanteuse” a quem dava todos os ímpetos amortecidos da sua paixão debilitada. Todo mundo se perguntava como é que o doutor Cirmeni podia adorar tão desesperadamente a “chanteuse”, carne para marinheiro, resto de prostíbulos, aventureira aposentada, destroços de beleza naufragada, vênus decaída, bocado mastigado de mulher; como é que amava um corpo a que não restava mais a elegância da linha, a harmonia das formas. Como é que podia amar uma mulher envelhecida pelos anos e pelas pinturas, em quem a sensualidade se devia ter afrouxado como a pele do pescoço, como os seios, como os flancos.
Poucos compreendem a verdadeira essência do amor. Julga-se geralmente que um homem seja atraído para u’a mulher pela frescura do seu rosto, pela esbeltez da cintura, pela agilidade das pernas, pelo mistério magnético dos olhos, pela muda promessa dos lábios impudicamente carnudos, pela palidez da fronte pura, pela tácita oferta das cadeiras, pela faceirice indisciplinada da cabeleira. Julga-se que u’a mulher se sinta atraída para um homem pela prepotência do seu olhar másculo, pela dobra da beca autoritária, pelo sorriso triste de sonhador ou de desiludido, pelos cabelos animalescos dos pulsos ou pela face depilada de efebo; pelo espírito que demonstra, pela inteligência que esconde, pela nobreza do seu caráter, pela malvadez sádica da sua alma, pela sensualidade que promete a sua mandíbula nervosa.
A beleza, pois, a linha, a forma, a cor, são, no juízo da maioria, os elementos que atraem um para o outro o macho e a fêmea. Só por meio deste erro se explica a pergunta que ouvimos todo dia:
— Mas como podes gostar daquela mulher, que não tem seios, que é magra, quo tem boca pequena e olhos apagados?
O amor — respondemos nós — não é produzido pela mútua contemplação da cor dos olhos ou da forma do nariz. O amor, este magnetismo animal mediante o qual um indivíduo é atraído para outro indivíduo, é causado pela afinidade química de dois corpos. No indivíduo devem-se distinguir duas entidades: a forma e a substância, isto é, a linha exterior e a matéria.
O amor é devido, não à forma, porém à matéria; o amor é atração física, a afinidade química dos dois organismos. A beleza não influi nada. A juventude não influi nada. O espírito, o talento, a elegância, a honestidade, a traição não têm a mínima parte no magnetismo animal que faz um corpo sentir a necessidade de se compenetrar noutro. Quando um homem e u’a mulher, tendo-se encontrado num ponto do espaço, experimentam a necessidade imperiosa (digo necessidade imperiosa e não desejo distraído) de se unirem, isso quer dizer que no corpo “daquela“ mulher existe a substância, a matéria, o produto químico que com implacável ânsia procura a substância, a matéria encerrada no corpo “daquele“ homem.
Nem de outro modo se explicaria o desejo de certas mulheres belas por homens que todos, e elas também, acham horríveis, nem de outro modo se explicaria o amor doido de certos homens por mulheres feias ou gastas.
O amor eterno, isto é, o inextricável retorcimento de uma vida em torno de outra vida, é o produto do encontro de um corpo em cujos tecidos existem aqueles metais e aqueles metalóides que têm afinidade química pelos metais e metalóides de um determinado corpo de sexo diverso.
(Esta expressão fará rir os farmacêuticos, mas eu não ligo.)
Os homens e as mulheres que se amam com um amor tenaz assim, podem, é verdade, praticar infidelidades com relação uns aos outros. Mas a aventura não é o amor; a cópula ocasional deixa intacta a paixão constante. Pode-se amar desesperadamente um homem e ir umedecer os lençóis de outro. A aventura não é mais que uma espécie um pouco refinada de masturbação, depois da qual, ainda que os sentidos tenham sido extenuados, permanece inalterada a paixão da mulher pelo indivíduo que emulsionou estavelmente a própria vida com a sua vida.
* * *
O amor do doutor Cirmeni pela “chanteuse” era a verdadeira paixão inextinguível.
O amorzinho intermitente com a esposa legítima era um incidente fortuito como uma aventura, insignificante como uma masturbação. Certas vezes, de manhã, acordando saciado, cansado, esgotado na cama da esposa jovem e bela, o seu desejo corria para a “chanteuse”, a velha amante desgastada pelos anos, pelas pinturas, pelas massagens.
— Não, meu amigo. O ciúme não é o estado alotrópico do amor — objetava o doutor Cirmeni ao doutor Axenfeld, que freqüentemente discutia com ele psicologia —. Eu não amo a minha mulher e tenho ciúmes dela, simplesmente porque aproximando-me dela por desfastio, por distração, por uma novidade, tenho necessidade de saber que aquela mulher, cuja posse não passa de acidente mínimo na minha vida, pertence-me só a mim.
“O ciúme, reconheço, é um sentimento bárbaro, selvagem, primitivo, que os séculos e a civilização deviam ter abafado e dissolvido. Mas não tenho culpa, se sou um homem da minha época, se vivo em 1921, ano em que os animais da minha espécie, que vivem em colônias no meu país, não chegaram ainda a tal ponto de evolução que consintam em que a mulher de cada um seja também mulher de outros. Com os séculos, com a evolução animal, o ciúme do homem se irá eliminando, como se vão perdendo o dente do siso e as vértebras do cóccix. Mas hoje ainda não chegamos a esse ponto de aperfeiçoamento, e eu sofro o ciúme como o sentiam aqueles guerreiros da Idade Média que, antes de partirem para as demoradas guerras, impunham à própria esposa o cinto de castidade.
— Lenda!
— Lenda? Então nunca estiveste no Museu de Cluny, em Paris? Há dois, em tão perfeito estado de conservação que se poderiam usar ainda hoje. Pois bem, eu compreendo o ciúme como o compreendiam aqueles enamorados primitivos.
— É grotesco.
— Isto sei eu, que é grotesco.
— E por cima, ingênuo. Que te importa que a tua mulher — objetou o amigo Axenfeld — não entregue a outro homens aquela parte do corpo que o cinto de castidade resguarda, se lhe pode dar a sua boca, a sua paixão, a sua alma? Com o cinto de castidade não fazes mais que impedir um ato, o ato sexual, o contacto de duas mucosas. Mas não podes impedir todo o resto, o amor, a paixão, o desejo.
— Palavras! — retrucou o marido —. O nosso ciúme, o ciúme verdadeiro, o grande ciúme que arrasta ao delito, o ciúme que se manifesta da maneira mais animalescamente sublime, está todo resumido na aproximação das duas mucosas, como tu dizes. Aquele que faz cena de ciúmes com a amante ou com a mulher porque trocou um olhar, um sorriso, um beijo furtivo com um estranho, não é um ciumento. O verdadeiro ciumento pouco se importa de que a mulher crave o olhar no olhar de um homem ou a língua numa boca masculina. O ciúme verdadeiro é o horror terrificante que experimentamos ao pensar que as suas mucosas situadas na fonte da vida sofreram o contacto das mucosas de outro. O homem verdadeiramente ciumento só tem medo deste contacto, da adesão daquelas duas mucosas úmidas. Entendes-me?
— E lamento-te.
— O cinto de castidade é um instrumento ideal, porque impede essa conjunção. Se à mulher que amo (a minha amante) e à mulher que me agrada (a minha esposa) eu pudesse fechar em torno do ventre aquele aparelho de ferro e marfim, acompanharia o gesto com estas palavras:
“— E agora podes beijar outro, beija-o como quiseres, onde quiseres; dá-lhe todo o fogo da tua boca enamorada, entrega-lhe a tua paixão, morre de amor por ele; odeia-me, toma nojo por mim. Não me importa. Basta que eu saiba que aquele ponto misterioso e maravilhoso do teu corpo não recebeu as poluções de outro homem.
“O adultério consumado é a única coisa que me assusta. Mas o desejo, o amor, o adultério branco não.
“Meu amigo, causo-te horror, compreendo, como causaria horror a u’a mulher a quem falasse deste modo. Mas o grande amor, o amor imenso, o amor pelo qual se mata e que nos mata, não é mais, deixa-me dizê-lo, que o contacto daquelas duas pequenas mucosas.“
* * *
O doutor Axenfeld passara grande parte da juventude sobre as fórmulas e os instrumentos de física. Preocupado com penetrar os mistérios da alimentação, da reprodução e da morte no mundo vegetal e no mundo animal, não tinha podido estudar os homens e as mulheres: da psicologia humana tinha, por isso, conceito impreciso e convencional. A realidade científica da matéria de que estudava os segredos não chegara nunca a desanuviar-lhe o espírito de todos os preconceitos que pesam sobre o nosso córtex cerebral e são o dom de triste herança milenária.
Era aquilo que, com perdão da palavra, se chama um moralista.
Ele não escondia, ao contrário, gabava-se de ser absolutamente puro de qualquer contacto feminino; e sustentava que o homem, se tem o direito de exigir de sua esposa a virgindade, tem o dever de dar-lhe em troca a própria virgindade.
— Ao casamento — proclamava — chegarei puro.
“Como poderia, aliás, não sê-lo? Como poderia possuir u’a mulher que não fosse a minha esposa?
“As mulheres mercenárias me assustam como frascos de veneno ou de explosivo ou de vírus.
“Desejar a mulher alheia é um delito.
“Como vês — concluía — não posso deixar de ser puro.“
* * *
Um homem como este deve fazer pena a quem dele se aproxima. Eu sempre me representei os moralistas como velhos e ressequidos, com a face térrea e rugosa como um velho sapato amarelo, e cheirando a castidade. O cheiro de castidade imagino-o como aquele cheiro de lacre, de tinta seca e de mofo que empesta as repartições de correio e as secretarias dos tribunais.
O moralista, visto de perfil, deve ter o cabelo caindo sobre o nariz, o nariz descendo por cima do bigode, e os bigodes chovendo sobre o queixo.
O alemão Axenfeld, doutor em física e moralista, era, porém, um belo rapaz, elegante, sem seguir a moda, interessante, sem se esforçar por sê-lo. Das mangas do trajo negro saíam-lhe as mãos pálidas de convalescente. Espáduas largas, mas não curvadas; cintura fina, porém não estrangulada; tez clara, mas não doentia; fronte vasta, mas sem prelúdio de calvície.
Havia um quê místico na sua pessoa. Era o tipo do asceta moderno, fundido com o violinista dos cartões-postais, com o poeta murgeriano e com o conspirador de 48, como o imaginam as senhoritas das escolas normais.
Cabelos, olhos, supercílios, vestes negras e pesadas, como os traços de uma xilografia.
Fronte, faces, lábios, mãos de um pálido amarelado como o pálido amarelado das águas-fortes.
E chamava-se Hans.
Hans Axenfeld.
E agora que conhecemos o marido e o amigo do marido travemos conhecimento com a mulher.
A senhora Cirmeni tinha cabelos tão ruivos que neles se poderia acender o cigarro. Vestia roupas aderentes que nem malhas de seda, e nos dedos usava anéis antigos com pedras não facetadas, mas redondas, hemisféricas, pançudas como gotas de “alchermes“ ou de “chartreuse”.
Sensualidade escassa, na aparência.
Sensibilidade nula, na aparência.
Nervos anti-sísmicos.
Mulher gélida, imperturbável, simuladora hábil, dissimuladora prudente.
Olhos frios de bebedora de absíntio; impenetráveis como se as suas íris cinzentas fossem esmeriladas, fossem lavadas com minúsculos cristais de gelo.
A conduta quase indiferente do marido, o seu “faux ménage” não a humilhava, não a ofendia. Ele tivera a lealdade de lho confessar antes de casar-se. Ela tivera a serenidade inteligente de suportá-lo. O casamento não é a paixão. É o encontro de dois seres que fazem juntos um trecho de estrada: um dos dois, de vez em quando, reparte com o outro as suas provisões: o casamento é o encontro de dois seres de sexo diferente que tomaram uma casa em comum, que se servem de pão sobre a mesma toalha, repousam os membros sobre os mesmos lençóis, e que às vezes aproveitam a comodidade da cama para um contacto mais íntimo.
As noites que o marido passava fora de casa, ela dormia sem achar falta e sem desejo dele, e à sua volta não lhe dirigia perguntas indagadoras.
— Estive em casa de um doente.
— Não te perguntei onde estiveste.
No verão, quando, numa aldeia do Adriático, ela recebia a visita do marido proveniente da cidade, fazia-lhe um acolhimento cordial, e não menos cordialmente o acompanhava à estação quando partia de regresso à sua clínica de enfermidades dos ossos e sua amante, a desbotada “chanteuse”.
A Vila das Cetônias, onde ela passava os verões, estava animada ao fundo de vasto parque de sebes penteadas à Humberto, aquelas sebes quadradas preferidas por Emma Ciardi. Aqui e ali negrejavam alguns ciprestes lúgubres, que pareciam postos para amedrontar os ladrões noturnos; e sobre as rosas singelas dos canteiros, iridescentes reuniões vegetarianas de cetônias que se banqueteavam. Dir-se-ia que as rosas vermelhas fossem cultivadas para nutrir aqueles coleópteros azuis que ali viviam e morriam imperturbados, realizando e poetizando a tola expressão convencional do “leito de rosas”. E nasciam entre as pétalas vermelhas como na alcova de púrpura nasceu o imperador Constantino, o porfirogênito.
Desde há vários anos, todos os verões, a senhora Felka Cirmeni voltava com a filha para aquela vila aconchegada ao fundo do parque, daquele parque recolhido ao fundo do golfo.
Na Vila das Cetônias havia um órgão, um dócil galgo inglês, um papagaio brasileiro poliglota e doente de esplim, um burrico estúpido como um homem, e três quartos para hóspedes.
Um desses hóspedes era o doutor Hans Axenfeld, o físico alemão, o moralista elegante, pálido, quase jovem, quase belo, o homem que se proclamava puro.
Ninguém melhor do que ele podia ser o companheiro ideal da senhora Felka, cujo marido ciumento via em quase todos os homens um conjurado contra a sua felicidade.
Hans ensinava física e matemática à filha da senhora, e segurava a sombrinha de Felka, durante os demorados passeios vesperais ao longo da praia e do parque.
— Ao sol — dizia a senhora — eu enegreço depressa como papel fotográfico. Ai de mim, se fico um instante sem sombrinha. E sou demasiado indolente para carregá-la. É fatigante. Hans, segure-a você.
Aqueles dois seres tão elegantes e tão singulares, a senhora Felka e o doutor Hans, eram, para a opinião pública, amantes. Andavam demasiado encostados, conversavam demasiado baixo, parando demasiadas vezes para se olharem de face, sob as manchas de sol filtradas através da folhagem. Quase todos os dias, seguidos pelo ágil e flexuoso galgo (era um conjunto de curvas) desciam pela alameda do parque, avançando até os recifes, e se deixavam ficar contemplando o mar quase imperturbável, sob delgadas e oscilantes tramas de luz.
— Estar sentada num rochedo, contemplando o mar e pensando no tédio da vida da cidade — dizia a senhora — é bom como telefonar ao marido estando sentada nos joelhos de um amante.
Hans e Felka respiravam a melancolia da tarde, comovendo-se tacitamente com os sortilégios que o crepúsculo opera no mar, interrogando no azul, lentamente, a luz das primeiras estrelas.
Todo este sentimentalismo repugna. Eu sei.
Depois tornavam a subir pela alameda do parque. Dos subterrâneos da casa vinha um bom perfume de funeral indiano. Às vezes detinham-se a observar, através da grande, o cozinheiro paramentado como um sacerdote no ato de frigir sabiamente um pedaço de cadáver.
Esperava-os a sala de jantar de forro em forma de baús intercalados com grandes bordas de ouro. Sobre todos os móveis, desordenados feixes de ervas colhidas por Crisu, a menina de treze anos, meio ciganinha, meio “farouche”, que preferia arrancar celidônias, clematites e giestas a estudar a composição da pilha de Bunsen, ou a guardar na memória o “Piemonte” de Carducci, a poesia “baedecker”, trabalhos que lhe impunham o simpático e sereno doutor Hans, e o desapiedado e divertido teólogo Nardelli.
* * *
O teólogo Nardelli era outro amigo do marido e outro hóspede da Vila das Cetônias.
Sua mãe, uma antiga glória de Cítera, pusera-o num colégio de barnabitas para ter mais liberdade de movimentos. Todos os meses um banqueiro israelita e mação comparecia ao colégio dos padres para pagar a taxa mensal. Ele era o principal acionista da grande aventureira, cuja arte deliciava os ricos vivedores das grandes capitais européias. Esta vendedora de contrações espasmódicas, este lobo do mar da galantaria era como uma usina elétrica que distribuísse a sua energia em todas as direções e a distâncias fantásticas. Uma mulher como aquela não podia, pois, carregar um filho consigo. Se fosse uma filha... Poderia iniciá-la. Mas um filho...
Saindo do colégio dos barnabitas à morte da mãe, o teólogo Nardelli preparou-lhe comovente cerimônia fúnebre (com presença do clero, filhas de Maria, filhas do Sagrado Coração e filhas de Jesus) paga pelo banqueiro israelita e mação; depois, partiu para o Oriente. Após dois anos de viagem, voltou à Itália, e retirou-se com os seus livros e a sua melancolia para uma casinha branca às portas da cidade. O dinheiro herdado da mãe permitia-lhe ser um padrezinho bem tratado, limpo, com meias de seda e fivelas de prata.
Era um educador-tipo de famílias patrícias; o padre que usa lencinhos de batista, penteia o cabelo para um lado e usa camisas de seda com punhos de renda.
— Queres-te encarregar da educação da pequena?
— Com muito gosto, meu amigo.
— Ensinar-lhe-ás um pouco de literatura. A cultura clássica pode ser útil até a u’a menina.
— Por certo. Um pouco de cultura clássica não lhe fará mal, tanto mais que a esquecerá.
E foi assim que também o jovem teólogo Nardelli partira para aldeia à margem do Adriático, e na Vila das Cetônias encontrara um lugar à mesa e um quartinho claro que dava para o mar.
“A sua humilde cela” — dizia a senhora. Mas naquela humilde cela vermelhejavam estatuetas de Doulton, e cheiravam as giestas colhidas por Crisu, abandonadas em fantasiosos cristais de Lalique. Da trave de uma porta pendiam as molas elásticas para ginástica de câmara; e genial desordem de livros, jornais, revistas e pijamas de seda cobria o leito, baixo à maneira otomana.
Uma pia de água benta cheia de água-de-colônia perfumada.
Escrivaninha de palissandra com objetos galantes de escritório. Uma pasta sulcada de fios de bronze.
Era esta a cela que a senhora Felka Cirmeni oferecera ao teólogo Nardelli na Vila das Cetônias.
* * *
Mas havia naquela casa um terceiro e último moralista.
Apresentamo-los um de cada vez para não dar ao leitor uma congestão de náusea.
O terceiro moralista era um jovem demissionário, vice-presidente da Liga de Moralidade Pública, implacável desenredador de tramas filosóficas, cirurgião do ideal que se abstraía continuamente da realidade. Nos poucos meses durante os quais tinha exercido a chamada justiça, enfiara todo um rosário de besteiras. Julgando um ladrão de sapatos ou um corruptor de menores, ele se elevava por sobre a realidade dos fatos para guindar-se às sublimes razões do espírito. E como para ser magistrado é preciso raciocinar com os critérios de um guarda campestre, foi galhardamente convidado a pedir demissão.
Usava lentes de hipermetrope, que lhe agrandavam bovinamente os olhos.
— Tire esses óculos — aconselhava-lhe a senhora Felka.
— Se tiro os óculos fico em baixo de um automóvel.
— É melhor ficar em baixo de um automóvel do que ser feio.
— Ou pelo menos — sugeria o elegante teólogo Nardelli — se quer a todo custo usar óculos, em vez dessas lentes que lhe fazem monstruosos os olhos, use lentes para míopes.
Os três moralistas hospedados na Vila das Cetônias viviam em harmonia, se bem que as suas contínuas discussões quase filosóficas os pusessem muitas vezes em estado de perturbar a paz comum. Mas, como a moral não é mais que um conjunto de preconceitos, dogmas e mentiras hereditárias, aceitas sem exame crítico, os moralistas sempre se acham de acordo sobre todos os pontos do preconceito e da mentira. Um moralista que criticasse um dos dogmas da imbecilidade humana sobre que se apoia a moral, seria um moralista encaminhado na estrada da verdade. Noutras palavras, apartar-se-ia daquelas hipocrisias de que se tem de esfregar um moralista ortodoxo.
Entre moralistas nunca existem divergências, porque eles admitem incondicionalmente a inútil renúncia, a pureza aviltante, a felicidade tola, a honestidade ridícula, a criminosa cloroformização dos sentidos.
A vida dos três moralistas em torno de Felka Cirmeni, naquela vila adriática de veraneio, não tinha outro fim, na aparência, que não fosse orientar os estudos da pequena Crisu, cuja inteligência vivaz merecia não se deixar perder. O teólogo Nardelli ensinava a menina a tirar dos tubos do órgão as alegres e inspiradas vozes dos anjos e os lamentos das almas angustiadas. Ensinava-lhe também, em doses homeopáticas, latim e grego: o quanto bastasse para decifrar a inscrição de um relógio solar, ou para compreender o significado de um nome de remédio derivado daquela sublime língua de Safo, que hoje só se usa para compor nomes de pílulas, de pastas dentifrícias e vermífugos.
Crisu estudava com gosto e nunca se olhava ao espelho. O dia em que se olhasse ao espelho não estudaria mais.
Tinha os olhos azuis, do mesmo azul do vestido. As modistas dizem “ton sur ton”.
Bronzeada como um frango assado, passava a maior parte do dia na praia, correndo ao vento que lhe desmanchava artisticamente o penteado, ou lendo todos os livros que lhe caíam nas mãos.
— Gosto de “bouquiner” na beira-mar, porque o vento me vira a página.
O teólogo Nardelli procurava em vão fazer nas leituras da menina prudente seleção. Às vezes a menina “delurée” punha-o em inquietante embaraço com perguntas a que ele não saberia responder senão recorrendo a prestidigitação de palavras.
— Que é adenite? — perguntava Crisu.
— A adenite é uma doença exótica, que dá em Áden, na costa meridional da Arábia.
O segundo moralista, o juiz dos óculos grossos, ministrava-lhe conselhos úteis sobre a direção que se deve imprimir à vida, e preciosos ensinamentos educativos.
A educação não é mais que hipocrisia disciplinada.
Os educadores são gente que ensina a não dizer certas mentiras, mas obriga a dizer outras.
O terceiro moralista, o doutor Hans Axenfeld, iniciava-a nos mistérios da botânica e da mineralogia e divertia-a com fáceis experiências sobre a dilatabilidade dos corpos, sobre a transmissão do calor, sobre a formação dos cristais, sôbre as maravilhas da eletricidade.
Mas aquela adolescente que apenas começava a desenhar-se, que ainda não tinha compreendido quanto são mais úteis os espelhos do que os livros, aquela menina de pernas delgadas de fenicóptero, já tinha nos olhos uma chama de mulher vibrante, e as suas órbitas eram veladas de uma sombra azulada.
Se já fosse mais mulher, dir-se-ia que tinha “une mine de lendemain”.
* * *
“Une mine de lendemain” tinha todos os dias a mamãe, a senhora Felka Cirmeni.
“Cara de dia seguinte”... a quê? A que, se o marido estava longe, ocupado com os ossos ancilosados dos seus clientes e com as carnes amolecidas da sua “chanteuse”? Os três moralistas que o doutor Cirmeni pusera, na aparência, em torno da menina, formavam de verdade um cinto de castidade apertado em torno das cadeiras da senhora Felka. O marido que não a amava, porém que dela era doentiamente ciumento, tinha a sensação de ter-se assegurado a fidelidade física daquela mulher, pondo como guardiões das suas mucosas os três moralistas insuspeitáveis, que, pela sua invulnerabilidade às setas do amor, ele chamava, como os três invulneráveis da lenda: Aquiles, Orlando, Siegfredo.
Não lhe podendo apertar em roda da cintura aquele aparelho de ferro e de marfim que admirara com bárbaro desejo numa vitrina do Museu de Cluny, organizara um mais inextricável ainda, composto de três homens, de três virtuosos inflexíveis: o magistrado, idealista, sonhador, que renegava a aparência da matéria, todo enamorado da realidade do espírito; o teólogo, cuja batina era absoluta garantia de pureza; o doutor em química alemão, que conseguira abafar o clamor da carne.
Confiada a mulher, tacitamente, à tutela dos três moralistas invulneráveis, ele podia viver tranqüilo, como o guerreiro medieval que nas noites de repouso, entre uma batalha e outra, palpava num bolso da cota de malhas a chave com que fechara e havia de tornar a abrir os tesouros de fidelidade da esposa longínqua.
* * *
No entretanto, quem visse na praia ardente, sob o guarda-sol vermelho, naquele recanto quase secreto do golfo, os três moralistas invulneráveis e a bela senhora, deitados à sombra, em silêncio ou reunidos em grupo de conversa, não poderia deixar de suspeitar obscuras intrigas de amor e adultério. A mulher, ágil como um felino, era pródiga em sorrisos eloqüentes como promessas; o teólogo, vestido somente de um par de calções aderentes, que lhe deixavam nu todo o dorso de ginasta e as pernas delgadas e musculosas, dir-se-ia um desportista do grande mundo, dedicado, mais que aos exercícios espirituais, aos exercícios ginásticos; o magistrado demissionário, que tirava os óculos para olhar à distância, parecia procurar alguma coisa entre o mar e o céu, na linha do horizonte; o alemão pálido, de fronte emoldurada em negro, mostrava-se triste como se lamentasse um amor defunto ou uma paixão que não nasceu.
Quem diria que aqueles três jovens e aquela senhora não estavam ligados por invisíveis cadeias de amor?
Mas nem sempre se reuniam em grupo na praia. As mais das vezes acompanhavam um por um a senhora, que não gostava dos colóquios numerosos; mais do que ao coro, ao alternar-se e cruzar-se das objeções e dos ditos, preferia os colóquios a dois, ora com este, ora com aquele, de só a só.
Falar, falar! Ouvir falar! Felka Cirmeni tinha um medo louco do silêncio.
— Eu quisera que alguém, de noite, ficasse no meu quarto durante a minha “toilette” noturna, enquanto eu me dispo, enquanto procuro o sono; e que falasse, falasse até eu adormecer. Tenho medo de ficar só. Tenho medo do silêncio. Fugi de Veneza porque naquela cidade o silêncio me matava . Você devia vir, Hans, à noite fazer-me companhia, conversar, enquanto eu solto os cabelos e me aconchego. Entre nós dois há um compromisso tácito de castidade. Diante de você eu poderia despir-me sem corar, e você poderia ver a minha carne sem desejá-la.
O quarto da senhora e o do doutor eram contíguos; em frente ao de Felka estava a “cela” do teólogo Nardelli; do outro lado, simetricamente ao de Hans, o aposento do magistrado idealista. Até na disposição das peças reconhecia-se, ao redor de Felka, o cinto de castidade.
Nenhum estranho podia chegar ao seu quarto de dormir sem correr o risco de ser visto e ouvido por um dos três.
E nenhum dos três podia transpor o limiar da porta da bela presa sem se expor ao controle dos outros dois.
— Esta noite, às onze — disse Felka, abandonando a mão tão pálida que parecia fosforescente nas mãos de Hans — às onze dexarei a porta semicerrada, e conservarei apagada a luz. Você entrará em silêncio, como no quarto de uma amante.
* * *
Às onze uma luz se apagava e um trinco se abria, com um ranger que parecia um gemido abafado sob a mão de alguém.
Como a que estou contando é uma história de amor, diremos que o céu estava povoado de estrelas palpitantes. Mas o fato teria acontecido mesmo que não houvesse estrelas.
Das árvores do parque (ou da terra?) subia a voz dos grilos (ou das cigarras?). A sua voz era como se um polegar subtil passasse e repassasse infatigavelmente sobre os dentes elásticos de um pente de prata, e de vez em quando se interrompia em breves silêncios, como uma cascatinha de água interceptada.
Os grilos assobiavam lamentosos, como dezenas de apitos numa feira, até o aturdimento.
Parece que limam, infatigavelmente, como os inúmeros operários de uma oficina.
De uma oficina de poesia.
A intervalos, dentre aquele ranger monótono escapava-se o grito de prazer lacerante de um gato no terraço embranquecido pela lua e pelas constelações. Nem os poetas, nem os amantes, mas somente os gatos compreendem a linguagem das estrelas.
Ou era talvez um grito de amor. Um grito de sofrimento, pois. O gato, no momento da “pequena morte”, no amor, sofre e sabe que sofre.
Também o homem sofre. Mas não sabe. Pensa que goza.
É a única superioridade que, em amor, o homem tem sobre o gato.
As cores do mar, na noite de verão, eram tão puras que pareciam filtradas através de um prisma de cristal.
— O mês que prefiro é este — disse Hans Axenfeld, depois de longo silêncio, na alcova sombria, de pé, junto à janela, ao lado de Felka, enquanto um e outra olhavam fixamente para o fundo do horizonte, onde o tear calado da água forma o tecido líquido de metal incandescente.
No vão da janela, os dois vultos estavam direitos e próximos. Felka estava envolta numa túnica clara como uma aparição, e os seus pés estavam nus sobre as sandálias levantinas de junco.
— O mês que prefiro é este — prosseguiu Hans — porque a campanha e o mar são uma grande orquestra de perfumes, em que aqui e acolá, como nas sinfonias, os vários instrumentos, os vários perfumes, acordam uma lembrança. E agrada-me este silêncio dos homens. As luzes estão apagadas; os homens dormem nesta hora: que tolos! Entretanto, se os homens estivessem despertos, já não haveria esta poesia.
Sob a túnica leve de Felka, os pequeninos seios feitos ao torno parece que estremeciam.
— Os seus seios são minúsculos — disse Hans — como os das amazonas. Com a diferença que as amazonas, para poderem abraçar o escudo, só tinham um.
— E eu — disse Felka — não tenho nem esse.
A lua subia, passando as cumieiras da vila, e deixando mais escura a alcova. Mas a brancura que jorrava do céu estrelado desenhava os vultos de Hans e de Felka, contornando-os sob o fundo negro tão nitidamente que, aproximadas duas cadeiras cobertas de almofadas, sentaram-se. Hans não precisou bracejar no vácuo para encontrar uma mãozinha fria, mimosa.
Sob os lábios de Hans, o pulso de Felka palpitava como o coração de uma andorinha prisioneira. Porém, mais em cima, ao longo do braço, na espádua, sob as axilas, os lábios de Hans encontraram um calor macio e morno.
Quando a túnica se abriu e os pequeninos seios apareceram duros, vibrantes, trepidantes de frescura e de desejo, Hans acariciou-os levemente, com uma face, e pensou — o doutor em física — que a eletricidade se escapa pelas pontas.
.........
.......Durante a sacudida epiléptica em que os dois corpos se fundem num só, os olhos fecham-se automaticamente. A natureza deixou entender aos homens que o amor é uma cerimônia misteriosa em que não se devem ver símbolos nem sacerdotes.
O amor de Felka e de Hans consumou-se na mais profunda escuridão. Dois corpos que sentem que são belos e se procuram e se encontram e se enlaçam sem se verem... Isto é sinal de que uma vontade superior, clarividente, os guia. Uma vontade eterna que não conhece nem fés de mulherzinhas, nem leis de homens, nem morais de hipócritas.
Ao amanhecer, quando no quarto entrou o primeiro raio de sol, o corpo de Felka, pálido como um arminho, e o Hans, musculoso como um atleta grego, encontravam-se de novo extenuados e belos, um ao lado do outro, sobre a cama revolvida; as tranças de Felka soltas sobre o peito de Hans; um joelho feminino sobre o seu ventre; e as mãos dele errando por aqui, por ali, sobre a brancura da pele macia e gozada.
Depois de se terem amado sem se conhecerem nas linhas do corpo, olhavam-se mutuamente, admirando-se. E, satisfeita a carne, o prazer proveniente da beleza contemplada do outro era mais forte.
— Amas-me, Felka?
— Não é preciso.
Mas as duas bocas tornavam a se unir, como se se amassem.
O amor é um pseudônimo com que os homens convencionaram chamar o prazer dos sentidos; mas quase todos julgam que seja o nome de uma coisa diversa, abstrata, indefinível.
De uma coisa que, em realidade, não existe.
* * *
Até aquele dia os passeios de Felka com o doutor Hans tinham sido mais freqüentes que com os dois outros moralistas, os outros dois cordões do triplo cinto de castidade.
E até então, entre a bela mulher de olhos de bebedora de absíntio e o jovem alemão de fisionomia de sonhador insatisfeito e inquieto, nunca tinha havido nenhum contacto epidérmico.
Todos os que paravam nos portões do parque para estender as mãos sobre uma flor ou para atirar um olhar à estranha gente um pouco lendária que morava na vila, pensavam que aquele homem e aquela mulher fossem amantes. Eles permaneciam muito tempos juntos. Não podiam deixar de ser amantes.
Mas, a partir do dia em que se tornaram de verdade amantes, ninguém mais acreditou no seu amor, porque nunca mais se mostraram juntos.
Cada duas ou três noites, a horas tardias, a porta de Felka se abria, e um homem de pijama de seda entrava no quarto, leve como um fantasma.
— Hans!
— Felka!
O céu de agosto era sulcado de estrelas, de fragmentos de estrelas projetados doidamente no espaço, como por um deus pirotécnico aprendiz da sua arte.
— Se enquanto uma estrela realiza no firmamento o seu vôo — dizia a mulher, no fundo das sensuais mais inteligentes, suspira sempre uma tola romântica — se, enquanto uma estrela realiza o seu vôo, tu formulares um desejo, o teu desejo será satisfeito.
E o desejo era sempre satisfeito, porque o homem ávido e a mulher vibrante, enlaçados, nus, em um nó de membros retorcidos como as serpentes de Medusa, permaneciam firmes, no amplexo, para prolongar longamente o espasmo. E enquanto isso, enrolados, contorcidos, trançados um com outra, na escuridão, em um nó que tendia a se desmanchar mas cada vez se apertava mais, olhavam, na bela noite adriática, ora através da janela, ora no espelho em frente, as estrelas nômades, faiscando fantasticamente no azul profundo.
Diante de tão sublime celebração de amor, de um amor que desafiava o direito de um marido, a honestidade de uma mulher, a lealdade de um amigo; que se punha em conflito com duas consciências, com a lei, com a moral, Felka e Hans compreenderam finalmente como o amor dos amantes é lícito em todas as formas, quando é verdadeiro, quando é belo, quando dois corpos nus se atraem integrando-se, quando através de uma janela irrompem os perfumes de agosto e aflui o infinito do espaço.
A moral, diante do amor arrebatado, torna-se uma coisa ainda mais miserável e esconsa do que é.
É como se às paredes de um arco de triunfo, todo verde louros e vermelhos de sol, enquanto passam os soldados ébrios de conquista, alguém pregasse um cartaz com os seguintes dizeres:
“É proibido fumar”.
O amor celebrado assim, com loucura, com febre, com sofrimento delirante, é sempre belo, ainda que tivesse de arrastar consigo uma tragédia, ainda que trouxesse nos filhos a mistura com um sangue diverso.
O amor é obsceno quando feito de cartas à posta-restante, de cumplicidade de porteiros, de cópulas apressadas em hotéis por hora, de movimentos embaraçados em veículos de praça com cortinas abaixadas, de posses incômodas com complicações de vestidos que o medo de serem surpreendidos não permite tirar.
Em suma, o amor é sórdido e imoral somente quando atormentado pelas dificuldades, pelos subterfúgios, pelas hipocrisias que a moral hipócrita impõe.
* * *
— A tristeza e a alegria — dizia a senhora Felka uma tarde, à sombra de um eucalipto sob o qual costumava tomar o café — a tristeza e a alegria, meu bom teólogo Nardelli, não nos vêm do mundo exterior, mas existem em nós.
Hans e a pequena dormiam a sesta. O juiz, rodeado de livros impenetráveis aos profanos, entregava-se ao seu onanismo filosófico, num recanto do parque, solitário, fresco e poético, onde vingam os cogumelos e as dores reumáticas. As janelas estavam fechadas como pálpebras sobre olhos obumbrados pela luz. A vila era como um forno escaldante.
O teólogo Nardelli ofereceu o café à senhora.
— Não é o mundo exterior — continuou Felka — que age sobre a nossa sensibilidade, gerando a dor ou o prazer, mas a dor ou a alegria que há em nós é que nos fazem ver diversamente colorido o mundo exterior. Hoje, meu amigo, estou triste. Sinto a necessidade de me embriagar, mas quero a sua cumplicidade autorizada.
— Embriagar-se?
— Desmemoriar-me. “Me griser.”
A um ramo do eucalipto estava suspenso um gongo de bronze esverdeado. Felka deu-lhe um golpe com o martelo de couro.
— Leve para casa as xícaras — disse ao criado maltês, indicando a bandeja — e sirva no meu quarto champanha.
— “Frappé”?
— Se houver gelo.
— Biscoitos?
— Se houver.
O teólogo Nardelli acompanhou a senhora, por entre os canteiros de hortênsias.
— Mas no meu quarto não o quero vestido assim. Pareceria u’a missa negra. Venha em traje de banho, em pijama de praia, como queira. Mas assim, não. Espero-o dentro de um quarto de hora.
A senhora esvaziou — chegando ao quarto — o toucador de todos os aparelhos para as unhas e os cabelos. O criado pôs ali um vaso de metal com uma garrafa de pescoço e ombros envoltos em linho branco, como o manto de um rei, e uma bandeja em que duas taças se chocavam tinindo.
Na escrivaninha afastou alguns livros para dar lugar a um prato daqueles biscoitos compridos, tubulares, em anéis, que em 48, com aguda malícia, se chamavam “plaisirs des dames.”
Felka chegou-se à janela. No jardim subjacente um presunçoso galo de amplas curvas caminhava constrangidamente aos pulinhos, como um enfermo de ataxia motora que vá pedir uma reparação pelas armas.
O mar estava como nas aquarelas das senhoritas: uma linha, e sobre essa linha uma vírgula branca virada (uma vela).
Pouco depois, entrou no quarto um cheiro de cedro. Cheiro de claustro. O teólogo Nardelli aspergia o corpo todas as manhãs com água inglesa que lhe recordava a sua adolescência. O jardim de seu colégio era todo cheiroso a cedro.
E o jovem sacerdote devia estar muito pouco vestido para que logo ao entrar no quarto de Felka se escapasse do seu corpo aquele bom cheiro fresco de erva.
— Afia as armas? — perguntou à senhora que lustrava as unhas com o polidor de pele.
— Sim — respondeu Felka —. E agora vou pintar também, na sua presença, a boca. É vaidade, não? Mas são os senhores, moralistas católicos, que, lembrando-nos com demasiada insistência que um dia próximo as nossas mãos hão de ser apenas ossos e o nosso rosto será apenas caveira, são os senhores que nos estimulam, enquanto não somos ainda esqueletos, a embelezar-nos as carnes.
O teólogo Nardelli sentou-se mergulhando os punhos nos bolsos do pijama. Sob a seda distendida o tórax se modelou.
Quando tinham bebido a terceira taça, Felka disse:
— Que coisa efêmera é a dor se bastam três taças de champanha para suprimi-la!
— A senhora disse uma tolice — sentenciou o jovem sacerdote —. Seria como afirmar que a vida é coisa efêmera porque basta meio grama de estricnina para aniquilá-la.
— Tem razão — replicou Felka —. É uma coisa efêmera a vida.
Nardelli bebeu uma quarta, uma quinta taça de champanha.
— E efêmera é também toda a insensata ideologia sobre a castidade, sobre a fidelidade, sobre a espiritualidade do amor — zombou Felka — se à quinta taça de champanha os seus crentes a renegam.
A boca de Nardelli e a boca de Felka eram como as duas partes de um fruto partido que se tivessem colado de novo.
Dos olhos de ágata de Felka ia desaparecendo a vontade.
— O teu corpo nu — disse-lhe Nardelli com admiração — recorda-me o corpo de uma bela adolescente indiana que conheci numa cidadezinha cor de rosa nos confins da “jungle”. No seu ventre (um ventrezinho feito, como o teu, não para a fecundação, mas para os amores estéreis), no seu ventre havia, tatuada em espiral, toda a história de acidentada caça ao tigre. Depois de vários episódios dramáticos, o tigre perseguido conseguia fugir, sumir-se num esconderijo secreto do ventre depilado, de onde não ficava de fora mais que a cauda. Nos olhos de ágata de Felka não havia mais vontade.
.......
.......Algumas horas depois tornavam a se vestir.
A única coisa triste no amor é o tornar a se vestir.
* * *
— Tornei a me casar — respondia Felka servindo-se de açúcar — porque a situação da viúva nos nossos países é ridícula. A viúva, no meio das outras mulheres, é diante da opinião pública como aquela casca de ovo que um jorro de água levanta e que serve de alvo preferido nas feiras. Há, no fundo, outros alvos — as outras mulheres — mas o ovo na ponta do jorro de água é o que todos se empenham por atingir.
Os três moralistas, recostados nas cômodas poltronas de junco, acendiam cigarros e provocavam as revelações da senhora Felka. A luz, naquela sala de jantar, chovia de uma lâmpada amarela que fazia mais amarelas as grandes borlas de ouro do forro abaulado.
— Eu não amo o meu marido. O meu marido não me ama. Daí que, conversando há alguns dias com um amigo, no seu consultório, dissesse: “Quando eu morrer, não me enterrem junto com a minha mulher; sempre gostei de quartos separados”.
“— Não amas a tua mulher? — perguntou-lhe alguém.
“— Não a amo — respondeu meu marido — nem nunca a amei. Casei com ela por meros motivos pneumáticos. Tenho uma amante assaz opulenta de formas, que não é a mulher ideal para a satisfação dos meus modestos apetites. Eu precisaria de u’a mulher inflável e desinflável como os travesseiros de borracha para viagem. Minha mulher, com a sua harmoniosa magreza, é a imagem desinflada da minha formosa amante.&lrquo;
Os três moralistas tomaram uma expressão de branda e hilar pena.
O criado trouxe uma carta.
A senhora abriu-a.
E leu. Os outros calaram. Uma falena, indecisa entre a sedução da luz e a tentação do perfume, aleteava desordenadamente entre a lâmpada e os cálices de cristal avermelhados por um velho xarope.
O marido de Felka escrevia-lhe no momento de partir para a Argélia, onde ia realizar importante operação. E concluía: “Espero que os teus receios se tenham dissipado”. “Receios? Que receios? — pensou a senhora — A que receios se referirá?”
Depois se lembrou. E riu, por dentro, com os lábios fechados. Antes de se despedir do marido, a última vez, formulara-lhe a suspeita de estar grávida. Mas não havia nada. É uma precaução útil, para u’a mulher que o marido deixa sozinha ou com outros homens, dizer-lhe, antes da partida, no ouvido: “Sabes, eu tenho receio da estar...”
Felka rasgou em quatro, oito, dezesseis, trinta e dois pedaços a carta, e atirando os fragmentos na bandeja dos licores, anunciou:
— O meu marido parte para a Argélia. Voltará dentro de dez dias.
E levantou-se.
— Estou cansada, meus amigos. Se permitem, retiro-me para o meu quarto. Podem permanecer aqui. Deixo-lhes os cigarros, os licores, e um inesgotável assunto de conversa: “Uma mulher sem amor”.
Apertou as mãos dos três amigos e saiu.
— Por certo que eu — comentou o juiz, deitando um olhar para a porta que se fechara — não me encarregarei de consolá-la.
— Tampouco eu — acrescentou Hans, com horror.
— Eu, então... — sorriu o teólogo Nardelli, fazendo correr um olhar significativo sobre as suas vestes talares.
— O estado de viuvez lhe pesava — comentou o juiz abraçando um joelho com as duas mãos —. O amor pelo marido defunto não era tão nobre que lhe acalmasse os baixos desejos da carne.
Hans calava-se.
O teólogo Nardelli distraía-se contemplando um copo cilíndrico cheio de água, no qual se torciam lianas ornamentais.
— Parece aquela fauna intestinal — disse o teólogo Nardelli — que se vê em certos frascos, nas farmácias.
Hans e Nardelli não queriam acompanhar o juiz em terreno tão insidioso.
— Amor, amor... — disse Hans —. É um tema sobre que nunca se está de acordo. O amor é um conceito que tem diferente extensão para cada indvíduo... Adeus, eu vou dormir.
Saiu.
Chegando ao primeiro andar, bateu docemente, com as polpas dos dedos, na porta de Felka.
— Esta noite não — disse Felka —. Estou cansada. Hoje só te dou um beijinho.
“E agora, vai-te.”
Hans recebeu o beijo e foi-se, puxando a porta, que pouco depois tornava a abrir-se.
Tornava a abrir-se e o sacerdote setecentesco das fivelas de prata entrava silenciosa e leve, e aproximava-se de Felka com um gesto hierático das mãos pálidas, e olhava para ela comovido. Nunca olhara com tal transporte para um ostensório.
— Mas isto não é abraço, — estremeceu contente a mulher — é agressão!
— Amo-te, Felka.
— Também eu te amo.
— Serei o teu único amante?
— Sim.
— Juras?
— Sim.
— Por quê?
— Pelo túmulo de...
— Não jures pelos túmulos, Felka! É o juramento menos seguro de todos, porque a quem está morto não lhe pode acontecer nada pior...
Felka sentou-se nos seus joelhos e rodeou-lhe o pescoço com os seus braços nus, com o que ela chamava a “minha coroa sem espinhos.”
— Como és criança — murmurou Felka — no amor! És ainda daqueles que entre um e outro beijo exigem um juramento. Gosto de ti porque no ímpeto da posse gastas toda a energia acumulada em anos e anos de abstinência. E como no fundo do meu corpo de mulher sensual e insaciável há uma romântica incuravelmente iludida, eu te amo porque me iludo imaginando que durante toda a adolescência e a juventude tu te conservaste puro, esperando por mim.
A cupidez do homem não se podia mais conter. As suas mãos tentavam abrir passagem por entre a leve roupa branca.
— Não, já não — reteve-o Felka —. Eu gosto dos “hors d’oeuvre” do amor.
— Eu também — mentiu o rapaz.
— Não. Tu queres logo o prato principal.
— Mas tu depois repetes quatro e cinco vezes.
Os laços e nós se desataram.
O homem apertou entre as mãos um punhado de linhos ainda quentes e cheirando a carne, e enterrou neles a cara. Depois os jogou para cima de uma cadeira.
Pés descalços sobre o soalho frio.
O afundar-se de um leito sob o duplo peso.
Apertado entre os braços de Felka, que se cruzavam na sua nuca robusta, ele ouvia o seu próprio coração pulsar sobre o seio direito dela, quente e elástico.
Em poucos instantes desfilaram-lhe diante da memória os anos da sua vida espiritual, as longas meditações na cela branqueada a cal, no jardim do colégio, no pórtico solitário. Oh! a vida espiritual, a fé, o pensamento em Deus nunca tinham conseguido dar-lhe o verdadeiro esquecimento da matéria.
Agora o amplexo daquela mulher dava-lhe o completo esquecimento de tudo. O gozo que provinha daquela epiderme feminina guindava-o ao idealismo absoluto.
No seu colégio impregnado de fé, na cela branqueada a cal, muitas vezes pensara na morte sem ter dela uma idéia clara.
Agora, entre aqueles braços femininos, mornos de luxúria, ele tinha a intuição exata da morte. Sentia-se arrebatar, mergulhar na inconsciência. O sono, a loucura, não dão idéia da morte. O amor, sim. A sacudida de todos os nervos, a aceleração do ritmo do coração, a abolição da consciência, não são mais que rápida agonia. No momento em que a gente se projeta fora de si mesmo, morre-se um pouco; faz-se uma excursão momentânea à morte, que parece mais bela porque se morre a dois e volta-se à vida.
— Eu fiz-te conhecer o amor.
— Não, Felka. Tu me fizeste conhecer a morte.
* * *
Nardelli, o jovem sacerdote, dava a Felka, além do ardor de sua carne moça, também o fogo da sua espiritualidade.
Hans dava-lhe somente a galhardia do seu corpo de atleta grego.
E todas as noites, ora um, ora outro, gozavam no leito de Felka o prazer de um instante de morte. A mulher de sensualidade inextinguível dava a um e outro a ilusão da fidelidade.
E a um e outro dava a ilusão de amá-los, porque sabia que no homem o paroxismo da nevrose, a sacudida epilética do prazer são mais intensamente trágicos quando sobre a verdade dos sentidos adeja a mentira convencional do amor. Os homens ainda não o compreenderam; mas a mulher sabe, por intuição, que no prazer não entra o amor.
Ponham em contacto os dois pólos dessas máquinas imprecisas que são o macho e a fêmea. Se se agradarem, brotará a faísca do gozo.
Ainda que, no fundo, as duas máquinas se detestem.
A mulher que me deu os espasmos eróticos mais loucos foi u’a mulher que possuí, por cinco anos seguidos, odiando-a.
* * *
— Devia ensinar-me um pouco de filosofia, o senhor que anda sempre com o Kant de arrasto — disse Felka u’a manhã, vestida de malha aderente, trepada na proa de um barco e virando as costas o juiz que remava.
Sobre o espelho encrespado o barco deslizava, leve e rápido como uma “canga”, a embarcaçãozinha usada pelos egípcios no Nilo. Por ter a proa fina, cortante, levemente encurvada, o doutor Cirmeni batizara-o de “Bisturi”.
Os pezinhos de Felka roçavam na água e com os dedinhos recurvados iam recolhendo um pouco de espuma. O barco corria ligeiro, impelido pelos braços sólidos do juiz, e o corpo da mulher, na proa, era como uma pequena vitória.
— Precisa-se muito inteligência — perguntou Felka — para ser uma boa filósofa?
— Mas se precisa — respondeu o moralista curvando-se sobre os remos — para ser uma boa amante.
Felka de um pisco fez passar uma perna por cima do esporão da proa, girou agilmente sobre si mesma, e sentou-se em frente dele. Este parou, baixando sobre as próprias coxas a empunhadura dos remos, e erguendo fora da água as pás gotejantes. O barco ficou abandonado sobre as ondas fracas.
O azul era profundo.
Uma cortiça flutuante.
Na praia distante um colar fino e arrumado de vilas, como corais brancos, róseos e vermelhos.
Algumas nuvenzinhas alvas, em flocos, em fios, em cachos como uma peruca setecentesca.
Felka tirou o capacete de impermeável, e a cabeleira loira que estava em baixo, oprimida, se esparramou numa desordem rebelde, como as pétalas amarelas e crespas de um crisântemo dobrado.
— Como sabe o senhor se eu sou uma amante boa ou má?
— Não sei nada. Quisera saber. Ofende-se?
— Não. Mas um moralista como o senhor... — respondeu ela, zombeteira, sentindo-se mais forte naquela tênue malha reveladora.
O juiz suspendeu os remos e, sem tirá-los das forquetas, pousou-os com as pás sobre o barco.
— Falemos um pouco de sua pessoa. — disse, cruzando as pernas e levando dois dedos da mão direita a um joelho nu, como para beliscar, com o gesto habitual, o friso da calça —. Á senhora enche-me de curiosidade, Felka. Quisera saber alguma coisa de íntimo...
— E lhe parece pouco?
— É muito. Mas eu sou um colecionador de curiosidades sentimentais, de aberrações psicológicas.
— Em mim — garantiu Felka — não encontrará nem aberrações, nem curiosidades. Sou mulher. Muito mulher. Um meu amante farmacêutico definiu-me como um extrato etéreo de mulher.
“Tenho trinta e cinco anos. A idade em que os desejos se tornam espasmos, em que o espasmo se torna delírio, em que a entrega tem toda a beleza de uma bela impudicícia.
“O senhor se horroriza, meu amigo. É daqueles para quem a viúva devia ser queimada com o cadáver do marido.”
— ...
— À viúva os senhores permitem que constitua uma casa, que seja elegante, que freqüente as estações mundanas de veraneio; mas do ponto de vista sexual proíbem-lhe qualquer satisfação. Se os seus nervos vibram, se os seus sentidos gritam, deve, para satisfazê-los, recorrer a mil subterfúgios ignóbeis.
— ...
— Impõem-lhe fidelidade à memória daquele marido de quem nada mais resta que um pouco de matéria calcária em forma de caveira. Em honra daqueles fragmentos ds cálcio, fósforo e carbono, a viúva deveria, segundo os senhores, abafar a vida que grita nas suas carnes. O ato sexual, para os senhores, é inseparável do sentimento: morto o marido, o estímulo sexual deveria desaparecer como se a mulher fosse um canhão de que o marido, partindo para o outro mundo, levasse consigo o obturador. Perdoe a comparação, mas o meu primeiro marido era um oficial da artilharia polonesa.
“Os sentidos dever-se-iam apagar como se apaga a chama do gás, fazendo girar uma chave.
“Mas não sabem, desgraçados, que alguma coisa de mais forte que o sentimento se ergue a cada passo em nosso sonho adocicado de ternura espiritual, para chamar-nos à brutalidade das funções orgânicas? Não sabem que podemos, pela alma, estar ligadas à memória do marido, e, morto ele, podemos não amar mais ninguém, mas que apesar de tudo a febre dos sentidos fatalmente nos impele a procurar um homem soberbamente vivo que nos sacie, onde haja não o eco da voz de um morto, mas o grito da vida?
— ...
— A consciência? Consciência, nada! A carne, digo eu. Também nós, mulheres, temos desejos prepotentes como os têm os senhores, que, entretanto, podem atendê-los com a maior simplicidade, fora de qualquer fato sentimental. Os senhores satisfazem os sentidos como quem vai ao restaurante, ao bar, ao banhista, ao barbeiro. Pois bem, nós mulheres quiséramos que existisse uma prostituição masculina, para podermos saciar os nossos apetites sem tropeçar com complicações sentimentais.
— ...
— Não, não é feio, meu amigo. Arranjar um amante, com todas as complicações de epistolário, de fidelidade, de devotamento, de laço eterno, é u’a maçada. Um homem que tenha sido hóspede do nosso leito, considera-se no direito de só ele voltar ali. E julgando ter-nos dado quem sabe o quê, pretenderia ainda que lhe agradecêssemos comovidas, e que lhe déssemos em troca o nosso coração.
“Nós mulheres arranjamos amante não por necessidade de coração, mas para as necessidades de outros órgãos menos literários e de funções menos indefiníveis.
— ...
— Os senhores não compreendem a tortura orgânica das nossas noites solitárias. Não compreendem porque nenhuma mulher ousou confessá-lo nunca. E nenhuma mulher ousa confessá-lo, porque a moral dos homens de há dois mil anos proibe-lhe dizer uma honesta verdade. Mas entre nós, mulheres, o dizemos. Ou talvez nem o digamos, porque é uma verdade evidente, comum a todas as mulheres.
“Não lhe terá acontecido nunca, meu amigo, ouvir u’a mulher dizer que almeja uma prostituição masculina. Mas eu lhe juro que todas as mulheres, no fundo, a desejam.
— ...
— Sim, todas desejamos poder, finalmente, sobrepor ao nosso corpo o corpo de um macho, sem ter que lhe dizer: amo-te.
— ...
— Não ter que dizer: amo-te. A beleza da aventura de hotel, o encanto da cópula com o desconhecido de ontem, com o esquecido de amanhã, é este: não ter que dizer como a um amante: amo-te, como a um marido: só te amo a ti.
— ...
— E nós mulheres estamos tão cansadas de ter que dizer a um marido ou a um amante: “nenhum outro homem me agrada a não seres tu”, que o enganamos até para darmos a nós mesmas a prova da inexistência daquele amor que se nos impõe.
“O prazer de trair consiste todo nisso.
“Os senhores à carne não pedem o que a carne pode dar, mas exigem alguma coisa mais. Não lhes basta que nós nos entreguemos para saciar a nossa carne e a sua. Querem ainda o discurso de circunstância, o róseo cartão de dedicatória...
“Não se contentam nunca com o amor que lhes oferecemos. Exigem também selos de garantia, análises químicas, fórmulas farmacêuticas que especifiquem todos os ingrediente do nosso amor, e as várias doses. Não há homem, por mais inteligência que possua, que não nos dirija as habituais, estúpidas perguntas:
“— No ano passado amavas-me como hoje?
“— Amas-me hoje mais do que ontem?
“— O teu amor não se está entibiando?
“— Amar-me-ás ainda por muito tempo?
“Mas que vamos nós saber do nosso amor? Não registramos todos os dias os vários graus de temperatura do nosso coraçãozinho, e não podemos prever os eclipses do nosso desejo, nem os cometas de outros homens que atravessarão a órbita imensa da nossa imensa sensualidade.
“Os senhores nos ensinaram a dizer tolices para responder às suas tolas perguntas. As nossas estúpidas cartas de amor são copiadas das suas.
“Ensinaram-nos a mentir, e depois dizem que a mulher mente por instinto. O meu instinto levá-la-ia a entregar-se lealmente a este e àquele, a três, a quatro, a dez homens em seguida, até que se esgotassem aquelas provisões de energia que um só não basta para esgotar.
“U’a mulher que parta para a sua longa viagem no oceano da sensualidade, provida do amor de um só homem, é como um navegante que saia para uma grande travessia e leve como único alimento favas em salmoura.
“A mulher entregar-se-ia com cega prodigalidade. Mas a selvagem pretensão dos senhores, de domínio absoluto, obrigou-a, não podendo transformar os instintos, a mascará-los. A mentir. Os senhores contrariam-lhe o instinto: a mulher, tornando-se mentirosa, não faz mais que se adaptar ao ambiente, como aqueles animais que, vivendo em baixo da terra, criaram garras fortes para escavar galerias.”
— Em resumo, a senhora — replicou o juiz, palpando com o polegar a palma da outra mão, calejada pelo remo — em resumo, a senhora faz a apologia do prazer sem amor.
— Não, deixo-o de parte — respondeu ela, rindo — como deixo da parte a questão das garantias, a questão homérica e a questão irlandesa. Não me interessa. Existe o prazer unido ao amor: admito. Mas sustento que o prazer separado do amor tem a sua razão de existir. Ama-se uma vez ou duas na vida. Há quem — como eu — nunca amou. Entretanto, a necessidade dos sentidos volta periodicamente, como num organismo sadio a fome volta cada cinco ou seis horas.
— Não acredita no amor feito exclusivamente de alma?
— Não. E procurei-o avidamente. O prazer dos sentidos a cujo encontro sempre corri, não tendia a outro fim, no fundo, senão a destruir a minha sensualidade, para poder um dia experimentar o amor da alma. Fiz como os “dapaks” de Bornéu, que, acreditando na imortalidade da alma, devoram o pai para conservar em si o princípio espiritual. Eu devorei os meus sentidos, para procurar a alma.
— Portanto nega a fidelidade, que é um fato espiritual.
— Pode ser que exista alguma mulher fiel — admitiu ela com ironia —. Mas a fidelidade, em qualquer caso, não é mais que uma série de adultérios abortados, de traições malogradas.
Felka, inclinando-se de lado sobre um flanco do barco, recolheu no oco da mão um pouco de água, com que borrifou a testa.
— E a senhora deseja tão ardentemente assim?
— Sim, — confessou ela — desejo, desejo como desejamos todas nós, mulheres moças e sadias.
O barco, abandonado a si mesmo, afastara-se muito da praia.
— Esta discussão — observou a senhora, apontando para a costa — levou-nos muito longe.
— Eu diria que nos aproximou — corrigiu com sorriso ambíguo o jovem juiz.
— Não compreendo.
— Aproximou-nos um do outro — explicou ele —. Alguém disse que falar de amor eqüivale a fazê-lo. Eu creio que falar de desejo equivalha a desejar.
Felka olhou para ele com fria intensidade.
— Aliás, — continuou ele — como poderia não ser assim? A senhora me agrada, Felka, pela frescura do seu corpo e pela sinceridade audaz das suas palavras. E o pensamento de podê-la embalar aqui, no meio do mar, como uma deidade marinha...
— Literatura, literatura...
— O pensamento de possuí-la, aqui, me inflama. Felka mergulhou os dedos na água e borrifou-lhe o rosto.
— Acalme-se, meu amigo. O senhor está superexcitado. Não me dê o remorso de ter atentado contra a sua virgindade de moralista incorruptível.
“E, depois, diga-me, um homem como o senhor, feito para os amores prolíferos, à sombra protetora de cortinanados familiares, com uma esposa obtida mediante todas as formalidade fiscais de Deus ou de alguns dos seus agentes, um homem como o senhor, teria a imprudência de possuir a mulher de outrem, num barco, em pleno dia?”
Felka riu-se. Quando uma mulher ri está desarmada. Às vezes, porém, o riso de uma mulher é a mais inexpugnável das defesas.
Contra a ironia e o paradoxo despedaçam-se as mais robustas argumentações.
Mas porque havia Felka de se defender hoje? Porque aquele homem não lhe agradava... Mas, nove vezes em dez a mulher se entrega ao homem que não lhe agrada! O gozo é produzido por um choque mecânico que se opera de olhos fechados! A mulher goza mais ou menos com a mesma intensidade com todos os homens. A escolha é devida mais ao acaso do que à reflexão. Não há, pois, de que se gabar por ter sido escolhido por uma mulher, porque a mulher nunca escolhe. Adapta-se. Resigna-se.
Com hábil movimento das pernas nuas e de busto embainhado pela malha de seda, ela fez realçar todo o juvenil vigor das suas formas.
As axilas, sabiamente aloiradas, prometiam segredos triangulares de um loiro impudico. A respiração agitada que dilatava o tórax e levantava o peito, sugeria o eletrizante contacto de u’a musculatura palpitante no ato da posse.
Mas aquele homem, de olhos míopes e de carnes brancas como as de u’a monja, não lhe agradava.
Ao expor as suas idéias sobre o prazer e os modos de obtê-lo, Felka se excitara pensando num homem distante, talvez Hans, talvez o jovem Nardelli, talvez um homem dos seus sonhos, talvez um homem entrevisto, quem sabe em que épocas remotas, quem sabe em que noite de insônia. Mas o homem que estava na sua frente não lhe agradava.
— Por que não queres ser minha? — insistiu o juiz, com a boca espumante de desejo —. Se os teus sentidos são ávidos, por que não queres que eu os acalme? Se não te entregas a mim — gritou — é sinal que tens um amante. Teu marido está longe. O teu desejo renova-se constantemente. Se não te entregas a mim é porque te entregas a outro. Quem é? Nardelli? Hans?
— Não! — gemeu ela.
E para não dar a entender que havia outros dois homens na sua vida, deixou que o juiz a apertasse nos braços, e lhe desamarrasse os cordões sobre os ombros.
Com mãos trêmulas ele fez virar-se e cair sobre si mesmo o maiô de seda, ao longo do tórax, ao longo das coxas. Felka levantou, conformada, consentindo, uma perna, e depois a outra; e o maiô, desprendendo-se, caiu.
E quando, deitada no fundo do barco (um pouco de água fria tinha-se acumulado sob os seus ombros e em baixo da nuca), viu, sobre o seu rosto, um rosto congestionado (tinha tirado os óculos e mergulhado os olhos), pensou que o amplexo daquele homem que não lhe agradava tinha um único valor: o de realizar-se no mar, sob o sol.
Os que, da praia, olham de binóculo para o mar, vêem às vezes um homem e u’a mulher, que se afastam remando desaparecerem por alguns minutos no fundo da embarcação.
Pois bem, o mais das vezes, a culpa (ou o mérito?) é toda do sol.
* * *
Como são bons os lábios das mulheres, quando salgados pelo vento marinho!
* * *
Aquela noite e todas as noites e no dia seguinte e em todos os dias consecutivos, os três moralistas evitaram tocar o tema esdrúxulo da mulher e do amor. Os três moralistas, com efeito, davam-se a entender um aos outros que eram incapazes de desejos. As ligas de moralidade pública não são mais que o conjunto mais ou menos numeroso de homens porcos como todos os butros, que fazem crer uns aos outros que o são um pouco menos. Os moralistas, os rígidos conservadores dos bons costumes, são aqueles que desejariam suprimir a prostituição, mas ao mesmo tempo e às escondidas são os seus mais animadores sustentáculos. Os moralistas fazem com as devidas precauções aquilo que os outros homens fazem sem cautelas. Nos prostíbulos, quando de repente as portas das salas de espera e de escolha se fecham discretamente, isso quer dizer que passa um freguês de consideração, que em homenagem à moral não quer ser visto.
U’a manhã em que, não se sabe como, a conversa recaíra sobre a frieza e a paixão, cada um dos três pensou com íntima satisfação:
“Eu, só eu matei a sede àquela mulher!”
Se o marido estivesse presente, teria pensado:
“Eu, só eu saciei a sua fome!”
E se a mulher pudesse dizer toda a verdade, teria gritado:
— Nenhum de vocês me sacia! Nem todos os quatro, juntos, me bastam. Um homem, dois homens, três homens, quatro homens não bastam para nenhu’a mulher. A soma de prazer que u’a mulher está em condições de dar, vale mil.
“A três amantes dá trinta.
“Ao marido dá dez. A perda real orça por novecentos e sessenta!”
* * *
Uma noite Hans disse-lhe:
— És uma coisa preciosa! E ela respondeu:
— Para ti. A mulher, nas mãos do marido, é ouro que se transforma em metal ordinário. Nas mãos de um amante é metal ordinário que se transforma em ouro.
Aquela noite Felka esteve mais excitada que de costume, durante o delicioso martírio sexual. O prazer da traição realizada na véspera, poucas horas antes do regresso do marido, dava-lhe uma espécie de orgulho.
O doutor Cirmeni chegaria da Argélia às primeiras horas da manhã.
— E agora vai-te para o teu quarto — disse Felka a Hans, quando ele, de volta, pela quinta vez, da “pequena morte”, deixou-se cair atravessado na cama, com o rosto mergulhado numa das suas mãos. Com a outra mão Felka alisava-lhe lentamente os cabelos, roçando-os apenas, como a uma criança cansada.
Por que razão as mulheres, depois que o amante se saciou nelas, tornam-se maternais?
— Vai dormir na tua caminha, pobre pequeno... E não faças barulho.
Hans calçou docilmente as sandálias e saiu, silencioso como um espírito.
Davam as duas horas.
Um galo cantou, ao longe.
Felka acendeu um cigarro, olhou-se ao espelho, passou “rouge” nos lábios.
Abriu a porta.
No corredor, no limiar da “cela” esgueirava-se uma lâmina de luz.
— Cala! — disse Felka, em voz baixa, entrando. Nos lençóis do sacerdote havia um bom cheiro claustral de cedro.
* * *
O macho legítimo, chegando ao meio-dia, pelo diretíssimo, ofereceu aos amigos carteiras de ouro polido, com cigarros da Argélia. Os amigos, que em torno da mulher tinham tão dedicadamente formado o tríplice cinto de castidade, mereciam o presente.
— E não te enamoraste de Hans? — perguntou o doutor a Felka —. É um belo rapaz.
— É um belo rapaz — concordou a senhora.
— Nem de Nardelli? — insistiu gracejando, sem ter ares de inquisidor, o doutor Cirmeni.
— Tampouco. E é um belo rapaz, ele também.
— E nem do magistrado demitido?
— Muito menos. O magistrado não me agrada.
— Então, os outros dois te agradam?
— Talvez.
“Talvez que os ame — pensou o marido —. Talvez que os deseje. Provavelmente faria uma loucura por algum deles. Mas, que importa isto, se não se entrega, se não se entregou?
“O contacto das almas não me preocupa. O que me preocupa é o contacto da mucosa.
“E este — garantiu a si mesmo — não se deu. Eram três a guardá-la.
“Não, não se deu nos vinte dias que estive ausente, porque entregando-se a mim estava fremente como depois de vinte dias de inútil desejo.”
* * *
Um ano depois o doutor Cirmeni e a senhora Felka viajavam rumo ao norte, para irem gozar uma primavera parisiense. E uma tarde de chuva, visitando o Museu de Cluny, o doutor quis ver os cintos de castidade aos quais, em todas as suas viagens a Paris, o seu mórbido ciúme o reconduzia.
O guarda de serviço naquela sala aproximou-se dos dois estrangeiros:
— Origem ignorada — explicou indicando o cinto —. Instrumento bárbaro, usado na Idade Média pelos cavaleiros ciumentos, que partiam para longas guerras e queriam ter uma garantia segura da fidelidade das suas esposas.
— E levavam a chave? — perguntou Felka.
— Sim, senhora — respondeu o guarda.
— E só havia uma chave? — perguntou Felka.
— Ora! — disse com um sorriso cheio de subentendidos o malicioso guarda —. Acho que cada senhora teria, para seu uso, uma chave falsa...
Felka pensou em Hans, em Nardelli, no juiz, e passou distraidamente a outra vitrina, enquanto o marido continuava a contemplar, hipnotizado, o bárbaro aparelho.
UM CÃO INFELIZ
Às mulheres que na juventude foram pródigas de si mesmas e passaram através de duas gerações semeando o prazer visual, táctil e cinestético da sua graça, resta, no limiar da velhice, um recurso. Um recurso que é como a aposentadoria e as honras para os funcionários administrativos; como a cadeira no senado para os generais que chegaram ao limite da idade; isto é, um meio, para quem foi mais ou menos brilhante na juventude, de fazer, no último quartel da vida, figura ainda decente.
O recurso para as mulheres feias e para as que não são mais belas é a moral, essa peronospora que onde quer que pouse faz murchar as flores mais louçãs. Pela moral propinam-se conferências, escrevem-se livros, consumam-se delitos, fazem-se os jovens contrair vícios secretos, inventam-se mentiras, multiplicam-se preconceitos, desnaturam-se instintos, criam-se honrarias fundam-se círculos com distintivos para os sócios, de usar na lapela, como se para distingir as conservadoras da moral não bastassem os distintivos e traços que elas trazem fatalmente impressos na cara. Mas se as causas da moralidade são a feiúra do rosto, a miséria física, a incapacidade sentimental, é preciso acrescentar que a moralidade, por sua vez, torna-se o ponto de partida de outra praga, a que daremos um nome de nosso fabrico: a “agatomania”, ou seja, a mania da bondade.
Quando se desce pela encosta do mal, nunca se sabe até onde se chegará; mas, quando se rola pela encosta do bem, chega-se às torpezas mais sinistras.
A agatomania impele o que dela sofre a desprezar, odiar, prejudicar, difamar a quem não pratica o bem absoluto, a quem não vive na renúncia mais inútil, na mais fúnebre castidade.
O agatômano, isto é, o maníaco da bondade, exaspera o seu próximo para lhe fazer bem, para servi-lo com assistência e conselho; congestiona-o de cortesias, sufoca-o com a generosidade, trucida-o com o altruísmo, pulveriza-o com o sacrifício.
Quanto mal fazem os que fazem sistematicamente o bem!
* * *
Dois agatômanos, marido e mulher (um pegara a agatomania da outra), voltavam para casa, numa noite de inverno, a pé.
A senhora nunca espalhara a alegria. Mas para os efeitos da moral e da sua conservação, não há diferença entre as mulheres que foram belas e não são mais e as que nunca foram; entre as que não podem mais amar e as que nunca amaram. A senhora fora educada no lar, por genitores austeríssimos, que consideravam ato de faceirice, para u’a moça, limpar os dentes mais de uma vez por semana. Aos vinte anos caiu aquela forma disfarçada de prostituição que é o casamento arranjado. Impuseram-lhe um marido que durante cinco ou seis anos seguidos a fez dar à luz um filho por ano. Cinco ou seis filhos, todos semelhantes uns aos outros, como um mostruário de copos do mesmo tipo e de diferentes tamanhos. Tinham sido tirados, todos, sobre o mesmo estereotipo. Nem traços de um amante! Nunca encontrara um farrapo de homem que a honrasse com cinco minutos de corte, ainda que fosse para rir-se dela. Depois de se ter casado com um homem que não amava, não amou a mais nenhum. Era a autêntica mulher assexual. Ou antes, não era mulher. Aquela que nunca experimentou o amor, o desejo e o desejo de infidelidade, não é mulher.
E vemos exatamente estas “não mulheres”, para as quais o amor, o sentimento, a sensualidade são linguagens indecifráveis, ditarem severamente leis em matéria de amor, arvorarem-se em juízes da literatura em que vibram os nervos, em que freme aquela sensualidade que é um dos dois motores (o outro motor é a riqueza) da engrenagem social.
Se a natureza lhes tivesse dado carnes mais provocantes e lábios mais tentadores, nunca teriam sentido o prurido de se fazerem sacerdotisas dos bons costumes.
Os cônjuges voltavam, pois, para casa numa transparente noite de inverno. O marido representava dignamente a classe daqueles homens chatos que personificam o bom-senso.
A Bondade e o Bom-senso tinham ido a uma reunião de filantropos no Bairro Latino, e não encontraram mais nem um táxi nem um auto-ônibus. De espaço a espaço os faróis das estações do “metro” espalhavam, na noite azul, tímidas luzes vermelhas. Sob a Pont des Arts o Sena corria silenciosamente. Sobre a ponte, ninguém.
Somente havia um cão.
Personagem importantíssima nesta história, em que não se referem as peripécias de humilde rafeiro, mártir obscuro, que se fez arrastar pelas ondas para salvar um homem, nem as desventuras de um pobre cão de empalhador, que se deixou morrer de inanição em cima de um túmulo.
Aqui se conta uma história muito, muito mais triste.
* * *
Os cônjuges Bom-senso e Bondade, moralistas e humanitários, viram o pobre cão, que junto ao parapeito da ponte dormia, ou fingia dormir, deitado de costas, com as quatro patas para cima. A lua (aquela lua que não se vê só em Nápoles, mas também em Paris) iluminava-o em pleno peito. Era um animal de raça finíssima, um buldogue inglês, de sólidas patas, de tórax robusto e com a máscara de Beethoven.
— É a terceira vez que o vejo aqui — disse o senhor, apontando para o cão —. Está abandonado, perdido. Vês como sofre? Não pode nem se mover, de fome e de frio: está naquela posição (impudica, pensou a mulher) porque é atormentado por dores reumáticas: conheço isso: quem sabe há quantos dias não come! Parece moribundo... Pobre animal! pertencia decerto a gente rica, que o tratava bem, que o nutria abundantemente; quem sabe quanto sofrerá pelo abandono! Eu acho que se o matássemos praticaríamos um ato de piedade; acabaria de sofrer... Que achas?
— Penso também que deixaria de sofrer — confirmou a senhora.
— Matamo-lo?
— Se tens coragem...
— Tenho, sim, quando se trata de fazer o bem.
— Então mata-o. Olharei para outro lado.
A senhora voltou os olhos na direção do Louvre, imersa num banho de azul, e tapou os ouvidos. Na Pont des Arts ressoou um tiro de revólver. Uma janela, na margem esquerda do rio, iluminou-se e uma sombra apareceu no seu vão; depois a sombra se retirou, fechou, apagou. Antes de se afastar, a senhora lançou um olhar cheio de piedade ao pobre animal, enquanto o marido o deixava cair no Sena.
— Era um animal infeliz. Fizemos-lhe bem.
— Sim, era um cão infeliz.
* * *
Duas horas antes aquele cão de máscara de Beethoven encontrara, sob os pórticos da “Comédie Française”, por trás do monumento a De Musset um cão seu amigo, um “fox-terrier” estúpido como uma rapariga honesta.
Os dois animais tinham-se aproximado, olhando-se nos olhos, e fazendo sinais por algum tempo, com a cauda. Depois um havia dado a precedência ao outro e o outro se tinha voltado, como para dizer:
— Depois de vós, senhor!
Esgotado aquilo que Maupassant chama as cerimônias maçônicas dos cães, sentaram-se um defronte ao outro, e contaram-se as suas peripécias.
O cão da máscara de Beethoven dissera:
— Tu moras na pastelaria da Rua Lépic. Reconheço-te. Parecia-me que não fosses uma cara, ou antes, um cheiro novo. Sempre nos encontrávamos quando eu e o meu criado íamos comprar na tua casa o presunto cozido do meu almoço.
“Agora não estou mais naquela casa. Consegui fugir.
“Que queres? Aquela casa não me agradava mais. Os meus hóspedes eram demasiados ricos, demasiado bons; queriam-me demasiado bem. Devam-me nojo com o seu afeto.”
— Deixavam-te lamber os pratos?
— Isso não, porque é anti-higiênico, dizem eles, deixar que os cães comam nos pratos do dono.
— Preconceitos!
— Têm razão. Eu sei de um cão que, por ter lambido o prato onde comera uma senhorita de dezoito anos, de família distinta, pegou a sífilis.
“Davam-me tudo o que eu queria.
“Não sabes quanto se está mal na abastança!
“Tinha um criado exclusivamente para mim. Dormia em coxins moles, macios, inchados, num quarto escrupulosamente aquecido, no meio de móveis finíssimos que eu me sentia no dever de respeitar, conquanto me deixassem a mais completa liberdade de escolha, entre uma peça e outra.
“Não me faltava nada. Faziam-me contrair a diabete por hipernutrição. Não havia gulodice que não me dessem. Mantinham-me a pastéis de caça, “pemmican” e “plum cake”. Mandavam vir da Inglaterra uns biscoitos especiais. Haviam chegado a eliminar em mim a coisa mais bela: o desejo. Eu não podia desejar mais nada, porque tinha tudo.
“Só desejava uma coisa, que nunca me permitiram: aventuras passageiras com cadelinhas de menor idade, que mostravam interesse por mim, quando eu levava a passeio nos Campos Elísios o meu criado. Mas um cão da minha raça — diziam eles — não pode ter “mésalliances”. E aconteceu-me o que acontece aos príncipes hereditários: estabeleceram épocas fixas para os meus amores, que eu só devia consumar com exemplares femininos da minha raça. Com este fim peregrinei de casa em casa; em toda parte onde se encontrasse uma fêmea de meu tipo, tinha eu que fazer estágios de quinze dias. Estive na casa de uma grande atriz, de um ex-presidente da República, de um embaixador, de um filósofo chinês, de uma “cocotte” célebre.”
— De uma “cocotte”? Deves ter visto boas!
— Não. Vi mais nas casas de famílias decentes. Oh, quantas coisas vi nas que freqüentei! Se soubesses como os homens são diferentes em casa e fora de casa! Tu, que vagas continuamente pelas ruas, imaginarás que as mulheres sejam, em frente de si mesmas, seres delicados, refinados, preciosos como são fora. Oh, iludido! Eu vi-as na intimidade, e afirmo-te que nunca encontrei u’a mulher, por espiritual que fosse, que na solidão do seu quarto, sabendo-se inobservada, não introduzisse no nariz aqueles dedinhos pálidos que parecem destinados a só tocar hóstias santas e pérolas reais.
“E as mulheres virtuosas? As mulheres honestas? Aquelas que o mundo chama intergérrimas porque não se conhecem os nomes nem o número dos seus amantes? Mas eu estive também na casa de mulheres virtuosíssimas, de mulheres católicas, de sócias da Liga de Moralidade Pública. Pois bem, essas não têm um amante oficial, mas quando estão sós em casa não lhes escapa nem o verificador do gás, nem o mensageiro da entrega de encomendas.
“Estive também na casa de uma parteira. Coitada, era boa! Agora passa fome.
— Por quê? — perguntou o “fox-terrier” —. Diminuíram os nascimentos?
— Não é por isto — sorriu o cão da máscara sombria —. Tu sabes melhor do que eu que as parteiras não vivem dos que nascem, porém dos que não nascem. Mas, que queres? As coisas vão mal, agora, para as parteiras, porque as senhoritas distintas aprenderam a abortar sozinhas.
Neste ponto o cão se interrompeu, afastou-se, cheirou o chão, recolheu-se por alguns segundos e depois se arredou um passo para ir arranhar a terra um pouco adiante. Fez como os literatos que escrevem em Roma e vão vender as suas obras em Milão. Depois continuou:
— Tu metes, às vezes, o focinho nos restaurantes e admiras as senhoritas que descascam elegantemente as frutas com o garfo e a a faca... Se as visses em casa! Empregam “tout bonnement” as mãos, e quando entre a polpa do dedo e a unha fica um pouco de suco, lambem os dedos.
“Que sujeira há nas famílias! Vês todas estas senhoras e estes cavalheiros que saem da “Comédie”? Eu aposto quatro frangos contra um osso que muito poucos, entre eles, estariam em condições de tirar as meias, diante de testemunhas, sem corar.
“É melhor ver os homens e as mulheres em público. Por isso eu fugi de casa. Agora durmo onde quero. Cheiro a quem quero. Freqüento as companhias que me agradam.
“Tenho o prazer de sentir, algumas vezes, fome e, portanto, a ânsia de conseguir comida, e o frenesi de roubá-la. Quando roubo um pedaço de carne de um açougueiro eu sou feliz, porque aquela carne eu a desejei e conquistei com sério perigo.
“Sou atormentado por um bando de pulgas, mas tenho a satisfação de matá-las eu, com os meus dentes, e não com as unhas de outrem!
“A incerteza da minha vida me embriaga. O risco de ser, de um momento para outro, pegado pela carrocinha me exalta.
Não correm mais a meu respeito boatos desonestos, a propósito da senhorita, uma histérica sádica e intelectual.
“Durmo todas as noites na Pont des Arts (daqui a um pouquinho te deixo, porque não quero recolher tarde), onde tomo a minha posição predileta: de pança para as estrelas e com as patas espichadas: posição comodíssima que antes a família não me permitia tomar, porque havia uma senhorita em casa.
“Não tenho mais o aborrecimento de ter que dar a mão, gesto insulso que os homens também fazem.
“Não tenho mais o enjôo do açaimo (a lei), da coleira (a escravidão) e do nome (a personalidade).
“Posso finalmente tomar a liberdade de vomitar sem ter que dar explicações ao veterinário.
“Em resumo, a minha vida de vagabundagem, a falta de um travesseiro em que dormir, a incerteza do amanhã, a solidão absoluta, o não ter mais ninguém que me queira bem, mais ninguém que me admire, mais ninguém que me proteja; sentir fome cada duas ou três horas, tremer de frio, andar ao acaso pelo mundo como um mendigo, um cigano, um ladrão, depois de ter sentido o peso da casa, da família e da riqueza, é achar finalmente a felicidade.
“Eu sou um cão feliz,”
A SUA LÍNGUA E A MINHA
Durante os primeiros meses que estive em Paris, não tive outra amante além de uma bolonhesa. Insisto sobre a significação altamente patriótica desta minha nobre conduta.
Mas, um dia, a minha alma burguesa e provinciana teve imprevisto impulso de ousada revolta. Quis ter, também eu, uma amante exótica; o que se pode encontrar de mais exótico em Paris. E enamorei-me de uma persa autêntica de Teerã.
Enamorei-me porque quis enamorar-me. No amor quase tudo é voluntário; até o desespero. 25 por 100 das nossas lágrimas derramadas por amor são espontâneas, mas as outras 75 são exprimidas. A saciedade também é voluntária. Quando estamos cansados de u’a mulher, quando não a amamos mais, podemos, querendo, recomeçar do princípio.
Os amores eternos não são mais do que amores recomeçados.
Obriguei-me, pois, a apaixonar-me por uma persa, e cinco dias depois me tinha apaixonado tão “perdidamente” (como se lê nos bons romances) que (exageremos! que é uso) não poderia mais viver sem ela.
Como o nome dessa mulher é dificílimo de se pronunciar, chamemo-la simplesmente “a persa”. Tinha olhos cintilantes como os fumadores de cascarilha e banhava o rosto com uma loção asiática a base de violetas e de açafrão.
O perfume das violetas, menos persistente, evaporava-se.
O de açafrão ficava, dando-lhe à pele cor de azeitona apetitoso perfume de arroz à milanesa.
* * *
Conhecia-a...
Um momento. Não gosto de falar de mim. Não suporto as narrações escritas na primeira pessoa: Dão-me a impressão de que o autor, expondo os seus casos e sentimentos, a cada momento tire o termômetro de baixo do braço para mostrá-lo à leitora. Façamos de conta, pois, que não se trata de mim, mas de outro, a que daremos belíssimo nome de novela: Flávio Santelso. Até, para que seja mais novelesco ainda, demos-lhe um título: barão. Há estúpidos de ambos os sexos para os quais ainda têm importância os títulos.
O barão Flávio Santelso encontrou a persa numa aula de medicina legal, na Salpêtrière. O manicômio da Salpêtrière está situado à beira do Sena, depois daquele “Jardin des Plantes” que se achama assim porque lá existem animais.
O barão Flávio Santelso entrou no anfiteatro de neuro-patologia, rumoroso de estudantes e de senhoritas que não eram “travessos como colegiais em férias”, mas quase. Pouco depois deveria entrar, como de fato entrou, a “charmante mexicaine” (danças selvagens).
A “charmante mexicaine” (danças selvagens) era loira como... (basta de comparações!) e magra, e tinha os seguintes característicos:
Fígado: kg 1.500
Coração: " 0.270
Cérebro: " 1,042
Cabelos: " 0,45Esquecia-me de dizer que a “charmante mexicaine” estava morta. Tinham-lhe feito a laparatomia, primeiro, e a necropsia depois, e haviam-lhe encontrado uma bala de revólver desfechada na região... como se chama? Ah, é isto: desfechada à queima-roupa por um dançarino americano da “Porte Dauphine”, que se exibia junto com ela, na sala Mayol, na grande “révue d’hiver” “Tout à l’amour”, famosa pela cena do segundo ato, “lê coucher des ingénues”.
O barão Flávio Santelso, amador da medicina que freqüentava por nobre curiosidade as clínicas do Hotel Dieu e da Salpêtrière, não quis perder a ocasião de conhecer os resultados da necropsia da dançarina elegante e provocantíssima que ainda duas noites antes vira dançar vestida unicamente de uma camada de pó de arroz, alguns tufos de pêlos e uma fitinha estreita como uma aletria.
E foi justamente durante a aula de medicina legal, diante do cadáver da dançarina americana, que o barão Santelso apaixonou-se pela persa autêntica de Teerã, viva, também atraída pela curiosidade de ver um corpo humano cortado em pedaços e revistado como u’a mala na alfândega. Mas não insistamos. É preferível falar sobre a persa viva, de Teerã.
Está na moda começar dizendo como são os seios. Pois procedamos assim. Eram seios de tamanho médio, tão rijos sob a túnica de “charmeuse” que ao bater-se-lhe docemente com um dedo parece que deveriam produzir um som metálico. Tinha os tornozelos finos ágeis delgados (escolher um entre estes três adjetivos) e as barrigas das pernas musculosas e nervosíssimas, modeladas por um belo par de meias de 55 francos.
Nas orelhas tinha aros de escrava, mas nos olhos uma chama dominadora, que abrasava o redor num raio de 200 metros.
Magníficos anéis douravam-lhe, azulavam-lhe, enverdeciam-lhe os dedos das mãos. Especificamos que eram das mãos porque as persas costumam enfiar anéis até nos dedos dos pés. Mas estes não se vêem; ou melhor, Flávio Santelso não os viu ainda, naquele dia. Viu-os no dia seguinte.
A preleção durou uma hora.
Acabada a aula, um servente empurrou na direção da porta o carrinho anatômico.
Quando o carrinho dava uma volta meio brusca no corredor, o fígado, solto perto do cadáver, caiu no chão pela ação da força centrífuga, fazendo o rumor de um tapa dado com mão molhada numa cara gorda, ou por u’a mão gorda numa cara molhada. O servente levantou-o, atirou-o no corte da barriga e empurrou energicamente para a sala mortuária o leve veículo de altas rodas finas e silenciosas.
A persa lançou ainda um elhar enigmático ao cadáver, e teve um estremecimento vago e saiu. E saíram todos os estudantes, conversando e acendendo os cigarros. Saiu o professor, saiu o barão Flávio Santelso.
A persa, descendo para o ar livre, sentiu logo a necessidade de um automóvel de praça. Com efeito, à passagem de um táxi, assobiou um chamado feito de três notas. O “wattman” não se dignou voltar-se.
— Quer um automóvel? —. perguntou em corretíssimo francês Flávio Santelso.
A persa olhou-o e não respondeu.
— Quer um automóvel? — repetiu Santelso, sempre no mesmo corretíssimo francês.
A persa sorriu, tomou a expressão de quem não compreende e sorriu de novo.
— Não entende? — admirou-se Santelso. A persa fez sinal que não.
—- “Do you speak English”? — perguntou Santelso, que não sabia outra coisa de inglês, com vago receio de ouvir responder “yes!”
Mas a persa calou-se.
— “Habla usted español? — Insistiu depois com o secreto terror de que ela respondesse; “Si, señor, jo hablo”
Mas a persa calou-se ainda.
— “Sprechen Sie Deutsch”? — encarniçou-se, inflexível, Santelso, temendo ainda que a mulher respondesse “ja”.
Mas a mulher não entendia nem o francês, nem o espanhol, nem o alemão, nem o inglês, porque a mulher era persa, como nós muito bem sabemos. Porém Santelso não o sabia ainda.
Soube-o uma hora mais tarde, quando na Rua Huyghens, diante da vitrina do editor Albin Michel, ela, mostrando-lhe um grande mapa geográfico da Ásia, apontou com o dedo para a Pérsia, e especialmente para Teerã, e depois, com aquele mesmo dedo, para o meio do peito, na altura dos dois seios que com fotográfica exatidão descrevemos duas páginas atrás.
Santelso esboçou um sorriso, escancarou os olhos, inclinou a cabeça diagonalmente em sinal de comprazida admiração, e disse: “Ah!”
“Ah!” em persa também quer dizer “Ah!”
Aquele primeiro passeio a dois através de Paris foi bem silencioso. Quando duas pessoas falam línguas diversas, a sua palestra não é muito numerosa, ainda que uma das duas pessoas seja mulher. O diálogo reduz-se a uma troca de impressões exteriores, nunca de idéias; é difícil que troquem opiniões, sensações, gostos, e eis tudo.
Passando por diante de uma perfumaria da Praça da Ópera que vende pós de arroz e as essências a peso, e não pelo aspecto, isto é, em vidros de farmácia e não em frascos de Lalique, estrangulados de laços e complicados de ambíguas transparências, a persa aspirou com voluptuosa expressão das narinas dilatadas e dos olhos semicerrados a revoada de perfume que saía pela porta como o sopro de um lento pulverizador apertado do interior em direção à praça.
A persa fez um movimento ondulatório da cabeça, com dilatação dos olhos, que queria dizer: “Bom, hem?”
Tomaram depois pela Avenida da Ópera. Em frente a um relógio pneumático, Santelso mostrou a hora e perguntou, sempre por gestos: “É tarde para você?”
A persa respondeu por um movimento internacional: “Não.”
Da “Brasserie Universelle” vinha um convite de pequena orquestra.
Na porta, com fácil mímica, Santelso propôs: “Vamos entrar?”
E a persa, com movimento mais fácil ainda, concordou.
Santelso, apontando para a fila de mesinhas e de cadeiras que formavam o “dehors”, hesitou se ficaria na “terrasse” ou entraria. A mulher entrou, sentou-se num sofá. Santelso tomou assento à sua direita.
Quem nunca se viu em semelhantes circunstâncias julgará que passar duas horas na companhia de u’a mulher que não fala seja um suplício. Alguns misóginos de mau gosto afirmarão que é um prazer. Pois não é nem prazer, nem suplício. É um martírio agradável.
— “Barber’s pole!” — pediu Santelso ao caixeiro. E voltando-se para a persa aguardou as suas ordens. Ela fez sina! com o queixo para o refresco que um senhor em frente a ela chupava pacientemente através de um canudo.
— “Ice-cream soda!” — explicou o caixeiro, indo-se.
Voltou quase imediatamente com os dois refrescos.
O pedido por Flávio Santelso era composto de sete camadas de licores, verde-erva, vermelho, azul, amarelo, verde-bilhar, creme, violeta, de várias densidades, que se superpunham um ao outro sem se misturarem.
Uma bebida desse gênero, na Itália, provocaria um ajuntamento na frente do café.
A persa fez gracioso sinal de assombro. Então Santelso, com galante abnegação, cedeu-lhe o próprio refresco policromo e pegou o “ice-cream soda” destinado a ela.
E chupou.
Chuparam os dois, em silêncio, cada um do seu lado (a orquestrinha tocava um ária de “Phi-Phi”); depois afastaram os lábios do respectivo canudo de palha (esterilizado) e dobraram-no com recíproco sorriso, que, sendo privado de sentido, tinha, como os quadros dos símbolistas, o mérito de prestar-se a todas as interpretações.
A persa ergueu-se, deixando as luvas e levando consigo a bolsa. Quando num café parisiense u’a mulher se afasta com a bolsa e deixa na mesa as luvas e um homem, sabe-se logo aonde é que vai: vai ao “lavabo”.
Em todo café parisiense há um lavatório para homens e mulheres, onde se encontra o necessário para escovar os sapatos, passar a roupa, olhar-se ao espelho por diante e por trás, lavar as mãos, pentear-se, limpar por dentro e polir por fora as unhas; em certos lavatórios mais elegantes encontram-se até pós de arroz de todos os tons, do amarelo ao violeta, dentifrícios e grampos invisíveis. Vi um em que havia até uma “dormeuse” para se repousar. Dando razoável gratificação ao guarda do gabinete, podia-se até ir repousar a dois de uma vez.
Ficando sozinho, Santelso pensou:
“Ser amante de u’a mulher que fala outra língua, que não entende a minha, que não pode dizer coisas banais, exprimir sentimentos baixos, fazer adivinhar aquelas pequenas misérias que há no fundo de todas as mulheres, mesmo das mulheres superiores!
“U’a mulher — pensava — que não comente para mim o seu álbum de amantes estáveis e de aventuras ocasionais; que não me ponha a par das suas paradas obrigatórias e facultativas na cama de outros homens; que não me instrua sobre o seu passado, que não me descreva as colchas e as cortinas dos quartos onde tem cedido às necessidades da sua carne ou da sua bolsa. Uma mulher de quem nada sei; pode ser uma poetisa ou uma analfabeta, uma toupeira ou uma águia; pode ser carne para sargentos ou uma “turris eburnea”; pode ter sido poluída por todos os soldados a pé e a cavalo do xá da Pérsia ou ter conservado uma castidade parsifaliana. U’a mulher que não só não me contará nada da sua vida, como ainda não me deixará entrever nada.
“As outras! Ah, as outras! Que, falando-nos dos seus amores precedentes, obrigam-nos ou a fazer de homens inteligentíssimos, que não têm ciúmes ridículos do passado, ou a fazer cenas frígidas de ciúme retroativo.
“Sentem a necessidade de confessar que não chegam puras até nós!
“Mas se a gente nem sequer pergunta isso!
“Contudo, sentem a necessidade de confessar.
“Outras — prostitutas desde o nascimento, desde o feto, do embrião — enganam-nos e gabam-se disso...
“Esta, porém, esta mulher incompreensível, dar-me-á a ilusão completa! Nesta mulher que talvez tenha desnublado o cérebro de todos os marinheiros do golfo Pérsico — exagerava Santelso — eu poderei ver uma alma de vestal. Posso depositar o escrínio dos meus sonhos nas suas mãos brancas, cobertas de anéis, se bem que eu sinta em cada anel de mulher um cheiro diverso de esperma. Se ela não mo confessar, eu não descobrirei na sua vida vestígios de outros homens. A corrente elétrica, o gás de iluminação, passando por um contador, fazem girar esferas, apontam números. O prazer, não. A volúpia, não. O prazer, a que a moral, a religião, a literatura atribuem tanto peso, é mais leve que a corrente elétrica, mais leve que o gás.
“Que felicidade não ter o bom Deus posto um taxímetro, um conta-quilômetros nas graças femininas! Por virtude desta inteligente omissão, a bela persa de quem nada sei poderá ser tudo para mim.
“Qualquer coisa que eu supuser dela tornar-se-á verdade pelo simples fato de eu supor!
“Todas as mulheres — refletia Santelso — têm temperamento de prostituta. Em todas existe a necessidade de se gabar das suas cópulas remotas ou recentes, ou, o que é pior, de deixá-las adivinhar. E deixam-nas adivinhar com uma leviandade idiota, sem um sopro de artística perfídia, deixam-nas adivinhar do modo mais ingênuo e insulso, falando três ou quatro vezes por hora do mesmo homem, do corte dos seus bigodes, do seu modo de pronunciar o “erre”, do seu talento especial para armar o laço da gravata. Quando u’a mulher insiste em falar de um homem, pode-se jurar que foi para a cama com ele.
“Esta persa — fantasiava Santelso — poderá vir todos os dias à minha casa, de volta, todos os dias, da casa de outro. E eu não saberei nunca de onde é que vem, pois nunca deixará escapar um pormenor que mo faça supor... Esta oriental indecifrável não me descreverá nunca as mãos, os sapatos, os belos feitos de ninguém. Eu nunca saberei nada da sua vida sexual: não sentirei nunca ciúmes do passado, nunca terei o receio de que durante o meu interregno em seu coração (ou no seu sistema nervoso) se entregue a outro, pois não saberei se é uma volúvel consumidora de homens ou mulher fiel a um único tipo, a um só exemplar. Conheci algumas — recordava Santelso — que, deitadas comigo na cama, tinham a serena ingenuidade de me descreverem as minúcias anatômicas, a resistência física, a reiterada galhardia dos outros.
“Esta mulher é uma novidade na minha vida.
“Eu não sei qual foi o seu cardápio variado de homens.
“Não sei que idéias tem sobre o amor, sobre o prazer, sobre o amor pago, sobre o prazer subordinado à paixão, sobre o prazer fim de si mesmo.
“Não sei quem é. Senhorita? Casada? Viúva? Vive de rendas? Rouba nos hotéis? Há alguém que a mantém? Assassinou um rico mercador do seu país? É filha de salteador? Ou descende de algum sátrapa? Ou de um bruxo? Algum dos seus avós foi general em Maratona? Ou almirante em Salamina? Seu pai será produtor de vinhos de Xiraz? Ou algum caravaneiro? Ou califa?
“O seu primeiro amante? Um barbudo cavaleiro armado de um velho fuzil tauxiado que a terá arrebatado no seu cavalo branco, e, depois de uma corrida louca pela aridez do deserto, a terá violado num oásis, entre as altas ervas aromáticas, em baixo de uma palmeira escura, que se recortava sobre o céu infinitamente azul, de onde as estrelas deixavam pingar a luz como um conta-gotas?
“Ou será uma “désènchantée” fugida de um harém, com a cumplicidade piedosa de um grande eunuco, a quem, depois, para exemplo, cortaram até a cabeça?
“No seu país terá sido cortesã? Terá dormido em todos os prostíbulos de Ispahan, de Tebris, de Abukir, onde as profissionais da volúpia têm por tálamo infecundo uma esteira semeada de rosas?
“Ou será antes — tudo é possível! — uma boa esposa que todas as manhãs invoca Oschen, o que dá abundância aos germes fecundantes, e durante o delírio venéreo murmura a fórmula: “Eu te confio esta semente, ó Sapondamad, ó filha de Ozmud?”
“Uma persa! — suspirava Santelso —. Dizem que são as mais belas mulheres do mundo. Esta, com efeito...
“É um exemplar de uma espécie que falta no jardim zoológico dos meus amores. Tive estudantes de filosofia, coristas de opereta, mulheres de amigo, amigas de minha mulher; uma inatingível dama da aristocracia negra, uma irmã de caridade de dezenove anos, uma siciliana tenaz como uma ostra e egoísta como uma esponja, uma sarda de uma honestidade que dava nojo, uma florentina que corava diante dos manequins das modistas e ia todos os dias a uma casa de entrevistas a quinze liras a consulta. Fui amante da minha institutriz; fui amante de minha mulher (antes de mim o tinham sido outros). Tive uma russa que era mulher duas vezes e uma norueguesa que o era quatro; uma holandesa que calçava nos pés dois agudos esporões de prata para me incitar no momento decisivo, e deixava-me buracos nas partes moles, como depois de longo e ineficaz tratamento de injeções reconstituintes.
“Mas uma persa — exaltava-se Flávio Santelso, barão — é o que se poderia pedir de mais pitoresco e coreográfico na comédia erótica da minha vida! U’a mulher que não fala, ainda que seja uma caixa harmônica de ressonâncias longínquas, de sentimentos complexos, de emoções doidas, de mistérios intricados, de ambigüidades lendárias! U’a mulher que será minha sem reminiscências literárias, sem hipocrisias convencionais, sem artificiosas reticências, sem mentiras de boa educação, sem lugares-comuns poéticos, que, principalmente, será minha sem obscenidade!
“A cópula não é obscena. O que a torna obscena são, às vezes, as palavras.
“As outras mulheres infligem à gente um prelúdio de conversas antes de deixarem que se lhes dê um beijo. Mais conversas antes de deixarem que se lhes desabotoe um botão. Conversas enquanto a despimos. Conversas depois que se despiram. Torrentes de palavras antes de se entregarem. Cachoeiras de palavras. Há algumas que mal acabaram a operação, dizem; “Agora me desprezarás!”, e obrigam-nos a gemer os juramentos mais lisonjeiros: “Desprezar-te? Que idéia! Podes pensar que eu... Deixa disso! Aprecio-te mais agora que te conheço melhor!” E ela insiste: “Dizes isso enquanto estás aqui, mas amanhã não falarás mais do mesmo jeito; considerar-me-ás u’a mulher como todas as outras!” E a gente: “Juro-te, meu amor, que antes...
“Literatura, literatura!
“Outras mulheres nos convidam alegremente a morrer juntos;.
“Outras fazem valer a entrega do seu corpo... As mulheres que vêm a nós por força da atração quimiotática, perfeitamente análoga à que atrai os nossos nervos para a sua carne, as nossas mucosas para as suas mucosas, dão-se ares de nos terem feito uma concessão, um dom, um holocausto.
“— Eu, afinal, — lembram — entreguei-me a ti!
“Oh, infeliz, imperfeita, sentimental língua nossa, em que, como noutras pouquíssimas línguas, a ação da cópula se chama “dar-se” quando se refere à mulher, e “tomar” quando se refere ao macho! Por esta falha da língua a mulher que “se dá” julga ter dado quem sabe o quê, e ter direito a quem sabe que recompensas!
“Eu acho que nos países em que copular se chama copular, em vez de “dar-se e tomar”, a mulher tem menos pretensões!
“Como são exasperantes as mulheres que, depois de terem sido nossas, no-lo atiram ao rosto, exigindo-nos gratidão, reclamando que suportemos os seus caprichos, as suas extravagâncias, a sua estupidez! A gratidão é a valorização de “entrega”, e todas as mulheres, exigindo um equivalente em gratidão, procuram a valorização da cópula!
“Que nojo!”
A meditação de Santelso pode parecer um pouco longa, mas tê-lo-ia sido mais se a ausência da persa se houvesse prolongado.
A bela oriental de olhos magnéticos e oblongos voltava do lavatório com movimentos odulatórios, e retomava seu lugar ao lado de Flávio Santelso. Este tomou-lhes as mãos vagamente úmidas, frescas. As unhas esmaltadas de vermelho estavam mais ensangüentadas que as de Macbeth. Santelso beijou-as. É o mínimo que se pode beijar num café parisiense.
* * *
No dia seguinte, de um automóvel de praça que parara no Bulevar Saint-Germain n.° 9, desciam a persa e o barão Santelso.
Este deu a mão à mulher, pagou cinco francos ao chofer, que, naturalmente, procurou em todos os bolsos, sem achar troco.
Sobre uma porta do segundo andar estava escrito: “Tournez le bouton, s’il vous plaît”. Mas Santelso não teve necessidade de tocar, porque a dona da casa já tinha corrido a abrir e exibia magnífico sorriso.
— “Bonjour, monsieur et dame!”
Na Itália as donas de pensão fazem uma careta horrível quando se leva u’a mulher para casa.
Em Paris, mimoseiam com um sorriso de contentamento.
Somos retrógrados até nisto.
A persa sabia muito bem o que ia fazer à casa de Santelso. Se Santelso pudesse dirigir-lhe um discurso, teria dito:
— Venha à minha casa. Aqui fora está tão quente (ou frio); faz tanto sol (ou chove tanto)!; a cidade é tão antipática nos domingos (ou nas sextas-feiras, nos sábados, nas segundas); na minha casa há uma deliciosa frescura (ou calor). Mostrar-lhe-ei a minha coleção de estampas antigas, de leques japoneses, de cachimbos turcos, de fetos em conserva, de pingüins embalsamados.
A mulher teria compreendido no ar que cachimbos, leques, pingüins, não eram mais que um pretexto; e teria fingido que “caía” na armadilha.
“Cair”, dizem as mulheres. Mas na armadilha as mulheres não caem nunca. Descem. Das mulheres não se abusa. Usa-se.
Quando u’a mulher aceita o convite para uma corrida de automóvel sob os plátanos ou os castanheiros, já sabe que o automóvel vai fatalmente parar diante de uma pensão que aluga quartos por hora ou de uma “garçonnière”.
A persa o sabia desde o momento em que Santelso lhe abriu a portinhola do táxi. Santelso, porém, não teve necessidade de falar das suas ricas coleções, nem da corrida poética sob as árvores dos Campos Elíseos. Deu simplesmente o próprio endereço ao chofer.
Quando chegaram ao seu quarto, a persa olhou para a cama com um gesto de terror. Todas as mulheres era casos semelhantes escancaram os olhos, como faz o condenado à morte quando, descendo do “panier à salade” vê erguer-se diante dele, no Bulevar Arago, na manhã lívida, a guilhotina.
Todas as mulheres fazem assim, mesmo as que sofreram milhares de execuções. A maior parte delas simulam desmaios, fazem-se de mortalmente ofendidas, tomam impulso para fugir, aterrorizadas, mas depois se deitam.
A persa deitou-se sem mais nada. Isto é, com ele. Com Flávio Santelso, barão.
* * *
Se as mulheres soubessem quanto lhes ficamos agradecidos, como as amamos mais, como as apreciamos mais quando não nos obrigam à ginástica sueca para despi-las!
Na sinceridade de sua defesa não acreditamos, à naturalidade do seu pudor não prestamos fé, pelo menos nós — os homens inteligentes —. É Santelso quem fala, não sou eu. — Não nos empenhamos em encontrar a donzela arisca e pudibunda. A donzela arisca e pudibunda pode agradar aos homens feitos em casa, educados pelos salesianos, que até aos vinte e cinco anos freqüentam os oratórios, que usam punhos redondos e botinas inteiriças, elásticos do lado. A estes homens agradam as raparigas de cérebro blindado com argamassa, que deixam formar-se teias de aranha naquelas partes que as outras, as de que nós gostamos, têm continuamente em exercício.
Nós gostamos da mulher que no entregar-se mostra a mesma impaciência com que a procuramos. Isto é, a mulher que, depois de dois mil anos de estupidez moral cristã, procede como se a moral nunca tivesse existido.
Isto é, a mulher que não liga nenhuma importância à função sobre que se construiu uma fé, u’a moral, uma literatura.
Que coisa se poderá imaginar mais maravilhosa do que esta? Reflitamos um instante! U’a mulher entra num quarto, despe-se, deita-se... lava-se, torna a se vestir, vai-se.
Esta mulher, com um gesto tão simples, desarmou u’a moral, zombou de uma fé, desprezou uma literatura!
* * *
Flávio Santelso não escrevia nenhum diário. Aqueles que todas as noites transcrevem no caderno as impressões e as reflexões do dia, são como os que assoam o nariz e olham, no lenço, o resultado da operação. Flávio Santelso não escrevia nenhum diário. É pena! — Seria tão cômodo para quem tem de contar-lhe as peripécias, referir algum trecho! Mas se o tivesse escrito, o diário de Santelso havia de ser, pouco mais ou menos, assim:
Paris, 2 de maio
Tornou a vir ao meu quarto. É deliciosa! As mulheres são como os perfumes. Da primeira vez não se lhes pode julgar os méritos, porque se sente muito o cheiro do álcool e do éter; mas, da segunda vez...
É u’a mulher ardente.
Incandescente.
Talvez até demais. Não sei se é costume das mulheres persas, mas no momento mais agradável grita como se eu a estivasse matando... Não sei como faremos no verão, com as janelas abertas.
13 de maio
Todos os dias é demasiado. Ê superior às minhas forças. Fiz-lhe compreender que me deve deixar um feriado semanal, o sábado inglês. Fingiu que não compreendia. Que tragédia, falaram-se duas línguas diversas!
14 de maio
Que bela coisa, falarem-se duas línguas diversas! Enquanta a aperto nos braços, grita não sei que palavras na sua língua... Talvez invoque algum dos seus amantes passados, mas eu não percebo, porque à exceção de Zoroastro, Cambises e Smerdis, não sei nenhum nome persa. Conheço também Ciro, Dario, Dates, Xer-xes. Artaxerxes, mais quem sabe lá como se pronunciam no seu pais!
25 de maio
Preciso indagar ainda por que é que naquele dia estava naquela sala, diante daquele cadáver. Se tivesse tomado parte no assassínio! A necropsia foi minuciosa e diligente, porque se suspeitava que à “charmante mexicaine” fora ministrado veneno. A persa tem olhos de envenenadora! Ou seria apenas uma amiga dela? Ou uma admiradora? Uma amante lésbica? Talvez a persa me tenha agradado por este mistério. Por que estaria lá? Mas, eu também estava. Então?
30 de maio
Os músculos das suas pernas induziram-me à suspeita de que seja uma equilibrista. Então, subi para cima da cama, espichei os braços, conservando-os rijos como se caminhasse num arame ideal.
Enquanto eu imitava o equilibrista, ela pôs-se a rir. Devia estar ridículo assim nu. Deu-me um beijo. Perdi o equilíbrio e não procurei mais saber qual é a sua profissão,
1.° de junho
Penso que sabe o francês melhor do que eu e finge ignorá-lo para evitar o aborrecimento de falar e de me ouvir falar. Talvez ela também deteste os lamartinismos e a gíria dos namorados.
2 de junho
Acho que veio aqui fazer cinematografia. Contudo, para ser persa de cinema, não é preciso sê-lo de verdade. Basta escrever nos reclamos.
3 de junho
Ao tocar-lhe a pele parece-me que acaricio âmbar, ebonite, lacre. Desenvolve eletricidade, negativa.
O seu corpo deve irradiar estranha energia. É u’a mulher radioativa.
Mas o que mais amo nela é o silêncio.
Não ouvi-la manifestar opiniões. As opiniões das mulheres! As mulheres não têm opiniões. Quando abraçam um homem, abraçam-lhe também as idéias! A mulher de um fabricante de suspensórios para hérnia, tem a convicção de que suspensórios para hérnia é a única coisa sobre que valha a pena conversar.
4 de junho
Pérsia:
Estação das rosas, nos jardins secretos de Ispahan, velha cidade de ruínas e de mistério. Pequeninas mesquitas (de altos minaretes azuis. Planuras intermináveis, sobre que andam as caravanas, dormindo no noite asiática.
Um galo que canta, ao longe; outro, menos longe, lhe responde; outro mais próximo, próximo, menos próximo, longe, muito longe, tão longe que parece uma alucinação do ouvido. E a caravana prossegue, dormindo, em direção a um castelo encantado.
Belas princesas veladas.
A lâmpada de Aladino.
Um caravanserralho. As mulas, os homens, as mulheres impenetráveis, o “tchazvadar” ou chefe da caravana, avançam. Dorme-se no capim mole... Fuma-se ópio, sonha-se,...
Tudo isto não foi a minha amante persa que me contou. Fui eu que pensei, cosendo as remotas lembranças das mil e uma noites com as de um livro de capa amarela de Pierre Loti. E me convenci de que o dissesse ela.
Se a persa pudesse exprimir-se, não saberia contar nada.
As amantes exóticas não sabem dar-nos nenhuma representação de sua pátria. Quando eu era amante da loiríssima violinista holandesa, ela uma vez me disse que aqueles queijos esféricos são pintados de vermelho só para a exportação. Em seis meses não me soube dizer outra coisa sobre a Holanda.
18 de junho
Creio que acabarei casando com a persa. É o ideal da mulher. Eu só odeio duas coisas que no fundo se tocam: a literatura e as frases feitas. Esta mulher ainda não me disse: “Sempre”.
Ainda não me disse: “Nunca”.
Ainda não ms disse : “Sou tua”.
19 de junho
Em baixo de uma fotografia a persa escreveu, uma frase. Que delicadeza!
Coloquei-a nu’a moldura de prata, na minha escrivaninha.
Tenho um amigo poliglota. Podia fazê-la traduzir por ele. Mas se fosse uma frase estúpida?
CAPÍTULO TERCEIRO
Que seja o capítulo terceiro ou quarto não tem a menor importância, visto que não numeramos os precedentes. O essencial é que seja o último.
Uma noite, a bela persa autêntica de Teerã, que o barão Flávio Santelso amava “como nunca amara nenhuma outra mulher”, quis fazer-lhe uma surpresa.
As mulheres fazem muitas vezes e de bom grado surpresas, e admiram-se de que nós nem sempre mostremos entusiasmo pelos seus achados. Elas julgam que, pelo simples fato de provir das suas mãos ou dos seus cérebros, uma coisa ou uma idéia deve encher-nos de felicidade.
A gente abomina as bengalas com castão de prata. Diz-lhe. Ela dá-nos de presente uma bengala com castão de prata e fica certa de que a gente gostará só porque foi ela quem deu.
Se a gente não fuma, ela é capaz de oferecer uma piteira de âmbar com anel de ouro e placa com as iniciais em monograma.
És mais malthusiano do que o próprio Malthus?
A mulher não deixará de anunciar com uma alegria sobre-humana: Sou mãe!
A bela persa de olhos de fumadora de cascarilha, de passado obscuro, de vida ambígua, a mulher impenetravelmenfe taciturna, que se entregou sem simulação de defesa, sem ostentação de pudor, a mulher que tinha aros de escrava e olhar de dominadora, que com a sua entrega desembaraçada domara u’a moral, zombara de uma fé, desprezara uma literatura; a mulher do perfil clássico do Irã, que durante três meses de amor nunca lhe aguara o prazer misturando-lhe caldos literários de frases feitas, um dia, quem sabe com auxílio de quantos dicionários e gramáticas, conseguiu construir uma frase em nossa língua, e disse-a ao barão Flávio Santelso.
Flávio Santelso, no dia seguinte, na estação de Lyon, despachava duas malas de roupas e um caixão de livros e tomava um leito no carro-dormitório para Roma.
A mulher que ele amava pelo seu silêncio e que teria amado quem sabe até quando, teve a habilidade de o desencantar com cinco palavras, as primeiras e as últimas palavras que lhe disse em três meses de amor.
Para, com cinco palavras, levar um homem a abandonar de um dia para outro uma cidade onde tem bom emprego, um alfaiate que lhe fia e uma amante que não lhe custa nada, é preciso que essas cinco palavras sejam bem graves!
Por exemplo:
“És o amante da tua irmã.”
Ou então:
“Tiraste-me a honra. Casa-te comigo!”
Ou então:
“A bolsa ou a vida!”
Pois não foi nada disto!
A persa disse-lhe qualquer coisa muito pior, muito mais repugnante para um homem de espírito! Disse-lhe as tradicionais palavras que dizem todas as amantes sinceras, damas aristocráticas, professoras, telefonistas, dactilógrafas, atrizes:
“Amar-te-ei...”
(Dá-me náusea reproduzi-la.)
“Amar-te-ei por toda a vida.”
UMA “GARÇONNIÈRE” E TEU CORAÇÃO
Fora sempre fiel ao marido, porque a infidelidade traz complicações incômodas que nem sempre vale a pena enfrentar. Contudo, nunca fugira do amor... Só repelem o amor as mulheres que o amor repele; fazem como os autores dramáticos que o público pateia em todas as novas estréias, e que dizem: “Eu trabalho pela arte; não faço questão de aplausos...”
Um rapazelho terno, a quem bastava depilar o rosto róseo uma vez por semana, apaixonara-se por ela como é costume apaixonar-se a gente aos dezoito anos, quando não se tem o senso da medida e das proporções. E oferecera-lhe a sua juventude, o melhor dom que se possa oferecer a u’a mulher, depois do dinheiro. Talvez a sua frescura inexperiente tivesse podido dobrar a inflexível senhora, se ele não cometesse o erro de implorar com doce timidez, com lacrimosa cortesia. A mulher nega-se sempre aos que a suplicam, julgando que para tê-la deve-se merecê-la, ser digno dela, e fazer tudo, menos uma coisa, a única que, em verdade, se deve fazer: tomá-la.
Alguns anos depois o rapazelho se tinha tornado menos rapazelho e menos tímido, e voltara com maior audácia a lançar a própria candidatura ao seu amor; mas, inutilmente. A gente conserva sempre aos olhos da mulher o aspecto sob que se apresentou a primeira vez. A primeira impressão é a única que vale. Não basta ser temerário alguma vez; é preciso tê-lo sido sempre. Não se conquista u’a mulher se não a dominamos desde o primeiro momento. Acontece como nos duelos a arma branca, para quem, tendo recebido uma preparação apressada, só conhece um golpe. Se não acerta da primeira vez que o tenta, não o tente de novo, e resigne-se a perder.
O segundo homem que atentou contra a sua integridade de mulher honesta e fiel foi um que tinha todos os requisitos para triunfar. Entre outros, aquela dose exata de estupidez que é indispensável para ter sorte com as mulheres. Mas cometeu um erro. Um grave erro. O de prometer-lhe amor eterno.
Em 1920 não há mais uma única mulher que deseje o amor eterno, nem mesmo entre as que sempre viveram em cidades de menos de 50.000 habitantes. O amor eterno, com todas as suas ignóbeis complicações de fidelidade, de ciúme retrospectivo, de sinceridade absoluta, é um programa desanimador. À mulher de hoje não se prometem amores a prazo longo, mas aventuras de rápida solução. Se se quer ter certeza de sucesso, acabada a declaração de amor e a comovente peroração, é preciso concluir:
“... e depois te deixarei em paz; não te importunarei mais; seremos dois bons amigos, se quiseres; se não quiseres nem isso, farei que nunca mais saibas notícias minhas..”
* * *
Assim disse, com efeito, à senhora o pintor escandinavo Schfernzhk (pronuncia-as Sehfernzhk).
Entre o dia em que as mulheres nos advertem: “És ainda demasiado jovem” e aquele em que nos desenganam: “Já és demasiado velho”, medeia apenas um momento. Naquele momento preciso da sua vida se encontrava o pintor Schfernzhk quando fez a corte à senhora, cujo nome calaremos. Neste gênero de história nunca se é suficientemente discreto, ainda que, como no caso atual, a mulher nunca tenha existido.
A senhora *** era esposa do professor ***, docente de glotologia, membro de várias academias, e autor de muitos quilogramas de obras eruditas. Os estudiosos deste gênero são criaturas que trabalham toda a vida na solução de nós que ninguém tem interesse por ver desatados; gente que perde os anos e a vista em roda de um pergaminho, uma epígrafe ou um terceto, publicando volumes, sem que a civilização, a arte, o pensamento avancem um milímetro. São como aqueles velhos copeiros de café que percorreram milhares de quilômetros, sem nunca terem caminhado cem metros no mundo.
O marído-professor não era homem divertido. E muito menos belo: tinha a orelha pitecóide como Mário Bonnard, e possuía enorme nariz, barriga grande e pés pequenos. Parecia a imagem de um homem normal refletida por um daqueles espelhos convexos em que ficam desmedidamente aumentadas as partes do centro e do primeiro plano. Usava sempre uma gravata de um amarelo sensacional. U’a medalha de ouro com a efígie do penúltimo papa que lhe pendia sobre a região abdominal.
Não enganar um homem como aquele teria sido ofender a Deus.
O professor *** era feio e repugnante, não porque fosse professor nem porque fosse marido, mas porque era assim mesmo. É bom desfazer os equívocos. Contra os professores e contra os maridos eu não tenho prevenções. Pelo contrário...
Ele não era muito pródigo de ternuras para com a mulher. Ministrava-lhe o amor metodicamente, a colherinhas. E conquanto a senhora fosse de sobriedade exemplar, aquele amor para crianças não lhe bastava.
O amor é determinada quantidade de matéria imponderável, invisível, que se acumula em certos indivíduos quando encontram certos outros do sexo oposto, e que se vai esgotando durante o período da relação. Uma vez esgotada, não há mais maneira de fazer novo sortimento, de regenerá-la. Um amor defunto não ressuscita. Quando ressuscita é porque não era defunto.
O professor, quando era moço — os velhos professores também já foram moços, alguma vez — tinha amado muito a esposa juveníssima; agora, porém, tinha consumido a sua provisão de amor.
Mas a provisão de amor da mulher estava ainda intacta. E porque estava intacta desde muito tempo, um belo dia ela sentiu a necessidade de dissipá-la. O amor e a beleza são como o dinheiro, que só vale na medida em que se gasta ou se dá.
O pintor Schfernzhk chegou exatamente no momento em que a senhora, enfastiada do marido, se dispunha a gastar todas as suas riquezas românticas.
Chegar a tempo. Eis o segredo. A ocasião faz o homem furtar e a mulher deixar-se furtar.
* * *
O acaso, essa combinação de circunstâncias fortuítas que os otimistas chamam sorte e os paralíticos chamam destino, fez encontrar-se a senhora *** e o pintor escandinavo num daqueles salões de arte e de literatura. Os salões chamados intelectuais.
O pintor vestia trajo esportivo de lã cinzento-clara, com grandes bolsos em sanfona e cintura estreita, e tinha em sua companhia um cão de focinho preto, comprido e fino como uma pistola Browning e o pescoço imobilizado numa coleira larga, como aquela que usa eternamente Clementina da Bélgica.
A senhora estava vestida de vermelho e negro como um vaso etrusco, e uma grossa coroa de rosário, antiga, de marfim, marcava-lhe a linha equatorial em torno da cintura.
As pernas — será preciso dizer? — eram modeladas por meias de seda, lúcidas e transparentes como alusões.
A senhora elogiou os quadros do pintor, que nunca tinha visto; o pintor elogiou a senhora, cuja beleza e elegância tinha mil vezes admirado, se bem que a visse por primeira vez naquele dia. A senhora, com licença da dona da casa, ofertou um pouco do seu chá com leite e biscoitos ao cão, que em menos de trinta segundos “mostrò quanto potea la lingua nostra” (é preciso citar de vez em quando os grandes poetas!)
* * *
Esgotadas as bebidas e as conversas, o pintor, o cão e a senhora saíram. No auto a senhora disse que seu marido, o professor de glotologia, era para ela uma daquelas sombrinhas que não são nem guarda-sol nem guarda-chuva, que os franceses chamam “en-tout-cas”, porque se usam quando faz bom tempo, quando chove e, nos casos intermédios, servem para apoio ou para se enxotarem os bichinhos que surgem na estrada.
Mas que, apesar de reconhecer quanto é útil um marido, ela não o amava.
Declarou ao pintor que estava disposta a conceder-lhe a sua amizade. Quando u’a mulher oferece a sua amizade, é como se entregasse a chave do seu cofre sentimental .
O cão conservava discretamente o focinho fora da portinhola.
* * *
O professor tinha a sensação de não ser o amante ideal da sua esposa. Compreendia que tinha direito ao seu amor. Sentia-se como aqueles passageiros que têm bilhete de terceira classe e sentam na primeira, um pouco sobre a beira do banco, com o olhar no corredor, esperando de um momento a outro que um passageiro de acordo com o regulamento ou um fiscal o ponha para fora. E até se admirava de já ter conseguido safar-se num tão longo percurso. Mas não sabia, contudo, dominar o seu ciúme.
— Meu marido é desconfiado como um guarda de alfândega — dizia no dia seguinte, num café ao ar livre de Vila Borghese, a senhora bela e elegante ao pintor escandinavo —. Seria capaz de me espiar, de fazer-me seguir por um polícia particular. No palacete em que você mora não há u’a modista, uma adivinha, u’a manicura. Como se pode, sendo moço e interessante como você, morar numa casa em que não existe nem ao menos um consertador de porcelanas quebradas?
— E se eu encontrasse um apartamento escondido, quase seguro, você iria lá?
— Não digo que não.
— Mas tampouco diz que sim. Iria?
— Iria.
— É muito difícil, você sabe, encontrar-se casa neste momento. O meu amigo Toddi, para encontrar quarto, perguntou à delegacia o endereço de um sujeito que se enforcara ontem de manhã. Este era só no mundo — pensava Toddi —. Deixará livre um apartamento... Mas na delegacia informaram-lhe que o tal senhor se enforcara por não poder achar casa.
— Um homem que ama vence todas as dificuldades.
— Até as urbanísticas?
— Experimenta.
E o pintor escandinavo experimentou, publicando num jornal da manhã um anúncio:
“Garçonnière” elegante, banho, duchas, luz elétrica, calefação. Senhor sério procura. Ofertas a...
E esperou três dias inutilmente. Os anúncios nos jornais da manhã são ineficazes porque, julgando que todos os outros os leiam, ninguém mais os lê.
Um amigo deu-lhe um endereço. Correu para lá.
A casa não teria sido inaceitável se na arquitrave não houvesse gravado um augúrio: “Pax huic domui et omnibus habitantibus in ea”.
Como é que se vai convidar u’a mulher para fazer uma loucura numa casa tornada funesta por uma inscrição latina?
* * *
Transcorreram muitos dias e em cada um deles a senhora perdia uma partícula de confiança na perspicácia do jovem pintor. Mas, antes que tivesse o tempo de perdê-la toda, aconteceu um fato novo no seu “ménage”: o professor, antes de sair para a universidade, recebeu um telefonema anônimo (a carta anônima pertence já à pré-história da denúncia) em mau italiano, com sotaque estrangeiro.
E à tarde o pintor escandinavo, mergulhado numa poltrona macia, no quarto de dormir da senhora, escolhia um cigarro perfumado numa grande caixa de cristal, em que se confundiam os loiros “Gold Flake” e os delicadíssimos “Kaliniki”, enquanto a senhora queimava uma barra de resina odorífera bengalesa, sorrindo de admiração satisfeita pelo audaz e bizarro expediente do setentrional enamorado.
O quarto era num estilo indeciso entre o Luís XVI e o Império. Nos espaldares das camas irmãs, dois pares de pombas em alto-relevo beijavam-se com desolação, como se lamentassem não ter pedido um emprego no Departamento dos Correios e Telégrafos, na qualidade de pombos-correios.
A senhora tinha os olhos azuis como a chama do ponche. Era a primeira vez que o pintor lhos contemplava de só a só.
Que teria acontecido depois naquela casa, não ss sabe. Provavelmente terão fincado aquilo que Sainte-Beuve chama o prego de ouro da amizade. Talvez não tenha acontecido nada. A senhora era sentimental como uma garrafa de água mineral, apesar de trazer o rótulo de licor venenoso.
Mas o que é certo é que das quatro às sete, durante o tempo exato que o pintor passou no quarto da senhora, o seu marido, o professor de glotologia, membro e correspondente de diversas academias, armado de uma gravata de um amarelo fulminante, dava voltas, inquieto e congestionado, numa rua deserta dum bairro distante, para surpreender a mulher no momento de entrar ou de sair de alguma porta suspeita, conforme lhe insinuara o telefonema estrangeiro e anônimo da manhã.
O CENTENÁRIO
AVISO IMPORTANTE:
Esta novela não é para senhoritas.
— Há maior gozo em repelir as mulheres do que em possuí-las. As mulheres são charadas que deixam de interessar desde que as resolvemos ou se explicam por si mesmas. Entretanto a mulher é um ser tão prodigioso que, para prestar homenagem “à mulher”, nada há melhor que ter “muitas mulheres”, a fim de que a segunda assuma o valor da primeira, a terceira o da segunda. Às vezes se volta atrás, a u’a mulher passada, e presta-se-lhe imensa homenagem. Voltar a ela e perdoá-la. Perdoar às mulheres todas as culpas. Não ofendê-las, não bater-lhes; especialmente não lhes bater, porque podem gostar...
Assim disse o centenário, que na sua juventude fora incansável consumidor de champanha de mulheres.
Dele o pai dissera: “Se tiver inteligência medíocre, fá-lo-ei militar, e chegará no mínimo a coronel; se tiver muito talento, fá-lo-ei padre e chegará pelo menos a cardeal.”
Mas, como não tinha nem inteligência medíocre nem muito talento, meteu-o na diplomacia.
Durante cinqüenta anos andou pelo mundo, e foi excelente diplomata. Chegando aos setenta, depois de ter durante meio século cumprido a sua missão de falar sem dizer nada, retirou-se para um ermo, para dizer alguma coisa sem falar.
Mas para não posar de filósofo inacessível, consentia às vezes em receber, na pequena vila onde morava com um criado fiel e com as suas recordações, velhos amigos, visitantes de passagem, curiosos em excursão, desocupados “en touriste”, aos quais não negava um cálice de absinto nem um daqueles cigarros que trouxera em caixas (com franquia alfandegária) da Turquia, nem as suas reflexões sobre a mulher, sobre o amor, sobre a vida, que, como fazem os velhos, conservava imutados e imutáveis, sem deixar-lhes possibilidade de crítica nem de aperfeiçoamento.
O centenário era, na região, uma curiosidade de cartão-postal. O seu rosto magro e ressequido apresentava as asperezas, as sinuosidades, os cortes, os desvios, as crispações dos mapas geográficos em relevo. A lanugem da cabeça (não se lhe podia mais chamar cabelos) era macia como o “duvet” de uma pluma para pó de arroz. A boca exangue, os olhos pequenos, as mãos descarnadas tinham qualquer coisa de reabsorvido. Ao tocar-lhe de leve a cabeça com um dedo, parecia vê-lo retirá-la timidamente para entre os ombros, como fazem as tartarugas.
Falava mecanicamente, fumava mecanicamente. Todos os seus gestos pareciam produzidos por antiga vontade agora desaparecida, que noutros tempos tivesse comunicado o movimento. Esperava pacientemente a morte que — pensava ele — não tardaria a apresentar-se.
Tardou, porém, trinta anos. A morte, com ele, permitia-se destas demoras. Quase um século antes um médico célebre dera-lhe seis meses de vida.
Nos últimos vinte anos não tinha mudado muito. Se, com senil garridice, não houvesse tido o empenho de fazer saber a todos as suas várias etapas para os cem anos, ter-lhe-iam dado vinte de menos. Depois de certa idade os anos não deterioram mais. O tempo é um veneno a que a gente se habitua, um veneno que se assimila, que entrando na circulação deixa de fazer mal.
— Qual é o seu segredo para viver tanto tempo? — perguntara-lhe uma senhorita bastante jovem que evidentemente começava cedo a tomar as suas providências.
— Segredos, eu não conheço — respondera o centenário —. Talvez este: “Calar!” Não chamar sobre nós a atenção da morte. Não fazer barulho em torno da gente.
— Mas, para se preservar das doenças — insistiu a senhorita — que sistema adotou?
— Nenhum — respondeu o velho —. As várias doenças não são, como se pensa, forças demolidoras de diferente natureza. As doenças são como a morte, que se apresenta sob aparências diversas; a morte a que os homens, com fins comerciais, quiseram dar nome e cognome: Diabete Insípida, Pneumonia Dupla, Pleurisia Seca, Tumor Maligno, Paralisia Progressiva; mas é sempre a mesma coisa, sob nomes diversos: a morte. Eu penso que a morte se tenha esquecido de mim.
Mas esta explicação escapatória e paradoxal não satisfizera a platéia, que a todo custo queria descobrir o segredo daquela longevidade. E então começou a circular o boato de que o fenomenal velho só se alimentava de vegetais, coalhada e café.
Outros disseram que uma bailadeira lhe tinha dado uma fórmula de certas pílulas e que ele todas as noites, antes de adormecer, bebia uma infusão de algas do Mar Vermelho e do Mar de Mármara. Outros afirmaram que desde a idade dos quarenta anos tinha renunciado às mulheres. Outros ainda juravam que até poucos anos antes contava as mulheres por dúzias, como as ostras.
— Uma fleuma absoluta, uma indiferença a tudo e a todos, foi a sua fórmula — narrava um sujeito que o conhecera de perto —. Uma noite, em Paris, enquanto se preparava para um baile de embaixada, recebeu um telegrama que lhe comunicava a morte do irmão: “Comover-me-ei na volta — disse ele atirando a um lado o telegrama e calçando as luvas brancas. — Chorarei depois”.
De outra feita vira uma senhora de vastas proporções afogar-se nas águas de Deauville, e não se movera.
— Se vires alguém que se afoga — tinha avisado — não te atires para salvá-lo, porque vos afogareis juntos. Quando muito podes dar-lhes bons conselhos ou gritar-lhe sem muita severidade: “Não te disse?” ou então: “Se te acontecer alguma coisa, escreve-me!” Mas atirar-te na água, não!
— Não renunciar ao almoço por nenhum motivo — aconselhava —. Quando eu sofro, como muito bem. Os sofrimentos da minha alma e as dúvidas do meu espírito nunca tiveram a menor influência sobre o meu tubo digestivo.
— Ser impermeável — sugeria — a toda emoção.
U’a mulher que o amara muito, num dia de tormenta, depois de uma crise e de uma briga terrível, enfiara na manga uma pistola, dizendo-lhe.
— Vou-me embora.
(Pausa).
— E nem sequer me perguntas para onde?
— Não.
— Pois eu te digo: Vou para junto de Deus!
E ele respondera-lhe com calma:
— Apresenta-lhe os meus cumprimentos.
Em todas as tragédias de amor, dizia o centenário, há uma pequena porcentagem de espontaneidade, e o resto é auto-sugestão, auto-exaltação. Para não sofrer basta que se suprima — e é facílimo — também aquela pequena parte de espontaneidade. E aceitar a vida como vem, pensando que para tudo existe remédio: para o veneno, o contraveneno; para a chuva, a capa de borracha; para o casamento, o adultério.
* * *
Desde que adquirira a luz da razão, nunca mostrara a língua a um médico nem dez soldos a um farmacêutico.
— Eu não digo, contudo, que não se deve consultar os médicos. É bom consultá-los alguma vez; ouvir com atenção o que prescrevem e depois fazer escrupulosamente o contrário.
Nunca tinha imprecado contra os tempos novos para tecer o elogio dos tempos da sua juventude. — Os homens, dizia, são os mesmos no tempo e no espaço; o francês não é mais garganta que o americano, o alemão não é mais teimoso que o inglês, o grego não é mais ladrão do que o turco, a mulher russa não desenvolve mais eletricidade do que a espanhola; a moça de hoje é tão desejável como a moça de cinqüenta anos atrás (contanto que não seja a mesma). As rapariguinhas de hoje vestem roupas provocantes e escassas, que não as defendem das insídias; as do meu tempo andavam couraçadas, blindadas, calafetadas em tantas saias e camisas e corpinhos e cinturões que um agressor não seria capaz de desamarrar. Mas a simplicidade da própria vítima livrava-o de todo trabalho.
Era um velho excepcional. A morte devia, em verdade, considerá-lo ainda demasiado moço para arregimentá-lo nas suas fileiras. A sua única atitude senil era certo pendor para sentenciar, para proverbiar, para legisferar. Mas quanto espírito juvenil nas suas sentenças.
— O que nos meus tempos era atrevido, agora é “démodé”, chato, provinciano, hipócrita. O que então parecia indecente, hoje é até monacal. O valor das coisas depende do modo como se olha para elas. Recordo o barulho que houve em Londres por causa da primeira senhora que fumou em público. Queriam linchá-la. Agora quase todas as senhoras fumam; e fazem bem: todas deviam fumar, que assim evitariam que os maridos suspeitassem, alguma vez, do cheiro de outro homem nos seus lábios.
* * *
Um dia quatro senhores subiram ao ermo do velho, para comunicar-lhe que um grupo de amigos e de admiradores queria festejar o seu centésimo aniversário com uma recepção no Hotel Mum.
— É uma loucura! — protestou ele —. A minha casaca dorme há trinta anos e não sairá à luz a não ser para vestir o meu cadáver. A morte foi gentil comigo. E, como fiz com todas as mulheres que foram gentis comigo, quero apresentar-me à morte em trajos de sociedade. Mas até esse dia, deixá-la-eis em a naftalina. Depois, acho-me tão bem aqui em cima, que me aterra a idéia de descer à planície, à cidade.
— Levá-lo-emos de automóvel.
— Odeio o automóvel; nunca andei nele, e não quero começar no dia em que completo cem anos, no dia em que devo criar juízo. Dá-me calefrios pensar em ver muita gente, ouvir discursos, responder sinceramente comovido... Ah, não, não! Rogo-lhes, senhores, que não insistam. Já o disse mil vezes: não quero que se faça barulho em torno de mim, para não chamar a atenção da morte. A gente se habitua a tudo, até à vida; e, por fim, cria-lhe amor. Quem bebeu — dizem os franceses — beberá. Eu quero viver ainda.
Mas os quatro senhores insistiram, implacáveis. As manifestações, os festejos são feitos para festejar não o festejado, mas os festejadores. Os quatro senhores insistiram tanto que o velho achou menos fatigante anuir que esquivar-se.
E anuiu. Três dias após, o criado tirou da cânfora o trajo preto, de talhe um pouco antiquado, ajudou-o a vestir (estranho! ficou comprido!) cortou-lhe as unhas, reeducou-lhe com um golpe de ferro quente os bigodes pantanosos, e, finda a “toilette” do condenado, consignou-o aos quatro senhores que o vieram procurar num carro de cavalos, com rodas de borracha.
Automóvel, não!
No Hotel Mum reunira-se toda a aristocracia: diplomatas, generais, velhas senhoras (os diplomatas, os generais e as velhas senhoras fizeram-se expressamente para estar juntos, e nas listas são colocados nesta ordem); deputados, senadores, um ministro, um subsecretário, um intendente, fotógrafos, atrizes, mulheres à busca de emoções e virgens desiludidas.
Abundante iluminação.
Baixela e vasilhame das ocasiões memoráveis.
Orquestra.
Flores.
Ventiladores.
Bebidas quentes e frias, com ou sem canudo.
Muito artigo de beber.
Muito artigo de comer.
O centenário chegou apoiado pelos quatro senhores, e, para começar, teve de fazer 375 mesuras e apertar 375 mãos de ambos os sexos.
Depois teve de suportar oito discursos de oito senhores que o conheceram meio século antes em Calcutá, em Boston, em Vladivostock. Três lugares onde nunca estivera.
E teve ainda de responder que se lembrava muito bem de os ter encontrado.
Findos os discursos, espicharam-no em uma poltrona com um ventilador na nuca e um na fronte, enchendo-o de augúrios e cortesias várias.
No ar flutuava uma grande jocosidade. Uma senhora de oitenta anos sentia-se pouco mais que adolescente ao lado dele.
Todas as belezas passadas julgavam-se ainda passáveis.
As senhoras de sessenta anos esvoaçavam. Algumas “cocottes” de polícia rural sentiram-se ainda capazes de corar.
Os violinos esganiçavam-se sinistramente. O pobre velho teria dado dez anos da sua vida (se os tivesse ainda) para não ser empanturrado com todas aquelas gentilezas a som de música, em meio das quais fazia esforços de orelhas e de faringe para entender as perguntas e formular as respostas.
Ao ver aquele velho, tinha-se a impressão de estar em frente de um homem ressuscitado. Uma senhorita intelectual e hipersensível pediu-lhe a sua opinião sobre o gramofone, o cinematógrafo e o aeroplano, e quis saber alguma coisa inédita sobre os amores do Rei Sol com a belíssima La Vallière.
Ele respondeu cortesmente que as suas recordações não chegavam até àqueles tempos, mas que em Veneza, no Hotel Danielli, fora vizinho de quarto de George Sand e Alfred de Musset; disse que guardava um sapatinho de Adelina Patti, um laço da Ristori, uma carta de Bela Rosin, e um fio da barba de Victor Hugo.
Os violinos recrudesciam.
Uma velha bailarina, a decana das alcovas, que se transformara automaticamente em pia senhora caridosa, perguntou-lhe de que modo se chega a centenário.
— Se os meus cálculos são exatos, — respondeu-lhe o homenageado — a senhora tem setenta e dois anos. Pois, para chegar a centenária não tem que esperar mais de vinte e oito anos.
Que coisa terrível o tempo! Esta força, esta gangrena que muda, transforma, estraga tudo em nós. Aquele homem que fora belo como Antinous, que todos os dias, graças à sua beleza, tivera mulher diversa nas garras, estava reduzido a u’a matéria efêmera, transparente, amarelada, empoeirada como uma decrépita garrafa de uísque.
— E o senhor foi feliz na sua vida? — perguntaram-lhe.
— Não. Só são felizes os otimistas, isto é, os imbecis, os que crêem na honestidade dos homens e das mulheres, que acreditam em Deus, na recompensa do justo e no castigo do mau. Deixam-se roubar a carteira e juram que a esqueceram; a mulher pega-lhes sífilis e crêem tê-la adquirido bebendo, no café; e depois de terem sofrido de tabes por dez anos sem blasfemar, morrem felizes e convencidos de que assim conquistaram o bilhete de ingresso naquela estação hidroterápica, naquela Aix-les-Bains ideal que deverá ser o Paraíso!
Depois lhe ofereceram ainda biscoitos.
— Isto não pode fazer mal!
E bebia:
— Para fazer descer os biscoitos.
A orquestra tocou os “Lombardos na primeira Cruzada” (música da época. Que delicadeza!)
Chegaram novos convidados retardatários. Novas mesuras, novos cumprimentos, novos apertos de mão e novos: “Ah, sim, lembro-me perfeitamente!”
E por fim chegou a hora de se dissolver a “simpática reunião”.
O centenário apertou de novo as 375 mãos, a que se tinha acrescentado um suplemento de outras vinte e cinco.
Ouviu dizer por quatrocentas pessoas: “Cem destes dias!” ele que durante cem anos nunca tinha ouvido tal agouro, e que talvez por isso mesmo chegara a tão invejável (ou pouco invejável: como quiserem) idade.
Até os músicos lhe apertaram a mão.
Até os copeiros, por bom agouro.
Uma dúzia de aparelhos o fotografaram ao resplendor do magnésio.
O centenário agradeceu com entusiasmo a todos os seus algozes e confessou que estava um tanto cansado, e que desejava uma cama para repousar meia hora.
Deram-lhe um quarto no hotel mesmo.
Fez diminuir a luz e adormeceu. Não tirou a casaca nem deixou que lha tirassem.
— Quero ser enterrado de casaca.
* * *
Antes do anoitecer o centenário morria, e no dia seguinte o cadáver era transportado, em carro fúnebre automóvel, do hotel luxuoso da grande cidade para o pequeno cemitério da aldeia.
Era a primeira vez que o centenário andava de automóvel.
E assim termina a história, sem incestos nem adultérios.
Aliás, tive a lealdade de declarar desde o princípio que esta novela não era para senhoritas.
ENGANA-ME BEM
Introdução em que se conta de u’a mãe exemplar que, antes de dar marido à filha, experimentou-o em si mesma durante cinco anos.
Depois de uma troca de cartinhas educadas, polidinhas e esterilizadas, ficaram noivos.
E, não contentes com ter ficado noivos, casaram-se também.
Finda a cerimônia, ele meteu na valise a coroa de flores de laranjeira, a “tradicional pena de ouro”, o caderno dos endereços, a quem mandar cartões-postais ilustrados, um frasco de ácido acético (ótimo antifecundativo: uma colherinha num litro de água) e o passaporte.
E partiram para Paris.
É uma péssima idéia, para quem se casou em Turim, fazer a viagem de núpcias a Paris. Conservar o desejo durante 800 quilômetros, sem encontrar uma cidade intermediária onde parar para satisfazê-lo. Há o carro-dormitório é verdade. Mas para fazer o amor em carro-dormitório precisa-se estar habituado. Serve para os amantes, não para os casados. Para se amar naquela cama tão estreita é indispensável ter adquirido certa habilidade.
Dois esposos que quisessem começar em carro-dormitório, seriam como um que pretendesse, da primeira vez que sobe numa bicicleta, andar logo sem se agarrar.
A primeira noite em carro-dormitório é recomendável para aquelas noivas, os 90 por cento das senhoritas, que não estão seguras da integridade dos próprios selos. Para um homem, porém, não há vantagem. Ah, talvez esta: que arrombando uma virgindade (como assassinando um viajante) o barulho do trem abafa os gritos e permite depenar a senhorita sem fazê-la gritar.
A senhorita Susana (a noiva) não tinha tentativas de furto que esconder. Podia muito bem exibir os seus documentos à luz do sol, ou dos cintilantes lampadários de um quarto do “Hotel des Grands Boulevards”.
O senhor Luciano Sangallo (o noivo) não dava à operação maior importância do que à de despostar um frango assado. Mas tanto no caso do frango assado (coisa que todos sabem fazer) como no da senhorita, precisa-se ter certa delicadeza para não ser vulgar.
Delicadeza e prática não lhe faltavam. Tinha perto de quarenta anos, vinte e cinco dos quais consagrara às mulheres. Tivera bailarinas, daquelas que agradavam aos nossos avós e rodavam sobre as pontas dos pés; daquelas que, distendendo as pernas, deixam-se escorregar como um compasso aberto até tocarem o pavimento com o osso publiano (os nossos pais ficavam malucos); daquelas que dançam danças modernas de vários nomes exóticos, mas que se poderiam resumir sob uma denominação genérica: tentativa de coito musical.
Porém, as bailarinas, as “chanteuses”, as excêntricas não o tinham satisfeito, porque na intimidade não lhe davam a ilusão que prometiam da ribalta. Bastantes vezes, no quarto delas, tinha visto u’a meia com a bola de madeira na ponta, e uma agulha enfiada num remendo. Bastantes vezes a mulher tivera que se erguer da cama para ir ao quarto contíguo embalar o filho que com inoportuno berreiro perturbava a mãe laboriosa no exercício das suas funções.
Tivera inúmeras mulheres. Daquelas magras, nervosíssimas, que envolvem a gente com os membros delgados como se dessem chicotadas; daquelas gordas, furiosamente animalescas, que nos dão a sensação de ir de encontro à vela enfunada de uma embarcação. Tivera histéricas, com as quais é prudente conservar o revólver debaixo do travesseiro; frígidas, que enquanto se deixam possuir combinam mentalmente chapéus e vestidos; sentimentais, que no momento mais difícil falam ternamente de morrer... Tivera bolonhesas, que gozam a fama usurpada de refinadas e perversas; romanas, que simulam com verossimilhança estereoscópica o ciúme; árabes que não têm sífilis, mas a transmitem. Conhecera senhoritas bruxelenses que ao homem que as viola, isto é, que as põe em estado de funcionar, dizem: “Obrigada, prestaste-me um serviço; sou-te reconhecida”. Tivera u’a monja que ao redor do corpo nu queria conservar o cinto embolotado com o crucifixo pendente. Tivera mulheres honestíssimas, que se dão unicamente por amor, mas que o lesaram financeiramente mais do que as caras “cocottes”, pois o amor das mulheres desinteressadas é como a hospitalidade de certos grandes senhores que arruinam os convidados em gestos de reconhecimento e em gorjetas para os criados.
Nenhuma das suas incalculáveis amantes lhe dera a felicidade. Os naturalistas dizem que o homem diferente dos outros animais que têm o cio em épocas fixas, está constantemente disposto a oferecer a u’a mulher a coisa em que “rêvent les jeunes filles”. Isto será verdade em teoria. Mas no cio dos homens existe nuanças: o homem não deseja em maio, como os burros, ou em fevereiro, como os gatos, mas deseja em certos momentos do dia e da noite. Certos momentos que não são nem as 7:20 nem as 11:51, nem meio-dia menos cinco. São arrepios que não vêm a horas certas como o apetite, o sono e o correio, mas se fazem sentir com intervalos, a horas imprevisíveis. Ter sorte com as mulheres quer dizer fazê-las cair facilmente, mas fazê-las cair não é uma operação simples como acender um cigarro quando se têm cigarros e fósforos e não há vento. Para fazer cair u’a mulher é preciso dar-se-lhe o tempo de mudar a camisa, de tomar um banho, de inventar uma desculpa para o marido, para a mãe, para si mesma. Às vezes precisa-se esperar um dia ou dois para dar à sua consciência e à sua dignidade a ilusão de não ser presa fácil. Em suma é preciso um período preparatório, durante o qual o desejo do conquistador deixa de ferver.
Quando chega o momento em que a mulher se entrega, ocorre muitas vezes que o homem não a deseja mais, ou não a deseja como antes. Mesmo aquele que todos os dias pode hospedar nos seus braços um novo mamífero, não é completamente feliz, porque quase nunca lhe acontece hospedá-lo no momento exato em que isso lhe seria mais agradável.
Depois de longa experiência de mulheres e de amores ocasionais, o homem quase sempre acaba comprando mulher permanente. Seja concubina, seja esposa, a coisa não muda a não ser aos olhos dos frescos. Talvez, para quem faça questão de distinguir, haja esta diferença: que à concubina somos sempre nós que sustentamos, ao passo que a esposa às vezes nos sustenta.
Prover-se, pois, de mulher. Ou antes, de fêmea. Uma fêmea para ter sempre consigo. Um recipiente gracioso para ter sempre à disposição dos próprios entusiasmos.
Nós nos habituamos a idealizar a mulher, a imaginá-la como uma portadora de bem-estar ideal em nossa vida. Ah! ilusões, ilusões! Se cada um de nós olhasse de perto que coisa é para o seu amigo, o seu parente, o seu semelhante, que coisa é para ele a mulher, veria que não é nada mais que um instrumento opoterápico mais ou menos de precisão que serve para calmar nele a febre cotidiana produzida pelo envenenamento cotidiano que lhe produzem as suas próprias glândulas.
As glândulas dão-nos uma exaltação interna (a que nos estimula ao trabalho, à luta, à criação); mas para realizarmos o trabalho, para nos atirarmos à luta, para nos dispormos à criação, é necessário que essas glândulas sejam esvaziadas.
É um paradoxo fisiológico.
Um contra-senso psicofísico.
O morfinômano é exaltado pela morfina que lhe dá um bem-estar efêmero. Quando a morfina está no corpo, dá origem à apomorfina, um veneno que abate. Para combater a apomorfina não há mais que a morfina, que por sua vez se torna em apomorfina e reclama nova ingestão de morfina...
O amor é veneno ainda pior, mas tem a mesma linha de conduta. O desejo exalta-nos. Mas somente quando o satisfazemos é que o cérebro começa a funcionar; e para que não pare, o desejo de mulher deve recomeçar.
E a rotação continua.
O mais belo soneto, a mais bela teoria, a solução mais genial, a mais inesperada decisão só saem do cérebro de um homem quando a sua virilidade está saciada.
A saciadora da virilidade é necessária ao homem em todos os momentos de sua vida. Eu que fui um maníaco do amor puro, eu que sonhei, durante anos e anos, o amor das almas, à força de observar de perto os amores dos homens, cheguei a não ver na mulher mais do que órgãos, mais ou menos polpudos, a que estão ligados pernas, tórax, braços, cabeça, cabelos. Mas pernas, tórax, braços, cabelos não têm importância; são elementos decorativos; são órgãos complementares, acessórios que servem para transportar para junto do macho aqueles outros órgãos específicos que são os únicos que têm importância.
Um homem que passa, de automóvel. À sua esquerda u’a mulher.
Todos vêm u’a mulher.
Eu, outrora, não via mais do que uma alma. Hoje não vejo mais uma alma. Não vejo sequer u’a mulher. Vejo unicamente órgãos femininos que viajam ao lado dele. E estes órgãos, vejo-os na sua brutal mas não impudica simplicidade; vejo-os não como os pintam, idealizando-os, os romancistas, os poetas, e os pintores; mas como no tratado de anatomia de Testut, no atlas de Spalteholz. Nada de poético! Uma brutal simplicidade: “columnae rugarum”, músculo não sei de que, glândulas de Bartolini... Um aparelho pouquíssimo complicado, que aquele homem carrega consigo, como carrega o revólver, a cigarreira, a escovinha de dentes.
Mas nada de belo, de excitante, de literário! Nada de afrodisiacamente imoral!
É uma coisa vulgar como tudo que é indispensável. Trata-se apenas de alguns órgãos que em a necropsia aparecem não maiores que um punho, pesam menos de meia libra e fazem viver os joalheiros, os alfaiates, os negociantes de peles; que fazem funcionar os bancos, que movem os milhões, que comunicam a energia ao mundo.
Eu pergunto a mim mesmo que seria a poesia se nunca tivesse existido o útero, que seria a moral, como seria organizada a sociedade se o roçar de encontro às “columnae rugarum” não desse cinco minutos, e às vezes menos, de prazer.
E ainda há u’a maioria que não compreende este segredo elementaríssimo do mundo, da moral e da sociedade, e tem ainda a força de sonhar.
Oh, é triste, muito triste não se poder mais sonhar!
* * *
O senhor Luciano Sangallo compreendia que, aos quarenta anos, para estar tranqüilo, precisa-se ter três comodidades: uma navalha de segurança para poder barbear sem aguardar a sua vez no barbeiro; u’a maquinazinha elétrica, de escritório, para fazer o café quando se tem vontade; e u’a mulher em quem derramar a própria ternura quando o cotidiano excesso de vida dá incômodas inquietações.
E por isso comprou a navalha (30 liras), a máquina (165) e a mulher. Esta foi a compra mais conveniente, porque não teve que desembolsar dinheiro; ainda lhe rendeu um milhão e meio. O pai da esposa era um industrial muito rico que faliu nove vezes, e só esperava a décima para se retirar dos negócios, com alguns milhões de renda.
* * *
Luciano sempre fizera o elogio da mulher infiel, indomável, inaferrável; a única espécie de mulher capaz de produzir vertigens, e de se fazer amar como só se amam as coisas fáceis de se perderem. Mas acabou casando-se com u’a menina casta.
Em cada um de nós, empenhados em zombar da moral sexual corrente, que impõe a fidelidade à esposa e a pureza à donzela; em cada um de nós que não temos no mínimo apreço a castidade e que juramos não exigir da nossa esposa que seja virgem nem que se nos conserve fiel; em cada um de nós, demolidores da moral, existe, por vício atávico, um loiro sentimental capacíssimo de sentir ciúmes, e de sonhar com u’a mulher para nosso uso estritamente pessoal.
Pois bem, nós que nos rimos das mulheres chamadas honestas; nós que motejamos as virgindades de saca-rolhas; nós que tecemos os louvores do adultério; um dia contentaremos aquele sentimental que dorme em nós, e casaremos com a gansinha branca, com a virgindade de cimento armado, não corrompida pelas más leituras. E então gozaremos da “Fidelidade” de que fizemos troça, depois de ter destampado por nós mesmos aquela garrafa de “Virgindade” insípida como uma garrafa de água mineral.
Depois de por anos e anos ter desprezado a moral e os seus frutos (virgindade, castidade, fidelidade), havemos de recolhê-los, esses frutos, para nosso uso e consumo.
E desse modo teremos emporcalhado pela segunda vez a moral.
Nós que sentimos repugnância pelo código que pune a adúltera e que mil vezes pusemos, como os tordos, os nossos ovos no ninho alheio, se um dia soubermos que nossa mulher está em casa de um amante, chamaremos o delegado da Segurança Pública e invocaremos em nosso favor aquela lei esdrúxula que pune o adultério.
Depois de ter rido da lei, nos serviremos dela, exigindo-lhe tudo o que pode dar.
E desse modo teremos desmoralizado por segunda vez também a lei.
* * *
A esposa (20 anos) tinha os lábios pintados por aquela grande artista que pinta em junho as maçãs. Era de uma ingenuidade mamadeiral. Acreditava ainda que o amor fosse uma troca de cartões-postais ilustrados. Tocava piano, no sentido senhoritesco da expressão, e sabia que “enchanteur”, “pêcheur”, “vengeur” fazem no feminino “enchanteresse”, “pêcheresse”, “vengeresse” .
Gostava daqueles cartõezinhos em que está escrito:
+
QUE
ONTEM
—
QUE
AMANHÃEra estúpida e boa como um torrão de açúcar. Por um nada punha-se a chorar como o cervo nos livros dos poetas.
Ia para o campo em Robecco sul Naviglio, e não invejava as amigas que passavam o verão no Lido, em San Sebastian, em Ostende.
Era daquelas raparigas que, quando um homem as cumprimenta na rua, não o olham de frente, mas respondem baixando a cabeça, fixando o olhar para a frente, com o movimento daqueles fantoches de porcelana que sempre fazem “sim”, e que os chineses põem na mesa das suas esposas para ensinar-lhes a divina virtude da complacência.
Usava sapatos plantígrados, de saltos baixos, e não sabia que a mulher “não produz, sobre um civilizado, impressão francamente erótica, se os saltos dos seus sapatos não formam um ângulo de dez graus com o solo”.
Lera os romances em que se conta de raparigas violadas num campo de trigo e que ficam logo grávidas. Coisas que narram os romances de há cinqüenta anos e as mães de hoje para assustar as meninas inexperientes. E enternecera-se com as histórias daqueles reis que para conseguirem o amor de uma donzela dirigiam-se a elas vestidos de peregrinos. Tristes tempos aqueles! Hoje os reis mandam simplesmente à casa da donzela os seus ajudantes de campo, com um cheque fechado num envelope com coroa.
Era daquelas virgens que não compreendem quanto sejam inúteis a sua juventude e a sua graça, se não as utilizam. Nelas o prazer está latente como a chama no fósforo, como na partitura está latente a música, a qual não existe enquanto não se abre o livro transportando-a para um instrumento. São como livros de músicas fechados.
Desprezava as mulheres sem preconceitos. Uma senhorita que despreza uma “cocotte” é como um reformado que despreza um herói.
Todos os dias, ao escurecer, ia a passeio com uma tia resmungona, pela Rua de Roma e Praça do Castelo, recolhendo as admirações dos imbecis elegantes e dulçorosos que estacionavam na porta de Bass e diante da Casa Baratti.
Mas ela caminhava com passo solene, orgulhosa da própria pureza, orgulhosa de conduzir a passeio, entre tanta corrupção, a sua regularmente menstruada virgindade.
* * *
A primeira vez que Luciano Sangallo se aproximou, ela falou-lhe das estrelas. Sangallo não conhecia outras estrelas que as dos teatros de variedades.
— Tu devias casar-te com minha filha — propusera-lhe a senhora —. É a mulher feita para ti.
Luciano pediu algum tempo para refletir, mas nào refletiu, porque a sua decisão já estava tomada, desde que ouvira a proposta.
Casar com a filha da sua última amante era um voltar atrás no tempo, realizar um milagre que não é possível nem a Deus! Voltar atrás no tempo! Apertar nos braços u’a mulher de vinte anos (Susana) que lhe aparecia como devia ser, vinte anos atrás, a mãe de quarenta.
É preciso ter tido u’a amante velha para compreender estas coisas. Pensar na decomposição daquele corpo que nós amamos ainda, conquanto estragado, e que outros amaram dez, quinze, dezoito anos antes de nós, quando ainda tinha frescura, graça, juventude, vida, quando não tinha necessidade de massagens noturnas para nivelar as rugas, de “henné” para esconder os cabelos brancos, de carmim para acender os lábios apagados. É preciso ter tido u’a amante velha para compreender como desejaríamos possuir-lhe a filha, para percorrer com ela o caminho que a mãe percorreu com outro, com outros. Possuir a sua filha, para contemplar a reprodução daquele rosto que fomos conhecer demasiado tarde, quando os beijos dos homens e as mordidas do tempo já o tinham devastado. É preciso ter tido u’a amante velha para compreender quanto se sofre revendo a sua imagem de há vinte anos, em nossa imaginação ou num álbum de retratos, constituindo a crono-história e a inconografia dos seus múltiplos amores.
Luciano Sangallo folheava o álbum dos amores da quarentona Clotilde.
Viareggio, 1907. Era a amante de um tenente da marinha, a quem ia levar a bordo o desabafo da sua volúpia. Como era bela, então!
Sorrento, 1908. Era a amante de um magistrado velho que lhe dava dinheiro, e de um deputado clerical que a ajudava a gastá-lo. Que olhos cintilantes!
Milão, 1909. Prostituía-se a um homem influente por necessidade de carreira. Que esbeltez naquelas linhas!
Stresa, 1910. Como era elegante, e como era jovem, e como era delgada! Voltou ao oficial de marinha e ficou mãe. Enganou-o com um médico de Genebra que a fez abortar.
Londres, 1911. Tendo-se especializado em amores de rapazelhos impúberes, deram-lhe um título honorífico: “O navio-escola”.
Berlim, Palermo, Roma, Florença, Pisa, Budapeste: 1912, 13, 14. Foi amante de um aristocrata amolecido; voltou ao velho magistrado porque de novo tinha necessidade de dinheiro: enganou-o com um diplomata jovem, porque tinha necessidade de um garanhão; fez a corte a Ruggero Ruggeri, não teve êxito, e então se contentou com o seu secretário, um belíssimo rapaz. Fez a corte ao proprietário do Hotel Netuno, de Pisa, para conseguir abatimento na conta: o hoteleiro, que tinha u’a amante, agradeceu-lhe a oferta. Então ela contentou-se com o primeiro camareiro.
Milão, 1916. Tornou-se minha amante; — pensava Luciano — começava a decair.
Milão, 1917. Começava-se a adivinhar a caveira sob o seu rosto.
Milão, 1918. Está velha.
Milão, 1919. Oxigenou os cabelos.
Milão, 1920. É um cadáver ambulante.
Sim, é um cadáver, mas eu amo-a ainda. E amo-a porque, não sabendo que é um cadáver, anda ainda à procura de homens.
“Ah, poder voltar aos seus mais belos tempos — suspirava Luciano Sangallo — aos tempos do imprudente e prolífico oficial de marinha, do pródigo magistrado, do influente protetor! Apertar uma vez entre os meus braços a carne que aqueles apertaram, quando se dava generosamente a todos, por filantropia, por generosidade, por não saber dizer não!”
* * *
Assim pensava Luciano Sangallo, olhando para a sua amante, a mãe de Susana.
Esta mulher, a senhora Clotilde, tinha-o envenenado naqueles últimos anos fazendo-lhe insensatas cenas de ciúme, porque ele, sedento de juventude, recorria às vezes aos hábeis serviços de uma experimentada profissional do amor, a qual, todavia, com os seus sortilégios não conseguira nunca separá-lo de Clotilde. Não teria sido fácil. Ele amava-a demasiado. Amava-a e odiava-a. O amor e o ódio são diferentes maneiras de se apresentar da mesma paixão. Odiava Clotilde pelo seu passado de centenares e centenares de amantes a que se oferecera, impusera, vendera, quando o marido, o industrial, ainda não tinha podido reunir o núcleo de todos os seus milhões.
— Casa-te com a minha filha! Será como se te tornasses o meu primeiro amante. Eu na sua idade era assim.
* * *
Mas a senhorita Susana terá a aptidão para se tornar, como sua mãe, u’a mulher maravilhosa, u’a mulher multiplicada por si mesma?
Experimentemos!
E Luciano Sangallo experimentou.
Alguns dias depois se espalharam pela Itália qinhentos cartõezinhos duplos, concebidos nestes termos idiotas:
A senhora Clotilde Gambich e seu marido, Pedro Gambich, industrial, têm a honra de participar a V. S. o casamento da sua filha
SUSANA
com o conde Luciano Sangallo.O conde prof. dr. Marcos Aurélio Sangallo tem a honra de participar a V. S. o casamento do seu filho
LUCIANO
com a senhorita Susana Gambich.
RUA MASSENA, 8. Turim, 8 de abril de 1921. RUA ROMA, 51.
Antes de ir para a pretoria, Luciano Sangallo fez a operação que comumente se realiza antes do suicídio ou do casamento: queimou as cartas de amor recebidas desde o dia em que ficou púbere até nossos dias. Havia caixas. Ajoelhado em frente da estufa, com o rosto iluminado por aquelas chamas, parecia o califa Omar no ato de incendiar a biblioteca de Alexandria. O fogo despertava os perfumes dos velhos papéis. De um feixe de cartas derretiam-se gotas de lacre. Uma fita de seda crepitou. Flores secas estalaram. As mentiras ardiam no silêncio.
Quando a fogueira se apagou, Luciano remexeu com tenazes toda aquela cinza uniforme de mensagens idênticas, escritas por mulheres na aparência diversas.
Um fragmento de carta carbonizada em torno não se tinha queimado completamente. Luciano pegou-o entre os dedos e leu: “Eu fui unicamente tua...”
Riu. Fez uma bola, atirou-a na estufa e enfiou o fraque.
Flores de laranjeira, pretor, jantar, discursos, abraços lacrimogêneos, vestido “tailleur”, partida para Paris, como já dissemos na primeira página, que qualquer um pode reler sem aumento no preço marcado.
* * *
Quando o trem se afastou alguns metros, os noivos sentaram-se um defronte do outro. Luciano apoiando-se à haste de metal, ao assomar à janelinha para cumprimentar os parentes próximos e remotos, imprimira uma linha horizontal na palma das luvas cor de rola.
— Como são mal cuidadas estas estradas de ferro italianas! — observou a noiva.
Luciano calou-se. É entristecedor para um homem ainda que não tenha mais ilusões, ouvir começar por uma frase assim a poesia do “enfin seuls”.
“É tolinha — pensou — mas é bela. É bela como era bela a mãe na sua idade”.
Tinha, ela também, aqueles olhos cinzentos ponteados de ouro, amarelo e verde, como a aguardente de Dantzig. Tinha, também ela, tornozelos finos como pulsos e pulsos pálidos e achatados, até um pouco côncavos pela face interna e exatamente redondos pela externa, como canas de bambu.
Na cabeça, um chapéu de palha, leve.
O vestido “tailleur” fazia pensar na mãe, na senhora Clotilde, quando em 1908 fugira para a América com um atirador de laço, um vaqueiro maravilhosamente másculo, que a levara a cavalo pelas dilatadas planícies do remoto Oeste.
— Já tinhas percorrido esta estrada? — perguntou-lhe Luciano.
— Algumas vezes — respondeu timidamente a virgem, como se o noivo lhe fizesse uma grande honra em dirigir-lhe a palavra —. De passagem, quando ia a Sant’Antonino di Susa, em veraneio. E tu?
— Eu também, algumas vezes.
Tinha-a percorrido uma vez com uma senhorita da aristocracia romana que ia a Paris freqüentar a escola dentária, onde aprendeu tão depressa a conhecer os dentes dos homens que logo passou a outras partes mais interessantes, depois de ter feito proveitosas experiências em Luciano Sangallo. Agora está em Pernambuco, no Brasil, como proprietária e diretora de um lupanar modelo para homens ricos (sacerdotes e magistrados).
Outras vezes viajara com uma conhecidíssima cortesã de Milão que ia a Paris submeter-se a uma intervenção de ovariotomia com célebre cirurgião russo, a fim de ficar mais livre nos seus movimentos profissionais. Agora não se faz mais aquela operação. Agora se faz outra mais cômoda, que dá os mesmos resultados: a ligadura das trompas. Mil francos por trompa. Não é caro, se se pensa que trompas só há duas e que em pouco tempo se faz aquela soma voltar para casa.
Outra vez ainda fizera aquela viagem com uma senhora de magníficos olhos de envenenadora, uma polonesa que se dirigia para o Havre. Estavam sós no carro. Alguém lhe levara à estação um garrido cestinho de morangos frescos. Ao escurecer, meia hora antes da fronteira, ela pediu-lhe que a ajudasse a abrir luxuosa mala de crocodilo que continha complicado laboratório de faceirice. Entre os frascos de águas perfumadas havia também um grande vaso de prata e de cristal e uma baciazinha de prata cinzelada.
Na baciazinha a senhora virou o cesto de morangos, cortou-os em pedacinhos com um garfo e uma faca minúsculos (uma daquelas facas usadas nos homicídios passionais sem premeditação); e com muita graça dirigiu-se a Luciano como a um antigo conhecido.
— “Voulez-vous assaisonner, monsieur, s’il vous plaît?” — e estendeu-lhe o frasco.
E enquanto Luciano derramava o líquido incolor sobre os frutos sangüíneos que a senhora remexia, perguntou-lhe com graça fascinante:
— “Vous n’aimez pas les fruits à 1’éther?” Pode-se responder sem corar: não fumo, não bebo, não jogo bilhar, não me ocupo de política, não teria nenhuma dificuldade em assassinar os meus filhinhos; mas não se pode, a uma senhora que encontramos numa viagem a Paris, responder: “Não, não gosto de frutas com éter!” E se bem que nunca lhe tivesse passado pelo peristilo do cérebro a suposição de que entre pessoas civilizadas se pudesse tragar aquilo, respondeu:
— “Oui, madame, j’en raffole”.
A primeira vez que se aspira a cocaína dorme-se e sente-se um como congelamento do nariz e pacífica adaptação à idéia de morrer. Mas a primeira vez que se aspira ou bebe éter, fica-se presa de fraco delírio erótico, em que o desejo da posse está ausente. Deseja-se apertar, beijar, acariciar, adivinhar as curvas, adormecer no “entredeux” fofo e morno do seio.
Em seguida Luciano não tinha adormecido porque antes que o éter iniciasse a sua obra, na estação da fronteira, fizeram-no descer. Luciano Sangallo recordava-se ainda vagamente daquela repartição fiscal vista como num delírio; todas aquelas malas abertas como corpos eventrados para necropsia e colocadas em fileira sobre um banco comum; os guardas, o delegado, o passaporte, a troca do dinheiro; e a bela senhora polonesa, embriagada como ele, ao lado dele, que passeava automaticamente por entre aquelas coisas burguesas e burocráticas, tendo no cérebro um turbilhão de visões perturbadas e de sonhos irrealizados.
Quando tornaram a subir para o trem, adormeceram ambos; a cabeça dela no ombro dele, as quatro pernas apoiadas no divã da frente (ela usava meias de reflexos violáceos); e as mãos...
Ah, as mãos, as mãos!...
E nem sequer sabiam os seus nomes e os seus destinos.
* * *
E agora Luciano Sangallo fazia a mesma viagem com a esposa. Encontrava-se no mesmo ponto em que alguns anos antes a senhora polonesa lhe pedia que a ajudasse a afogar no inebriante veneno os belos morangos sangüíneos.
Luciano seguia os fios do telégrafo em que as andorinhas marcavam como que semicolcheias numa pauta musical.
Fazer com a mulher o caminho que percorremos com u’a amante é triste como sairmos escravos da casa em que entramos como donos.
É uma degradação sentimental.
— Por que choras? — perguntou-lhe, solícito, Luciano, vendo que duas lágrimas injustificadas se formavam entre os cílios da esposa. E tomou-lhe a mão enluvada.
— Choro porque me lembro de que a mamãe chora.
— Mas ambas choram sem razão — encorajou-a Luciano —. De Modane passar-lhe-emos um telegrama.
— Sim — agradeceu a moça —. Queres chocolate?
— Obrigado — recusou o esposo.
A moça tirou da mala uma garrafa metálica, baixa, emoldurada de palavras alemãs. Uma daquelas garrafas de parede dupla, que se usam em viagem, porque conservam a temperatura. Com efeito, antes de partir põe-se nelas café fervendo, à chegada sai sorvete de café.
— Queres? — insistiu ela.
— Obrigado! — resistiu Luciano. Escurecia.
Um senhor napolitano dirigiu-lhes a palavra para comunicar que era tenor e cavalheiro, que se dirigia a Londres, que cantara no “Covent Garden”, que o rei Manuel era seu amigo íntimo, e que a seu lado Caruso era uma besta.
Aldeias espalhadas pelos montes. Na distância, os toques, ou melhor, os melancólicos toques da ave-maria.
Acendeu-se a luz. Numa pequena estação subiram dois senhores, um dos quais, sentindo cheiro de himeneu, fez uma careta, como para perguntar:
— Incomodamos?
Luciano esboçou um sorriso, para responder:
— Pelo contrário, até distraem.
O guarda-trem passou verificando os bilhetes. Ao furar o de Súsana deu um irônico e enérgico golpe de alicate olhando a esposa de frente, como para dizer...
Sangallo compreendeu muito bem e corou.
Um dos dois viajantes, que subiram havia pouco, contemplou a moça com olho de entendedor e disse em voz baixa ao outro:
— Tem os seios pequenos.
E o companheiro:
— Dará leite condensado.
O trem parou.
— Modane! “Tout le monde descend!”
Terminadas as cerimônias aduaneiras, tornaram a subir ao trem (Susana: — Ah, como são elegantes estes carros franceses!) — e Luciano avisou o guarda do carro-dormitório que dois lugares eram seus, e encomendou dois serviços no carro-restaurante.
— Preferes que jantemos na primeira série, logo, ou na segunda, daqui a uma hora?
— Não tenho preferências.
Como são embaraçantes as mulheres que não têm preferências! Se é tão fácil, quando ficam indecisas entre duas coisas, escolher uma, ao acaso, para fazer crer que têm vontade!
— Tens apetite, querida?
— Tenho. E tu?
Luciano atrasou o relógio de uma hora.
— Por quê?
— Porque na França tem-se uma hora de menos, meu amor!
— Ah!
E Susana deu uma volta aos ponteiros do seu relógio de pulso.
Susana já tinha feito tudo o que pode fazer uma noiva em viagem de núpcias: chorar, acertar o relógio e mostrar-se mais estúpida do que é. Só faltava ir para a mesa.
— “M’sieurs et dames, première série, s’il vous plaît!”
— Vamos jantar, Susana?
— Vamos, Luciano, como quiseres. E as malas ficam aqui?
— Já fiz transportá-las para o carro-dormitório.
— Ah, sim.
No percurso do corredor e na passagem de um carro para o outro, Luciano susteve-a, mas não pôde impedí-la de bater duas ou três vezes com os cotovelos e as cadeiras nos bancos.
A sala de jantar estava em parte ocupada. Aquele equilibrista americano que caminha sobre um fio estendido entre um arranha-céu e outro, a setenta metros de altura, não deve sentir-se menos à vontade lá em cima do que se sentia a senhora Susana ao passar por entre aquelas fileiras de mesinhas enfeitadas e aqueles senhores à espera.
O noivo baixou-lhe uma cadeira de mola. São cadeiras que se conservam na horizontal enquanto alguém as aperta com o seu peso, e levantam-se mal a pessoa se ergue. São como o nosso semelhante. Para conservá-lo abaixado precisa-se sentar-se-lhe em cima.
Susana sentou-se, mas, tendo enrugado a saia, ergueu-se tão confusa que, ao sentar-se de novo, não se lembrou de abaixar a cadeira, e fez um papelão que seria ainda pior se Luciano não tivesse acorrido, solícito, a ampará-la.
O “maitre”, irrepreensível na sua farda cor de tintura de iodo, movia-se com a solenidade de um grande de Espanha.
Os lugares que restavam foram tomados. À mesa do casal tomaram assento dois senhores abotoados até ao pescoço, vestidos de negro opaco e com os pulsos encartuchados em punhos tubulares, com botões redondos de madrepérola.
Deviam ser dois pastores anglicanos, pelo tipo; ingleses, pela língua; escoceses, pelo sotaque; e porcos, pelas mãos.
Nas outras mesinhas, senhoras enjoiadas, oxigenadas, pintadas; homens gordos, loquazes, rapazes barulhentos; uma velha, repugnante; uma criança, repulsiva; uma pequena “grue”, interessante.
Olhando para esta última, Susana sorriu, com estúpida descortesia.
— Não rias — disse Luciano com doçura —. As “cocottes” também têm o seu orgulho de classe. E tira as luvas.
Susana tirou as luvas e corou. Tinha as unhas brilhantes como se as tivesse comprado naquele instante mesmo.
Três garçãos fizeram a sua entrada triunfal.
O primeiro trazia a massa enxuta e fumegante.
O segundo, o queijo ralado.
O terceiro, a geleira.
Pareciam os bandarilheiros quando entram na arena.
— “Et comme vin?” — perguntou um garção —. “Blanc ou rouge?”
E a noiva, para mostrar-se desembaraçada, respondeu em francês lombardo-piemontês:
— Doné moá dé l’o.
O garção compreendeu que se tratava de uma recém-casada:
— “Voulez-vous des huitres, m’sieur et dame?”...
E a esposa, sempre no mesmo musical idioma:
— Mersí; se n’em pá le zuitr.
Serviu-se de pouco talharim e comeu metade.
Depois bebeu.
“Quando bebe — refletiu o esposo — parece que ao mesmo tempo mama, fala ao telefone e olha por um canudo”.
O garção, ao servir a sala, a uma curva brusca dos desvios, deixou cair uma gota de azeite na túnica de um dos dois padres ingleses. A mesma coisa acontecera a Cupido quando Psichê o contemplava, adormecido, com uma lâmpada. A mancha de gordura espalhou-se logo entre as outras manchas: sentia-se em família. Susana esfregou com o próprio guardanapo o padre, que a tal atenção se comoveu a ponto de ficar vermelho.
— Que gente vulgar! — observou, depois, Susana, indicando u’a mesa em torno da qual devoravam a comida quatro homens ordinários, vestidos de novo, lavados de frescos e cobertos de jóias recentes —. Novos ricos, que vergonha!
— Vergonha! E por quê? — sorriu Luciano —. Pois eu os admiro. Quem soube arranjar dinheiro é um homem admirável.
— Mas quando se pensa que o ganhou com o suor alheio...
— Admiro-o mais. Seria um estúpido se tivesse suado ele próprio. Quando um homem tem uma idéia clara do valor da vida, encontra sempre um pretexto para se furtar à escravidão do trabalho; como a isenção absoluta não é possível, mas é possível a substituição, o homem inteligente faz trabalhar em seu lugar outros homens u’a máquina, ou capitais. E quando é precoce, sabe dispor as coisas de modo que os seus genitores tenham trabalhado por ele antes mesmo de ele vir ao mundo...
— Tu, Luciano, invejas aquele novo rico que segura o garfo com a mão direita?
— Eu nunca compreendi — ressalvou Luciano — por que motivo há de ser incorreto segurar o garfo com a mão direita e correto com a esquerda. Mas, aparte isto, confesso-te que invejo aquele senhor blindado de dinheiro que tem o prazer de fazer o seu semelhante torrar-se de raiva e de inveja, com a chama das notas de mil.
Susana Sangallo não respondeu. Os dois clérigos comiam imperturbáveis. Nas duas fileiras de mesinhas as lâmpadas elétricas vermelhas davam um colorido festivo ao restaurante viajor.
Fora, um luar magnífico sobre a paisagem ria.
Aldeias brancas, em corrida, sobre os campos negros.
Cabanas ferroviárias, branqueadas pela lua.
— Gosto do vagão-restaurante — disse Luciano — porque funde o movimento com uma coisa estática, o comer. E como o campo me agrada, mas me entristece, tenho satisfação em vê-lo de fugida, de uma janelinha do trem, sem pisar na erva.
Um cemitério branco como uma necrópole árabe, sobre o qual os ciprestes negros pareciam mais negros.
— Que tristeza! — gemeu Susana —. Um cemitério!
— Tristeza? Por quê? — objetou Sangallo servindo-se de vinho branco —. A mim os cemitérios não me causam tristeza.
— Reverência, então.
— Nem isso. Eu penso que lá em baixo estão sepultadas pessoas que na vida foram desprezíveis: homens que espancaram a mulher ou prostituíram a irmã; mulheres que traíram o marido, por mera devassidão; homens que exploravam a amante; mulheres que fizeram sofrer pelo simples gosto de fazer sofrer; filhos que maltrataram o pai; pais que seviciaram os filhos; perseguidores, ladrões, trapaceiros, traidores... Como se pode ter reverência por essa gente que, estando morta, nem tem mais a possibilidade de se tornar melhor?
Susana arriscou uma objeção:
— Mas, se há ladrões, exploradores, perseguidores, seviciadores-, haverá também roubados, explorados, perseguidos, seviciados...
Sangallo atalhou:
— Esses são mais desprezíveis que os outros porque são imbecis. Gostas do assado? Com cogumelos. Sim? Eu também gosto. Aliás, minha cara, os cemitérios só impressionam porque na superfície se vêm as cruzes e os altares; mas os cadáveres não existem; no lugar deles há terra.
— Como não há cadáveres?
— Há, mas só os recentes.
— Mas, no dia do juízo as almas se revestirão dos seus corpos.
— Ah, sim? É uma alegre perspectiva para os raquíticos! Garção, champanha.
A rolha saltou e alguns senhores se voltaram. Não é preciso muito para fazer um homem voltar-se!
Luciano bebeu primeiro. Susana brindou à mãe.
— Vês como é belo o luar no lago? Estamos em Aix-les-bains. Aqui eu perdi numa noite cem mil liras ao bacará.
O garção trouxe a conta, o “maitre” veio receber a importância.
Susana guardou a nota na bolsa.
— Como lembrança — explicou.
— Um pintor meu amigo — disse Luciano — como lembrança dos restaurantes carrega sempre um talher.
— Isso não é direito — desaprovou Susana. E riu.
— Por que ris?
— Por isso.
Era preciso, pois, o champanha para despertar a bela adormecida? Como é gostosa essa risada de boca aberta, com exposição completa dos dentes. A dupla fila dos dentes branquíssimos ilumina-lhe a boca, como um teatro em espetáculo de gala.
O riso da mãe!
— Na minha filha encontraráa uma eu mesma, um pouco mais jovem — dissera. As mulheres, por velhas que sejam, falando das outras, nunca dizem simplesmente “jovem”; dizem: “mais jovem do que eu”, mesmo quando há uma diferença de trinta anos.
O riso da mãe quando estava embriagada de champanha. Mas aquela erguia também as pernas para mostrá-las. Uma vez, num “tabarin” de Nápoles, mostrou as pernas até acima das ligas. Esperemos que a filha não chegue até lá.
“Como se parece com a mãe! — contemplava-a Sangallo —. Tornar-se-á como ela. Numa rapariga de vinte anos não se pode ainda falar de tipo. Mas o tipo começa a delinear-se, a declarar-se. Só quem viu a mãe pode fazer prognósticos sobre a beleza futura da filha. E Sangallo surpreendia as afinidades de atitudes, as semelhanças físicas das duas mulheres distantes no espaço e no tempo, mas tão intimamente fundidas na sua imaginação e na sua memória.
Tomaram o café.
“Esta rapariga — pensava Sangallo — tem o triste dom da ingenuidade. É curioso como as mulheres que por toda a vida puseram o seu corpo em sorteio, com prêmio garantido em todos os bilhetes, sabem dar às filhas uma educação tão rígida. Quem diria que esta menina ingênua é filha daquela mulher hipernutrida de homens? Houve um tempo em que os soldados de polícia eram recrutados entre os antigos criminosos. Hoje as educadoras deviam ser escolhidas entre as velhas meretrizes.
— Queres licores, querida? Um “triple sec”, um “Kümmel”, um “Grand Marnier”, um conhaque?
Escolheu o conhaque porque é o mais fácil de se pronunciar.
— Ri mais uma vez, Susana!
E Susana riu prontamente, fazendo ressoar a risada, como se Luciano lhe tivesse apertado um botão escondido. Riso de rapariga alegremente ébria.
— Vamos dormir?
— Vamos.
Tornaram a passar por entre as mesinhas; ele após ela; percorreram o corredor; passaram a pontezinha oscilante.
Os carros-dormitórios estavam iluminados com uma luz violácea, aquela luz de “garçonnière” a que nenhu’a mulher resiste.
Na porta, entre o corredor e uma cabine, um empregado fumava.
A cabine de Luciano era num compartimento; a de Susana em outro. Os noivos apertaram-se as mãos e beijaram-se na boca, na frente do empregado, e separaram-se.
O empregado viu-os dirigirem-se para duas cabines diferentes e comentou:
— “C’est rigolo”.
Susana guindou-se até o seu leito, mostrando as pernas a uma velha senhora que dormia por baixo dela.
E antes de adormecer, a recém-casada pensou, talvez por força do champanha, que no trem é mais fácil perder-se u’a mala do que a virgindade.
* * *
Jamais compreendi a razão por que, para se copular, seja necessário prover-se de binóculo prismático, Baedecker, passaporte e ir ao estrangeiro visitar museus.
Não seria mais sensato e mais humano que os noivos ficassem em casa e mandassem para o estrangeiro os parentes?
Uma hora antes de o trem chegar a Paris, um empregado da Companhia Internacional de Carros-Dormitórios dos Grandes Trens Expressos Europeus vinha despertar do seu sono virginal a viajante, que até a véspera quase sempre era acordada pela boa mamãezinha, quando a boa mamãezinha não estava ocupada algures.
Luciano Sangallo estava já vestido de cinzento desmaiado. Um homem de quarenta anos vestido de cinzento aparenta trinta e três. Susana estava ainda no gabinete de toucador, ocupada em lavar-se cuidadosamente com um sabão em lâminas que a mamãe lhe metera na “trousse”.
Enquanto Luciano espera que Susana esteja pronta, descrevamo-lo rapidamente.
Magro, pálido, testa larga: sobrancelhas como escovinhas de dentes, à Armando Falconi. Olheiras profundas. Certos foguistas da marinha, quando descem à terrra, ensaboam bem o rosto, tendo o cuidado de deixar um pouco de carvão em torno dos olhos.
O rosto de Luciano Sangallo era assim.
Boca pequena, reta, como traçada com tiralinhas e esquadro.
Barba feita, subentende-se.
Unhas brilhantíssimas.
Meias de seda. Sempre.
Camisas de crepe da China.
Corrente fina de platina e ouro (presente da velha tia da esposa).
Grande brilhante com engaste simplíssimo (presente de noivado).
Uma leve cicatriz no lábio superior (presente de um marido corno, em um duelo).
Olhos frios, cinzentos, grandes, de íris contrátil como a dos gatos.
Um dente de ouro para fazer crer que os outros, os de esmalte, sejam verdadeiros. Às vezes dizemos com ostentação uma verdade amarga para não deixar perceber que todas as outras são mentiras.
Nunca põe as mãos nos bolsos para não fazer dobras no casaco. Não cruza nunca as pernas para não criar joelheira nas calças. Jamais diz às mulheres que as ama, para não ter que dizer, depois, que já não as ama.
Mas eis que Susana sai da sua cabine toda radiante. Dir-se-ia que a atmosfera parisiense, que vem ao seu encontro, a alegra.
“Sobre este rosto provinciano de italiana — pensou Luciano — pode-se construir uma fisionomia parisiense. Será obra demorada mas hei de realizá-la. Será o mais belo dos meus edifícios.”
E, como lançamento da primeira pedra, deu-lhe na boca um longo beijo, um longuíssimo beijo, um beijo de dois quilômetros e meio (os beijos em estrada de ferro medem-se por quilômetros), um beijo que a estonteou. Os olhos velaram-se-lhe de langor e o seu corpo sentiu a necessidade de roçar-se contra o de Luciano.
Este lhe deu novo beijo muito longo, durante o qual o trem deixou para trás uma ponte, duas passagens de nível e uma estação.
Susana gania.
Luciano julgara sempre que aqueles ganidos, enquanto a gente as beija, as mulheres os dêem apenas por boa educação. Vê-se, porém, que são mesmo sinceros.
Alguns carros de carga dispostos sobre desvios mortos anunciavam que Paris estava perto. Com efeito, à medida que se avançava, apareciam mais numerosos, menos em desordem, mais disciplinados.
— “Nous sommes à Paris, m’sieur et dame” — disse o empregado preparando-se para abrir a portinhola.
— Que foi que ele disse? — perguntou a moça que não ouvira bem.
E Luciano traduziu:
— Disse: dê-me vinte francos.
— “Merci bien, m’sieur et dame!”
* * *
Saindo da estação de Lyon, encontraram logo um táxi. É ter sorte. Isto se chama chegar a Paris sob bons auspícios. O chofer fisionomista e psicólogo, em vez de os levar ao “Hotel des Grands Boulevards” pelo caminho mais curto, fez ampla volta.
— A Ponte de Austerlitz — ciceronizou Luciano —. O Sena: viremos passear à beira do Sena... Olha, agora estamos na margem esquerda. Este é o “Jardin des Plantes”; a “Halle aux Vins”; agora, se o “wattman” não se lembrar de levar-nos a Montparnasse, costearemos o rio até à Câmara dos Deputados.
O automével corria pelo sombrio e melancólico Cais de la Tournelle, apreciado pelos sonhadores, pelos solitários, pelos bibliógrafos; do outro lado do Sena emerge a mole magnífica de Notre-Dame, de abside soberba.
Chove.
A chuva parisiense não é triste. Mas o chofer resolveu cortar pelo caminho mais curto. Passou por diante da mole cinzenta e sinistra da Conciergerie, onde agonizaram os condenados na época do Terror.
Uma ponte.
Outra ponte.
— Mas quantas pontes há em Paris?
— Vinte e quatro.
Enfiaram pela Rua de Rivoli.
— E aquelas escadas que descem para dentro da terra?
— O “métro”.
Praça do teatro francês. Avénue de l’Opéra. No fundo a Ópera, com o teto esverdeado.
— Viremos aqui?
— Está visto, querida.
“Rue du 4 Septembre”.
— Que foi que aconteceu, Luciano, em quatro de setembro?
— Não me preocupo com a vida dos outros.
Na Praça da Bolsa ecoava o vozear de centenares de homens esbofados que gritavam títulos e preços e subiam e desciam pelas escadarias da Bolsa, como formigas à aproximação de um temporal.
À esquina da Rua Vivienne com o Bulevar Montmartre, o automóvel parou em frente do hotel.
A noiva desceu.
Há qualquer coisa de tragicamente cômico no ato de uma recém-casada que desce do táxi para subir as escadas de um hotel onde sabe perfeitamente o que a espera.
Parece a paródia de uma execução capital.
Mata Hari, a dançarina hindu fuzilada por espionagem em Vincennes, caminhou diante do piquete de execução com maior sangue frio do que revelava Susana Sangallo ao passar em frente daquele porteiro do hotel que parecia augurar-lhe: “Boa laparotomia, senhora”.
O quarto em que deveria acontecer o desastre era no primeiro andar e dava para o Boulevar Montmartre. Os noivos fizeram levar lá para cima as malas e dois cafés, e escancararam as janelas.
Entrou o fragor parisiense, o bafafá meridiano, o rumor da multidão, os gritos dos jornaleiros, o estrépito dos auto-ônibus, o lamento dos táxis, o eco de ruídos longínquos, sobre os quais o céu cor de chumbo, pesado, térreo, ameaçador, formava como que uma caixa harmônica sobreposta.
Paris! Susana sentiu-se um pouco comovida e afastou-se da janela.
Numa parede, o retrato de um marechal napoleônico (gravura da época), de bigodes à Carlitos.
O tálamo era muito vasto. Era o leito característico das grandes fecundações e dos nascimentos ilustres. “A cama em que nasceu Carlos Alberto; a cama em que nasceu Napoleão”, que se vêem gravados nos livros de história.
Móveis antigos. Num vaso uma flor de açucena. As florinhas, presas por meio de pequenos arcos ao caule, pareciam pálidos, minúsculos isoladores de porcelana sobre fino poste telegráfico.
Em verdade não havia açucena. O que havia era um cravo. Mas fiz de conta que era açucena porque a comparação com o poste telegráfico vinha de molde. Na literatura é assim.
Chegando a este ponto da narração devia apresentar-se-me a ocasião de fazer pornografia.
Uma virgem inexperiente, nas mãos de um homem que tem um quarto de século de experiência... Paris, o “caf’conc” da Europa; “le rendez-vous de la noce folle”... Uma vrrgem presa da orgia num cabaré como, por exemplo, o “Rat Mort”, que aliás nem sequer existe mais, enquanto da sala ao lado os violinos dos ciganos húngaros debulham compassos de “rag-time”.
As primeiras horas de intimidade absoluta entre Luciano e Susana nada tiveram de romântico nem de romanesco. A primeira noite de casamento (e por primeira noite entende-se também o primeiro dia, quando o que habitualmente se faz à luz noturna de uma “veilleuse” se consuma à luz do sol), a primeira noite de vida conjugal é sempre uma coisa vulgaríssima. Há poesia na representação que dela se forja a rapariga nos dias que a precedem; há poesia na imaginação do noivo enamorado, que preliba o prazer de apertar entre os braços cabeludos a donzela imaculada ou quase; há poesia na expressão: “A primeira noite”. Mas quando se pensa friamente no que é, tem-se uma sensação de náusea. No fundo não se trata mais que de um vulgaríssimo estupro.
Aquele homem que tira o casaco, o colete, atira para trás as “bretelles”...
“Bretelle” é galicismo, mas eu não sou purista.
Aquele homem que se sente seguro da presa, que já é sua, e nada mais faz para conquistá-la, não recorre mais à astúcia, não tem mais gratidão pelo favor recebido...
É verdade que nem mesmo a suprema concessão da virgem não desposada ao homem que ama ou que lhe agrada é cerimônia exageradamente poética: há as lágrimas, os gritos, os movimentos de simulada defesa dela; a impaciência, a pressa, a brutalidade dele. Mas no fundo tem uma sombra de beleza. Intervém o fingimento, a astúcia, o prazer, o remorso, o medo, que a nobilitam.
Mas entre casados, não.
A esposa já sabe como há de acabar. No programa da sua vida:
Batismo.
Puberdade.
Noivado.
Pretoria.
Gravidez.
Adultério.
Menopausa.
Morte,
entra também o estupro, que acontecerá fatalmente, prosaicamente, entre a farça da pretoria e a tragédia da gravidez.
O esposo nem sequer precisa do bolso a farmácia portátil das mentiras encorajantes: “Mas não, queridinha, não vou fazer-te mal; não te exporei a nenhum perigo; eh, vamos, confia em mim! Sou um cavalheiro, e sei o que faço...”
Nada, nada disto! Em certos países da África que a respeito da virtude das senhoritas pensam como eu, faz-se nas meninas de seis meses uma solda autógena (corte, ligadura e cicatrização) para resguardar a virgindade contra qualquer manumissão. No dia do casamento, o marido tem de abrir caminho de faca na mão.
Isto acontece na África. Eníre nós não se utiliza a faca, mas emprega-se a mesma brutalidade.
Não descreveremos portanto a cerimônia da imolação legal do hímen de Susana, para não acordar tristes lembranças em quem já passou por lá, nem tirar as ilusões de quem ainda tem que passar.
Diremos somente que às 13 horas e 55 (hora francesa), no quarto n.° 21 do “Hotel dês Grands Boulevards”, Susana Sangallo soltou um grito de dor e de prazer, ao passo que nos olhos se lhe formavam duas lágrimas (uma por olho) de pena e de felicidade.
Algumas horas mais tarde os esposos desciam (ela tinha o ar um pouco dolorido) para telegrafar à mamãe.
Parte segunda, em que, falando de uma esposa pacata que, numa transformação mais rápida que a das rãs e dos bichos da seda, torna-se amante insaciável, o autor faz obra instrutiva e educadora.
Os casais que vão a Paris fazem continuamente voltas por aquele leque formado pelos Bulevares Montmartre, dos Italianos e dos Capuchinhos, Rue de la Paix, Avenida de l’Opéra, Rua Auber.
Mas nunca saem dessa zona.
Vão comer ao Poccardi, escrever cartões-postais com assinatura dupla no “Café de la Paix”, postá-los na Rua Lafitte, e depois tornar a percorrer os bulevares, parando diante de todas as vitrinas, até que, cansados de se encontrarem sempre no mesmo ponto, sobem para o hotel com o pretexto de ir lavar as mãos, mas por fim metem-se na cama. Se descem, dão consigo a girar novamente pelos grandes bulevares do bairro da Ópera.
Depois de quinze dias, um dos quais foi destinado a Versailles, partem sem ter visto nada. No último dia, enquanto arrumam as malas, um dos dois exclama:
— E vamos deixar Paris sem ter visto o túmulo de Napoleão.
Então sobem a um táxi e correm para os Inválidos.
Mas o túmulo de Napoleão está fechado ao público nas segundas, quartas e sextas, ao que parece. Ou nas terças, quintas e sábados. Em suma está fechado nos dias em que se vai visitá-lo.
Mortificados e decepcionados, os dois esposos lêem o horário e consolam-se:
— Visitá-lo-emos de outra vez que viermos a Paris — bem convencidos de que a Paris não voltarão mais.
* * *
A situação de Luciano em face de Susana não era das mais invejáveis. Ele conhecia admiravelmente Paris. Ela nunca arredara de casa.
Nada mais em Paris o surpreendia; nada lhe era desconhecido. Poucos meses antes, numa casa equívoca das Batignolles, elegante dispensário de felicidade, haviam introduzido uma nova atração; a ficção do enforcamento para velhos refratários; dizem que é um excitante maravilhoso. Mas não podia ainda levar a esposa lá, porque ela estava no abecê do conhecimento de Paris; apenas chegara até a Gioconda (Museu do Louvre) e ao obelisco monolítico da Praça da Concórdia.
E estava também no abecê da vida, ao passo que Luciano já não tinha nada que aprender.
Guiando-a pelas ruas de Paris e pelos caminhos da vida, sentia como se a cada passo tivesse de parar para espertá-la; parecia-lhe estar de novo naquela escola de língua, em que o professor lecionava a todos na mesma aula, e, como se podia iniciar o curso em qualquer tempo, os que já estavam no fim dos estudos tinham de assistir aos gaguejamentos dos principiantes.
Assistiu Susana nos primeiros passos dentro da vida, ele que estava para sair.
O homem sai da vida quando se casa.
A mulher, quando se casa, entra nela.
Mas, com aquele instintivo fervor que os artistas cansados de produzir põem no ensinar aos outros o que eles próprios não sabem mais fazer, dedicou-se a uma obra insigne; fazer de Susana uma criatura maravilhosa.
Tomar a matéria amorfa daquela criaturinha ignara, e plasmar u’a mulher intensa, cheia de perfídias subtis e de astúcias complexas.
Ele sabia que requintar u’a mulher é como educar o povo: isto é, fazer dele um inimigo, ou um amigo que nos trairá. Mas a miragem da difícil obra de arte o fascinava.
Requintar u’a mulher!
Requintar Susana!
Durante vinte anos as suas várias “garçonnières” tinha sido oficinas de requintar mulheres.
A mãe de Susana, mulher experimentada em todos os filtros e em todos os venenos, conservara a rapariga longe do escrínio das mais belas seduções.
Luciano dar-lhe-ia, uma por uma, todas as suas chaves: revelar-lhe-ia, um por um, todos os seus segredos.
E começou pelo primeiro. Ensinou-lhe a pintar o rosto.
* * *
“Quando não estou pintada parece-me estar nua”.
Assim diz uma grandíssima poetisa italiana (sim, é Amalia Guglielminetti; só há uma poetisa na Itália, que é ela); assim diz uma grandíssima poetisa italiana, não para corrigir as linhas traçadas pela natureza ou para reavivar com nova cor a espalhada pelo sangue e pelo sol, nem para remediar à ação dos anos (tem tão poucos!), nem para sublinhar a brancura azulada dos olhos, nem para aumentar a boca já suficientemente grande para pôr em razoável destaque uma fila (um colar, dizem os poetas) de dentes tão brancos, que parecem alvos como certas roupas tão modernas que parecem “démodées”.
Aquela mulher se pinta porque é uma coisa belíssima pintar-se quando não se tem necessidade.
Conheci uma senhora americana, um pouco doente de literatura, para quem era um prazer inefável preparar como para o esquife o seu corpo envolto num lençol de linho embebido em perfumes.
— É tão agradável — dizia-me ela com um riso macabro — fazer-se de morto quando se está vivo!...
A cor tem o poder de corrigir a linha. Alguns artistas que pecam no desenho arranjam-se com a cor. Certos rostos de mulher que apresentam relevos ou depressões podem-se corrigir admiravelmente com hábeis distribuições de pó de arroz e carmim, que deslocam os planos, levantando em aparência as zonas deprimidas e abaixando-as quando em excessivo relevo.
E como existem várias gradações de pós de arroz e de tintas para a pele, podem-se distingir nestas os tons frios e os tons quentes.
Estes são aconselháveis para o verão.
Aqueles, para o inverno.
Mas, seja qual for a gradação de pó que se estende sobre um rosto, como o rosto parece mais quente quando o pó desaparece! Especialmente se o fizermos desaparecer com os nossos lábios!
O rosto pintado tem o mérito invejável de parecer escondido atrás de u’a máscara. Quando a pintura desaparece, o rosto parece que fica nu.
Que a mulher deva pintar-se é evidente. Basta analisar o rosto feminino. No rosto da mulher em bruto, vêem-se pouquíssimos toques de tinta. Aqui e acolá se encontram pinceladas de cor postas em desordem, sem esfumaduras, sem harmonia. Toques de cor que não têm valor definitivo, mas servem especialmente de guia para cuidadoso trabalho de coloração, de esfumadura, de minúcia.
O acaso colocou no rosto da mulher amostras de cor, acrescentando um tácito conselho: “Eu te dou o tema; deves desenvolvê-lo. Dei-te as primeiras notas; tu continuarás”.
Não podendo escrever: “Aqui deve ir vermelho, aqui branco, aqui ocre” na falta de linguagem universal, ser-viu-se do meio mais simples: a amostra gratuita. O vermelho que toda mulher tem nos lábios é uma simples indicação que deve ser interpretada assim: neste lugar deves pôr carmim. As veias violáceas em que naufragam os olhos magnéticos de toda mulher bela significam: aqui juntarás pó violeta...
Maravilhosa como é sempre a natureza, não distribuiu as mesmas tintas de amostras a todas as mulheres. Às malásias deu o açafrão, às noruguesas o róseo pálido, às japonesas o amarelo, às vienenses o branco, às francesas, às espanholas, às italianas, às eslavas aquelas várias gradações cromáticas que eu me guardarei bem de enumerar, porque em todas as bibliotecas que se respeitam, encontram-se à mão volumes de etnologia e antropologia, com magníficas tricromias do natural.
A eles envio os que não se podem conceder o luxo de um transatlântico para o México ou da estrada de ferro transiberiana; meios um tanto caros e pouco seguros; mas valeria certamente o gasto, atravessar continentes e oceanos para contemplar a cor artificial das raparigas de Hong-Kong, de rosto febricitante, ou das de Singapura, de face afogueada pelo cheiro demasiado intenso das flores; das tríbades de Benares, das ninfômanas de Cuba, e das australianas tão vertiginosamente decotadas, que se diriam sempre em “toilette” de oferecer o busto á orelha do médico a fim de consultá-lo sobre as panes dos seus coraçõezinhos.
* * *
“Toutes les femmes se fardent”, diz a parisiense quando, no café, no restaurante, no teatro, acentua o recorte dos lábios ou aperfeiçoa as curvas. Todas as mulheres se pintam. Para agradar ao macho, para seduzi-lo, pintam-se com cores vivíssimas até as campônias japonesas, as quais, após tê-los conquistado e feito casar-se com elas e não tendo mais nenhum interesse em agradar-lhes, enegrecem os dentes, emplastram o rosto com negro de fumo, para se conservarem fiéis, para não despertarem a cobiça de nenhum outro. A necessidade de retocar a cara é mais forte que a necessidade de vestir. Certos negros da África e certos selvagens da América que usam os trajos só permitidos no Paraíso, traçam na testa e nas bochechas figuras geométricas coloridas, e sublinham os olhos com carvão. As mulheres tingem os cabelos com “henné”.
— Mas, como? — perguntava-me uma senhora — a moda do “henné” já chegou até lá?
— Não, senhora. De lá é que ela veio até aqui.
E o uso de aloirar os cabelos com folha tropical espalhou-se rapidamente. Nos cabelos das mulheres sente-se o bom cheiro de erva meio fermentada, que lembra países longínquos e evoca visões de ilimitadas distâncias.
— Não é “henné”, — dizem elas com um sentimento de pudor — lavo os cabelos com a “Lauronia inermis”... É outra coisa.
— Não. É a mesma planta.
Na alquimia estética da mulher existem muitas destas expressões de válvula de segurança. A água oxigenada é um nome descaradamente claro, uma declaração despudorada e vulgar.
— Lavo-os com bióxido de hidrogênio.
Se é um farmacêutico o que se inicia nos mistérios esotérico da beleza, compreende e sorri. Se não é um farmacêutico, sorri do mesmo jeito.
Uma senhorita chegou até a esta confissão:
— Não uso água oxigenada. É vergonhoso. Uso “eau ozonophiée”...
E o ozônio está para o oxigênio como dois soldados para um soldado só.
A moda é baseada em dois princípios contraditórios. U’a mulher que segue a moda faz crer que não se quer singularízar. Contudo, quer ser notada.
Mas a mulher é às vezes gregária e às vezes individualista; por isso a moda feminina pode-se definir como a uniformidade nas grandes linhas e a diversidade no pormenor.
U’a mulher que tinge o cabelo quer-se distinguir?
Não. Porque faz o que todas fazem.
Quer parecer vulgar?
Tampouco, porque procura alterar os próprios traços exteriores.
Mas com os traços exteriores mudam-se todos os outros. O corpo e a alma da mulher têm surpreendente aptidão para se transformar. O homem não muda através dos séculos: nos quadros dos vários artistas das diversas épocas, em meio às diferenças de estilo e de maneira, reconhecemos sempre os mesmos músculos, a mesma quadratura de ombros, as mesmas atitudes. A mulher, porém, muda de século para século. Basta fazer rápida visita a uma pinacoteca para se convencer disso. Em todas as épocas encontramos os mesmos homens: guerreiros de compleições graníticas; lenhadores de pernas magras, suspensas de grande ventre; delicados andróginos tocadores de saltério ou de alaúde. As mulheres, entretanto, são diferentes de uma época para outra. Na Idade Média eram escanifradas e frágeis como se tivessem urgente necessidade de glicerofosfatos; no século XVI aparecem seios que não admitem brincadeira e ventres que dão o que pensar; sob o Segundo Império as mulheres têm pernas imponentes, daquelas pernas que se encontram nas caricaturas de Gavarni e de Grevin.
Hoje não se vê mais uma perna. Eu não as vi em Palermo, em Roma, nem em Milão, nem em Nápoles, nem em Paris. Pode ser que ainda exista alguma em Bolonha.
Fenômeno idêntico a este é a transformação que se vai operando por obra da maquilagem. Todas as mulheres se parecem. Cabelos cortados à altura da orelha, fracamente ondulados, descoloridos e retintos; bocas reduzidas a um tipo único; olhos do mesmo tamanho; órbitas na mesma penumbra; vermelhidão e palidez em proporção fixa como uma receita... Como se faz para reconhecê-las? Reconhecem-se agora somente as que não se pintam.
Mas as que não se pintam, quem olha para elas?
É tão fácil comentar cincadas! Aproximar-se de uma senhora pintada de várias cores, com o chapéu numa das mãos e com a outra espichada gorjeando:
— Oh, a senhora por aqui! Quanto prazer em revê-la!
Se é uma romana, responde: “va’mmoriammazzatto”, se é de outra região advertirá cortesmente:
— Mas, eu não o conheço!
É inútil lembrar que neste caso se responde:
— Então vai-me conhecer hoje. Eu sou Fulano.
Reconhecer as mulheres é coisa dificílima, porque todas as mulheres belas se parecem. Só a feiúra é pessoal. Duas mulheres se parecem entre si mais do que cada uma delas se parece à si mesma da véspera. A mulher é proteiforme. É o mais belo exemplo de mimetismo que existe entre as espécies animais. Mesmo aquelas que conhecemos se fazem irreconhecíveis de um mês para outro; perdem cinco quilos, cortam os cabelos, tingem os que sobram, desbastam as sobrancelhas, injetam parafina entre as clavículas e o homoplata para encher as “salières”.
Conta-se de maridos que vítimas das ilusões de ótica produzidas por tais transformações, embatucaram vendo u’a mulher entrar em portas suspeitas, porque parecia que fosse a esposa. Será minha mulher? Ah, não!! Ainda bem que não é ela.
Entretanto era ela mesma.
* * *
Vão longe os tempos em que Ovídio aconselhava: “Não deformeis as orelhas com as pedras preciosas que o hindu cor de bronze recolhe no fundo do mar, nem ostenteis ricos vestidos pesados de ouro, porque com tanto luxo faríeis fugir aquele que desejais atrair”. Hoje, entretanto, atraem-no de verdade, porque há sempre algum que espera encontrar, sob os ricos vestidos pesados de ouro, uma senhorita casadoira ou uma viúva de subarrendamento.
Para as jóias e as roupas caras, descobriu-se um sucedâneo barato: o pó de arroz, os lápis de antimônio, as pastas de Kohl. Não sei que pode haver mais sedutor que um rosto bem pintado sobre uma singela veste “tailleur”.
O truque esfuma a verdade.
Torna imprecisas as formas.
Confunde os traços.
Faz misteriosa a fisionomia.
As artistas de “variété” que surgem na ribalta sepultadas sob um véu de pó de arroz e um raio de luz, têm a vantagem da imprecisão. O seu rosto, vemo-lo ao nosso modo, segundo a nossa interpretação.
As mulheres que se pintam são interpretadas como livros simbólicos. As que não se pintam são abertas como livros comuns. Como livros aborrecidos.
A pintura no rosto é como a meia de seda na perna: dá-lhe um encanto intenso; mas se recebe um pequeno rasgão... Acabou-se! Ai, se um pouco de vermelhão passar do lábio ao queixo!
Maridos, amantes, desconfiai da mulher que volta para casa com os lábios sem carmim. Isto quer dizer que a cor transmigrou da sua boca à do outro.
Maridos, amantes, desconfiai da mulher que volta para os vossos braços com a boca pintada de modo desordenado e excessivo. Quer dizer que teve pressa de restaurar o rosto após uma devastação movimentada.
Desconfiai da mulher que volta para o ninho com os olhos habilmente sombreados, com as faces escrupulosamente branqueadas, com os pômulos cobertos de vermelho em medida perfeita, com os lábios repassados com mão segura. É uma enganadora fria: traiu-vos com serenidade, com ardor contido, com equilibrado entusiasmo.
Ela é a mais perigosa!
Amantes, maridos, desconfiai de todas as mulheres, pintem-se ou não se pintem.
Mas, não. Não desconfieis destas últimas, deixai que vos enganem. E procurai uma amante que conheça os segredos dos violetas, dos azuis, do “vieux rose” e do “henné”. São tão numerosas na rua! Andam de duas em duas, e parecem-se, porque ambas têm as trinta belezas de Helena.
Assemelham-se com tanta perfeição, e têm tão imprecisáveis idades, que é imprudente e arriscado dizer-se a uma das duas:
— Não poderia livrar-te desse camelo da tua mãe?
Porque há o perigo de se ouvir, como resposta:
— É minha filha.
* * *
Estas são mais ou menos as idéias que Luciano expôs a Susana fazendo um lento passeio pelos Campos Elíseos. Repeti as suas opiniões sem fazer exata distinção entre o que ele disse e o que pensou. E achei bom expô-las em forma de conclusões, porque não há nada pior que transcrever um diálogo quando um dos dois interlocutores (neste caso Susana) faz objeções tolas.
Mas a vista de todas aquelas parisienses elegantes e provocadoras, pintadas como se um Boucher e um Fragonard tivessem descido do século XVIII para isso, causou em Susana um sentimento de humilhação. Sentiu-se, com o seu rosto lavado, diante daqueles rostos pintados, como se estivesse de saia e camiseta de trinta liras no meio de uma salão cheio de grandes decotes.
E quando passaram pela frente do Arys, Susana, sem dizer uma única palavra ao marido, pegou-o pelo braço e fê-lo entrar na luxuosa perfumaria.
— Escolhe tu o que é preciso.
Três ou quatro caixeiros de fronte descoberta e branca, sobre as sombras violáceas das órbitas, rodearam os dois compradores, sorrindo com lábios de carmim puro.
Susana e Luciano sentaram-se.
Quanto perfume naquela loja! Quantos perfumes diferentes e fundidos num só! Traçando-se num disco setores com as sete cores do íris e fazendo-se girar rapidamente o disco sobre si mesmo, não se distinguem mais as cores: vê-se uma zona circular branca. Misturando-se entre si todos os cheiros de uma grande perfumaria parisiense, tem-se um único cheiro, cheiro de mulher.
Ah, por que nenhum químico prodigiosamente esteta pensou ainda num novo extrato que se pudesse chamar “quintessência de mulher bonita”?
— E agora — disse Susana saindo — vamos para casa experimentar estas águas e estes pós.
Chegando ao quarto, não sentiram logo a necessidade de pintar o rosto. Antes de tudo — e não se esqueça que eram casados há um dia somente — ela quis que Luciano fizesse no seu rosto a afetuosa obra da devastação, mesmo para justificar melhor a restauração que aos pós incumbiria de fazer no seu rosto abatido pelo prazer.
Mas, como? Depois de um dia só aquela mulher já podia falar em prazer?
Quando se ergueram da cama, ela enfiou um “peignoir de surah”, e sentou-se diante do toucador. Luciano, ajoelhado diante dela numa almofada bávara com grandes desenhos de lã a cores vivas, começava a difícil tarefa.
Susana seguiu os movimentos das pálidas mãos finas de Luciano sobre o seu rosto diáfano, em um espelho de prata que segurava na mão, com a atenção de uma aluna aplicada que quer aprender.
Primeiro de tudo, atirou-lhe para trás os cabelos, para descobrir a bela fronte.
— Descobre a fronte enquanto és jovem. Baixarás os cabelos quando tiveres de esconder os primeiros traços verticais da dor e os horizontais do tempo.
Com uma pluma enterrada no pó de arroz branqueou-lhe a testa, fazendo-a vagamente azulada nas têmporas.
Corrigiu a linha das sobrancelhas, tocando-as com um pouco de brilhantina loura. Ficaram dois acentos circunflexos metálicos, levemente cintilantes.
Uma sombra de pó violeta nas órbitas.
Algumas manchas vermelhas nos lábios, conquanto não fossem precisas. Mas com o branco e o violeta do pó de arroz o vermelho natural dos lábios não entoa. O pó reclama um vermelho diverso.
Com um lápis fino alongou para os lados o corte dos olhos e marcou um ponto vermelho perto do nariz, de onde jorram as lágrimas.
E finalmente, com um pó cor de ocre de perfume intenso acariciou-lhe as faces e o queixo, dando-lhe bela cor levantina.
— Pronto! — sorriu Luciano, levantando-se —. A senhora está servida.
Susana foi para diante do espelho e admirou-se com satisfação.
— Como sou bela! Devo estar também perfumada como uma corbelha. Quisera beijar-me. Pena é que o espelho não devolva os beijos... nem reflita os perfumes.
— Cristina da Suécia dizia que o perfume é como a grandeza: quem o traz não o sente.
— Teria curiosidade de saber que cheiro tenho. O cheiro do frasco?
— Não, querida! Em ti ele é muito melhor! O perfume varia de acordo com a pessoa que o usa. A essência é como um trecho de música que no fundo é sempre o mesmo, mas adquire alguma coisa de novo e diverso conforme as várias interpretações.
Luciano deu-lhe um beijo pneumático na boca, e acrescentou:
— Tens o perfume e a cor de uma primavera asiática. E no seu coração pensou: “Para teres o perfume de uma primavera asiática falta-te ainda uma coisa: o “henné” nos cabelos. Mas por hoje chega. Isto será objeto de uma das próximas lições.”
— Vamos comer? Eu tenho apetite. Por que é que tenho apetite? — perguntou com vivacidade infantil a muher.
— Eu sei — respondeu com uma sombra de melancolia Luciano —. Eu sei o que é que te dá apetite.
— E que é? — insistiu Susana.
Luciano respondeu:
— Criança!
E pensou, com um nó na garganta: “A mim, porém, o amor começa a dar-me sede. Estou velho!”
* * *
— Aonde vamos esta noite?
— Mas, aonde quiseres! Agora pediremos ao camareiro o “Bonsoir”?
— Que é o “Bonsoir”?
— Um jornal. Está aqui: “Théâtre Apollo”: “La Princesse Carnaval”; é uma opereta. Gosta? “Théâtre Michel”: “L’Ange du foyer”.
— Faz chorar?
— Não creio. É uma comédia.
— “Théâtre Edouard VII”: “Kiki”.
— Que é “Kiki”?
— “Pela segunda vez em oito dias — leu Luciano — a representação de “Kiki” foi perturbada por um incidente. Foi precisa a intervenção do médico de plantão para calmar o riso inextinguível de uma espectadora, que entretanto já a tinha ouvido no “Gymnase”. Vamos lá? Isso faz rir.
— Não, eu quero rir, mas com moderação.
— “Théâtre de Cluny”: “Ohé, Vénus!.. .”Espetáculo desopilante. “Théâtre Líbertin”: “La Vierge en chemise”.
— Vamos à “Vierge en chemise!” — exultou Susana.
— Ainda é muito cedo — desaprovou com gravidade irônica o marido —; alguns dias mais tarde.
— Mas eu agora sou uma senhora. E uma senhdra “qui se maquille”.
— É verdade, filha. Não te levo ao “Théâtre Líbertin” só porque é um ambiente destestável. As cadeiras são duras e é mal ventilado.
— Então vamos a um “variété”. Eu ainda não conheço.
— Coitadinha!
E voltando-se para o garção:
— “L’addition”!
Susana, enquanto isso, folheava os jornais:
— Mas, em Paris nunca se dão fatos sensacionais?
— Dão-se, mas não interessam mais, assaltos e roubos. Quanto aos grandes crimes vão longe os tempos em que a morte de uma velha convulsionava Paris e salvava do olvido os nomes de Prado, de Pranzini, de Géomay e de Anastay.
— Conheceste-os?
— Não, amor. E começo a acreditar que os grandes crimes são uma bizarra invenção dos parisienses, auto-reclamistas de primeira força, para atrair forasteiros. Morei durante dois anos no Bulevar Sébastopol, que é o que se pode desejar de melhor, como foco de apaches, e nunca consegui levar uma facada. Os apaches são uma invenção dos parisienses como o Vesúvio é uma invenção das companhia de viagens de excursões, para despertar interesse. Em Nápoles tu viste alguma vez o Vesúvio fumegar? Eu não.
Com um assobio Luciano fez parar um automóvel. Dois minutos depois entravam no “Casino de Paris”, enquanto um cômico inglês de nome em “or” ou em “el” ou em “ol” cantava uma canção de que só se apanhavam algumas palavras: “amour, toujours...” Mas foi-se logo, para ceder o lugar a duas falsas “girls”, tocadoras de pífaros escoceses.
Uma americana do sul veio cantar o “Último tango”. Atroz, doloroso, nostálgico. As suas ancas arrodeavam sobre o ritmo musical. E a música acentuava o seu ricto cruel. Os seus olhos eram como duas manchas escuras. Oh, céu da Argentina, tumultos das “posadas”, vestidos multicores de “chinas”, bombachas de gaúchos, cheiro de curral, churrascos fumegantes no espeto, copos de “caña”, fumaça espessa de cigarros, lamentos de violões... há de tudo isto na música e no movimento das ancas musculosas!
— Estás-te divertindo, Susana?
A segunda parte do espetáculo era uma revista em que a Mistinguett das pernas inesquecíveis dançava a dança do “delirium tremens”, que se comunicava às lanternas japonesas penduradas no teto, e se atirava num tanque cheio de água, junto com um ator de fraque.
— Estás-te divertindo?
Susana respondeu que sim, e para mais intensamente se divertir pensou que dentro de uma hora estaria na cama, com uma grande camisa de “foulard”, ao lado de Luciano.
Nós, homens, muitas vezes, quando estamos na cama em companhia de u’a mulher, para nos aborrecermos menos pensamos que dentro de algumas horas iremos dívestir-nos assistindo a um espetáculo de “variété”.
* * *
Na manhã seguinte, Susana pintou o rosto sozinha. Bastara uma lição. As mulheres aprendem logo esta arte, por uma predisposição hereditária que remonta à primeira mulher. Segundo Diderot, só uma coisa se conseguiu ensinar às descendentes de Eva: usar bem a folha de figueira.
Na febre da criação, Luciano quisera fazer tudo em menos de uma semana, para repousar no sétimo dia, como já fez aquele outro Eterno Megalômano (a Gênese, primeiro livro de Moisés), que depois a ciência demonstrou ser um vulgar mistificador.
Mas, se não devia ser difícil criar o céu, a terra, o fogo. a água, a honra, o lobo, o cordeiro, a cigarra e a formiga, quando ainda não existia nada de nada, não é igualmente fácil construir u’a mulher nova sobre outras já terminada e abençoada, em que se tem de começar por uma obra de demolição.
Sua mãe, a vulcânica dona Clotilde, tremenda devoradora de homens, mantivera-a numa ignorância claustral. E Luciano, que nos gestos individuais de homens e mulheres estava habituado a ver, não a vontade dos indivíduos, mas a vontade de toda uma raça, de toda uma estirpe, de toda u’a milenária árvore genealógica, tinha a impressão de que a estirpe a que pertenciam Susana e Clotilde tivesse gasto em Clotilde toda a sensualidade, sem deixar nada de sobra para as veias de Susana. Em Clotilde havia milhares de mulheres condensadas numa só; havia tanta feminilidade, tanta passionalidade, tanta loucura erótica, que a estirpe depois dela devia sentir-se esgotada.
Em Susana ele suspeitara u’a mulher de todo oposta à mãe.
Suspeitara, mas não tinha certeza. E, casando-se com ela, dissera:
— Ou encontro nela u’a mulher como a mãe, e nesse caso serei feliz porque me parecerá estar de novo com ela, no tempo em que ela se dava a todos ou outros. Ou então encontro em Susana a mulher oposta, e nesse caso será para mim a imersão na paz, o repouso num oásis de pureza.
Luciano enganara-se formulando uma e outra hipótese. Falar da mulher, julgá-la, fazer suposições e prognósticos, e tirar conseqüências, é um exercício vão. A pedra filosofal e a quadratura do círculo, o moto-contí-nuo e o método para se ganhar na roleta são objetos de exercícios menos falazes, de experiências menos absurdas de reduzir a fórmulas um método de análise da alma e dos nervos femininos.
Susana era uma rapariga ignara; era o oásis de pureza, o banho de serenidade; mas, depois do primeiro dia de amor, aquela sua alma pálida, opaca, cinzenta, mostrou os primeiros sinais de caracteres intimamente ocultos.
Um tratamento progressivo de amor age sobre a alma latente de uma rapariga como o banho revelador sobre uma chapa fotográfica.
Bastara uma noite de amor para fazer com que aquela rapariga que até os vinte anos não tinha posto no pescoço um grãozinho de pó de arroz, nem sequer para enxugar as faces, agora se pintasse com a habilidade de uma atriz após triênios e triênios de cena.
— E como é que se aplica o “henné” — perguntou espontaneamente Susana ouvindo-lhe elogiar o perfume dos cabelos enruivados por aquela erva exótica.
— É simples: antes de tudo se descoram os cabelos com água oxigenada, um produto comuníssimo que até as dominicanas descalças conhecem. Depois se prepara uma pasta com água e “henné” em pó. Aplica-se esta pasta aos cabelos, enrola-se a cabeça com uma tela, e depois de uma hora se lava, repetindo a operação até conseguir a coloração mais ou menos intensa que se deseja.
— E para conseguir a coloração que te agrada?
— Basta uma vez. Eu gosto do loiro claro como uma liga de cobre e prata.
— Agora tu vais-me ensinar todas as coisas belas que sabes, Luciano? Disseram-me que certos livros não se lêem porque dizem muitas coisas más. Pois bem, eu tenho a impressão de que tu és toda uma biblioteca de obras proibidas.
Estavam diante da “étalage” de um livro no Bulevar dos Italianos. Em Paris entendem que para comprar um livro não basta ter-se ouvido falar nele, ou lido uma crítica, ou ver a capa através de um vidro, mas precisa-se pegá-lo nas mãos. Alguns senhores folheavam, com efeito, os últimos “vient de paraître.”
Susana leu títulos ao acaso:
— “Les éphèbes et la femme hidropique. Le bain rouge. Le première nuit au couvent. Combat de femmes. La bouchère nue. Les castrats. Le médicin avorteur”. Que é, Luciano, “médecin avorteur”?
— Uma parteira como outra qualquer.
— “Les sonnets abominables” — continuou Susana —. “La montée aux enfers. Le châtiment du luxurieux...” Oh, que maravilhoso sortimento hei de fazer antes de partir...
Sob um livro de capa impudica, cochilava, abandonado, um volumezinho fino, de Lamartine, aquele que o tornou célebre de um dia para outro. Devia sentir-se constrangido, aquele honesto livreco. Oh, bem-aventurados os tempos em que algumas ternas elegias faziam a glória de um homem! Hoje, para se fazer conhecer, a gente precisa suplicar à critica que não se ocupe de nós, ou que se ocupe para dizer mal!
Numa vitrine de casa de modas erguia-se longa fila de sombrinhas que tinham como cabo um ídolo oriental.
— Gostas?
— Não! Luciano; não gosto dos ídolos japoneses, chineses, hindus, nos móveis, pesa-papéis, nas sombrinhas. Não gosto por um sentimento de respeito à crença dos outros. Se numa rua de Bombaim ou de Pekin ou de Yokohama, num guarda sol de senhora, tu visses um crucifixo, que dirias?
— Diria que o cristianismo serviu para alguma coisa, finalmente. Para fazer cabos de guarda-sol.
Naquela noite foram jantar num estabelecimento eminentemente parisiense, no bairro do Odéon. Pertencia a uma “ex-grue”, carregada de jóias, de reminiscências literárias e de autoridade, que se julgou no dever de contar uma anedota sobre um dos seus fregueses ilustres: Verlaine.
— Verlaine um dia apareceu aqui com duas mulheres: duas de uma vez! Ele que... Pois bem; antes mesmo que eu tivesse tempo de me congratular com ele e espantar-me, justificou-se:
“— Eh, madame, on ne peut pas toujours être pédéraste!”
Luciano tentou um terço de sorriso. Susana, um quarto.
— Que ordenam, senhores? “Hors d’oeuvre”?
Susana fez uma observação tola, dessas observações tolas que fazem as meninas quando excepcionalmente vão a um restaurante.
— Em Paris — disse — em todas as mesas há sempre um pote de mostarda. Na Itália, palitos.
— É que lá — respondeu Luciano como se responde às meninas tolas — lá se estragam os dentes; em Paris se estraga o estômago.
A sala estava repleta de clientes de cabelos compridos e gravata esvoaçante. Estudantes da Sorbonne, de boina, com o cachimbo abandonado entre um copo de vinho tinto e um livreco amarelado. Mulherezinhas de espécies difíceis de classificar; dactilógrafas intelectuais, virgens viciosas, “cocottes” românticas, sentimentais reincidentes, histéricas com intermitências, pares de lésbias inseparáveis, cortesãs de freguesia certa, meretrículas principiantes, estetas de cabeleira grisalha que há trinta anos passeiam a fama de artistas de belo porvir.
Um professor de pugilismo.
Um mestre de dança.
Um lente de história.
Qual será o mais útil dos três?
Sobre um estrado, no fundo da sala, um piano e três instrumentos de arco. A violinista era, naturalmente, primeiro prêmio do Conservatório. Não sei se tocava bem, mas tinha por certo duas belíssimas pernas.
Susana observava, mastigando “pâté de foie gras”, o aspecto mortificado do tocador de contrabaixo.
O tocador de contrabaixo tem sempre um ar mortificado, nunca compreendi por quê.
As orquestrazinhas como aquela dão a impressão de pequenas famílias honestas, que vivem em certa harmonia, e de que o contrabaixo é a sogra benigna.
Se a gente dirige a palavra ao contrabaixo, ele tem sempre um ar de quem se desculpa por tocar um instrumento tão grande.
Quando terminam, os membros desta família vão-se para casa conversando com certa animação; mas o contrabaixo sai sempre por último, com a desculpa de vestir o impermeável no seu instrumento. E na rua fica sempre alguns passos atrás dos outros, e na conversa balbucia de vez em quando um monossílabo (sim, não, mas), como aqueles raros golpes de arco que dá, com intervalos.
— Gostas de presunto de York com rodelinhas de limão?
Entrou uma florista esguia e pálida, oferecendo silenciosamente a sua mercadoria. Ela e as suas flores tinham o mesmo aspecto, como se das flores e dela se evaporasse a vida.
— “Des roses d’Italie, madame, comme vous.”
— Teria lido na minha cara? — admirou-se Susana.
— Não — respondeu o marido —. Compreendeu-o pelo teu gracioso “zézayement” e pelo modo como pronuciaste “merci”.
* * *
Terminaram a noite numa “boîte à chansons” — “Les Noctambules”, no Bairro Latino, onde se cantam todos os fatos do dia, notáveis como a moda, a literatura, os escândalos, ou insignificantes como a política: não é sem razão que “ce qui ne vaut pas la peine d’être dit, on le chante!”
É um ponto de reunião para intelectuais, todo impregnado de arguta espiritualidade. Um ignorante qualquer não se teria podido divertir com o genialíssimo diálogo entre Corneille e Molière, que fechava o espetáculo.
Luciano estivera alguns anos antes naquela “boîte à chansons”, com u’a mulher incomparável. Ocupavam aquelas duas “fauteuils d’orchestre” onde agora estavam sentados um gordo senhor e u’a mulher efêmera que podia ser sua filha ou sua amante, ou filha e amante ao mesmo tempo. Tudo é possível nesta podridão esférica que gira com uma constância burocrática em torno do sol.
Luciano passara com aquela mulher um mês de amor intenso, cheio de sobressaltos e de ameaças, de lágrimas e de perdões.
Fora ela a mulher que aos seus olhos valorizara Paris.
Nós, sentimentais ictéricos, não sabemos admirar um jardim público, uma nesga de oceano, um trecho de paisagem, senão através do amor de u’a mulher. E quando vamos a um ponto qualquer da terra com u’a mulher, fazemos o juramento de nunca mais, depois do abandono da mulher, passar por aquele ponto, para não morrermos de pesar e de dor.
Luciano também, abandonado pela mulher incomparável, após um mês de amor parisiense, dissera:
— Aqui tudo me falará dela.
E agora lhe bastava estar perto de Susana para que nada mais lhe falasse da outra! E se, voluntariamente, voltava o pensamento para a mulher que amara com tanta loucura, sentia poder fazê-lo sem a menor sombra da saudade.
Abandonados por u’a mulher, julgamos não poder viver, porque nos dois ou três dias que seguem a separação não nos lembramos mais de que existem outras mulheres no mundo. Mas se, fugindo à solidão do nosso quarto, saímos à rua, as primeiras pernas femininas que passam fazem baixar de duas ou três linhas a coluna mercurial do nosso ridículo desespero.
— Em que pensas, Luciano?
— Em que sou feliz de estar contigo aqui. E tu?
— Também.
Luciano mentira. Susana também; mas corrigiu-se:
— Se fôssemos para casa?
Para esquecer em parte u’a mulher distante, basta aproximar-se mais da que se tem ao lado.
Mas, para não ter absolutamente mais saudades dela, não existe senão um remédio: o aconselhado por Susana: aproximar-se muito, muito da outra mulher; aproximar-se do modo mais aderente que se pode.
* * *
— Visitaremos todos os museus — disse no dia seguinte Luciano a Susana, entregando a sombrinha molhada (presente de um primo) ao guarda-roupas do Louvre —. Mas não os visitaremos como recém-casados, com o catálogo nas mãos e o cicerone a estorvar-nos.
— Por que — perguntou Susana subindo as escadas do museu — falas de nós como dois recém-casados?
— Porque o somos há três dias.
— Mas eu não me sinto mais assim. Parece que já me fundi intimamente contigo, como se as nossas vidas já se tivessem unido há muito tempo.
— Entretanto, — respondeu Luciano guiando-a para a frente de um pequeno quadro de paisagem — entretanto ainda há em ti a casadinha um pouco arisca e desorientada.
Susana contemplou-se no vidro que cobria uma pintura a pastel e respondeu, admirando-se:
— Não me parece.
Quando se entra num museu, começa-se por observar diligentemente todas as obras, mesmo as de menor importância, e à medida que se avança pelas sucessivas esvoaça-se sobre elas; porém deixam-se para trás obras-primas de fama mundial e imortal sem sequer olhar para elas.
Uma tela de Carpaccio: “A pregação de Santo Estêvão em Jerusalém” atraiu a atenção de Susana.
— Como eu teria sido infeliz naquela terra onde não havia sequer uma vitrina! Diante das vitrinas passaria a minha vida.
A mãe também gostava muito delas; mas não se contentava com as vitrinas: queria também entrar na loja, especialmente quando estava com um homem.
— “A Fonte”, de Ingres — leu a esposa por baixo do nu admirável —. Não te parece que esse corpo seja como o meu?
— Sim — respondeu o marido sem convicção.
Um homem de trinta anos teria acrescentado: Mas o teu me agrada mais.
Um homem de vinte anos teria mentido: Mas o teu é mais belo.
Desceram às salas de escultura. A mutilada Vitória de Samotrácia, de pé na proa, toda vibrante como o vento e palpitante de fervor, comoveu-os. Luciano rodeou com o braço a cintura de Susana, e olhando intensamente para a escultura, apertou a mulher de escontro a si, com amor.
Aquele que, olhando uma bela obra de arte ou um belo horizonte, não sentiu profundamente a necessidade de estar perto de u’a mulher para lhe comunicar a sua comoção, é uma alma de droguista, de oficial da ativa ou de professor, mas não é uma artista.
Se, diante da Vitória de Samotrácia, não tiveres u’a mulher que abraçar, e és um artista, não poderás olhá-la e serás obrigado a ir-te embora, para não sofreres.
Luciano sentiu que amava muito mais Susana. Saíram. Na Praça do Carroussel a mulher se virou.
— Lembra o castelo de Valentino — disse.
— Sim, como uma esmeralda lembra uma ardósia.
Atravessaram as Tulherias, jardim tão vasto, tão fresco, que parece criado para fazer ressurgirem os amores e os sonhos dos desiludidos.
— Tens fome, querida?
Entraram numa sala da Rua de Rivoli, onde se dança. Expressão um pouco vaga, porque em Paris se dança em toda a parte. Com o calor produzido pelas pernas dançantes de Paris podia-se fazer derreterem todos os “icebergs” do Oceano Ártico. Parece que não se pode mais passar de um lugar para outro, senão caminhando a passo de “fox-trot”. Veio a moda dos chás-tangos e das conferências-valsas. Talvez dentro em breve se inventem o chá-execução capital, o vermute-comemoração dos defuntos, o absinto-necropsia, o aperitivo trepanação do crânio. Hoje temos necessidade de emoções violentas, e por violentas que sejam, não nos bastam mais.
Tocavam música de Rimsky-Korsakov, o príncipe do ritmo; e no seu tema espanhol havia fandangos, tangos e boleros. Alterando com aquela música, tocavam também “miousic” musicazinha leve, para mexer as pernas, enlaçar os corpos, atormentar reciprocamente terminações nervosas.
“Miousic” para os membros.
Música para o espírito.
Os sentidos e a inteligência completam-se admiravelmente em Paris.
— Por que é — perguntou Susana roendo um “sandwich à la salade” — por que é que na sala das estátuas gregas diante de um nu, tu me disseste: “pena é que aquela mulher não tenha meias!”? Tinha pernas admiráveis e magníficos pés!
— Sim — assentiu Luciano, seguindo com o olhar distraído uma “professional beauty” que dançava em grande estilo com um efebo de rosto pálido, açucarado e vicioso —. Sim. Aquela estátua tinha pernas suportáveis, mas as pernas, para serem perfeitas e excitantes, devem ser modeladas pelas meias de seda. A mulher nua não é excitante para um homem moderno. É preciso que os tornozelos, as pernas, os joelhos sejam embainhados numa tela transparente, para terem graça. A pele sulcada por veias avermelhadas, é ponteada de pêlos, é interrompida por leves asperezas que a seda esconde, por depressões que a malha suprime.
“Eu — continuava Luciano — quando vejo uma perna feminina nua, para excitar-me preciso pensar em como seria se estivesse apertada u’a meia de seda. Os outros homens, à vista de um corpo vestido, exaltam-se imaginando-o nu. Em mim dá-se este estranho paradoxo, que para me excitar à vista de um corpo nu sou forçado a imaginá-lo vestido.
“Se um dia tiver necessidade de trabalhar para viver, abrirei uma galeria de reproduções clássicas, às quais farei u’a modificação; vestir meias em todas as estátuas nuas; as de mulher, entende-se. Imaginas a Vênus Capitolina de meias?
— Sim. E imagino também a Vênus Anadiômene saindo do mar, com as meias molhadas.
Luciano continuava a olhar para a “professional beauty” enlaçada, aderente ao jovem pálido, que ao som da música a fazia recuar contra uma parede ideal, como para impedi-la de se furtar ao seu desejo.
Certos animais que vivem debaixo da terra — as toupeiras? — têm um modo interessante de fazer o amor: como a cerimônia é dolorosíssima para a fêmea, esta se esquiva com terror ao macho que a quer cobrir. Então o macho impele-a para o fundo da toca, de encontro a uma parede que a detém.
A dançarina recuava assim: em direção à parede. E atrás da parede havia gabinetes reservados, com flores, champanha e “dormeuse”.
* * *
Naquela mesma noite, quando à meia-luz da lâmpada velada Luciano levantou as duas pétalas da camisa de “foulard” para descobrir o corpo nu de Susana que o esperava com os olhos semicerrados e a boca semi-aberta, apareceram-lhe sobre os joelhos duas coroazinhas de rosas que prendiam sobre a carne branca o início de duas sombras de seda preta, de tênues reflexos, que se estendiam até à ponta dos pezinhos.
E notou também que os biquinhos dos seios estavam pintados de vermelho.
* * *
Empregaram os outros dias em visitar os “mauvais lieux” de Montmartre, em “bibeloter” nas lojas dos antiquários do Faubourg Saint-Honoré. Um destes, quando soube que Luciano tocava violino, ofereceu-lhe um Stradivarius autêntico.
— Todos os dias se encontra um novo Stradivarius — observou com graciosa hilaridade Susana —. São como os Mil de Garibaldi, de que todas as semanas morre um, e sempre sobram outros. Vê-se que tiraram novos exemplares.
Visitaram os grandes armazéns que ocupam todos os andares de dois ou três palacetes e empregam milhares de senhoritas, entre caixeiras e “vendeuses”. Ali se podem comprar todos os móveis de uma casa ou um simples cartão-postal, podem-se gastar milhões ou tomar chá de graça.
Uma noite ouviram Sarah Bernhardt numa tragédia cujo primeiro ato se passava num templo oriental, e Susana divertiu-se bastante ouvindo aqueles sacerdotes do antigo Orente que falavam francês.
A grande atriz que foi bela, que foi desejada e amada durante tantos anos, e que agora, destruída pelo tempo, voltava ainda à cena para respirar a luz ilusória da ribalta, aquela grande atriz em cuja voz soluçava a idade avançada, fez-lhe uma grande pena.
— Envelhecer, — disse ela — que coisa espantosa! Luciano, Luciano, quando eu não te agradar mais!
Ele não respondeu, mas pensou que quando Susana não o agradasse mais, sofreria por não agradar mais a outro.
— Aos trinta e cinco anos — disse Susana — u’a mulher é velha. Eu só tenho quinze anos na minha frente.
— Não é verdade, querida! O rosto envelhece depressa mas o corpo conserva-se jovem. Quando u’a mulher chega ao declive da colina, deveria no seu vestuário inverter os papéis: ocultar o rosto sob espesso véu, e desnudar completamente o resto.
“Prescrever que aos trinta e cinco anos as mulheres andem completamente nuas, sem nada velado fora o rosto: é uma providência que se impõe. Mas, como nos nossos países jesuítas é difícil introduzir-se esta salutar inovação, criou-se a arte de rejuvenescer aparentemente o rosto. E quando o rejuvenesceram na aparência é como se o tivessem rejuvenescido na realidade.
“Com os retoques, com o pó, com os cremes, com as tintas, u’a mulher pode diminuir dez anos ao tempo!
— Mas, se eu me pinto desde já, — objetou a mulher mirando-se no espelhinho da bolsa — que poderei fazer daqui a vinte anos?
— Agora te pintas para ficares mais bela; então te pintarás para parecer mais nova. Hoje, com a maquilagem não há mais mulheres feias; a velhice é o único defeito que resta: aliás já era assim nos tempos de Jezabel. Ouviste? Átala diz que viu em sonho sua mãe ocupada em “réparer des ans l’irréparable outrage.”
— Que grito desolador soltou Sarah Bernhardt ao dizer esse verso! Se soubesses quanta pena me dão aquelas mulheres que, chegando aos trinta e oito anos, em vez de descerem do pedestal em que a sua juventude as colocara, procuram subir mais alto ainda!
Susana se anuvíou repentinamente pensando na mãe.
— E tu achas — perguntou ao marido, como para afastar a aparição — que u’a mulher de quarenta anos ainda possa ser amada, enquanto rola fragorosamente para o fim?
— Para um homem que a encontre naquele momento pode ser desejada por um capricho. Um homem excitado por certa abstinência contenta-se até com uma velha. Mas só um homem que a tenha amado quando era ainda relativamente jovem, pode amá-la durante a sua queda para a ruína.
Mas as mulheres daquela idade jamais compreendem qual deve ser o seu último amante, porque não sabem mais julgar o próprio valor. Ninon de Lenclos disse que quando as mulheres passam dos trinta, a primeira coisa que esquecem é a idade. Quando chegam aos quarenta, perdem totalmente essa noção.
No palco bateram três golpes. Começava o terceiro ato.
Susana e Luciano apertaram-se mais de perto e calaram. Susana olhou o chapéu de uma senhora.
* * *
U’a manhã Susana não saiu e pediu a Luciano que a deixasse só.
E quando ele voltou para levá-la a almoçar, foi ao seu encontro com a cabeleira ruiva flamante, perfumada de “henné” e ainda úmida e mole.
“Já lhe ensinei três coisas — refletiu Luciano: — a tingir os cabelos, a pintar-se, a conservar as meias durante os prelúdios e as cerimônias de amor.
“Só me falta uma coisa a ensinar-lhe:
“A enganar-me bem.
“Haveria ainda outras, mas essas incumbe ao seu amante ensinar-lhe.”
Terceira parte, em que a discípula dá as mais amplas provas de ter bem aproveitado os ensinamentos recebidos.
Oito da manhã.
A encarniçadamente loira e quarentona dona Clotilde estava na cama — só, desta vez — em sua casa.
“Como é delicioso — pensava, deitada de costas e passeando o olhar em torno sem ver nada — como é delicioso chafurdar na moleza tépida dos lençóis finos, respirando o ar fresco e verde de maio, com os cabelos soltos, as mãos cruzadas sob a nuca, recordando as tolices das amigas, e convencer-se de que ontem, na casa de Papi, era eu a senhora mais elegante!”
Entre as várias cartas que a camareira lhe trouxe, escolheu uma escrita numa grafia imitando sementes de melão:
Paris (a quantos estamos?)
Mãezinha querida,
sou tão feliz! Luciano me adora eu adoro Luciano. Adoramos-nos como dois, procura-me uma comparação; como dois deuses; não: não calha porque os deuses fazem-se concorrência e portanto se detestam.
Comprei 50.000 francos de vestidos na Drécoll, um par de brincos maravilhosos no Lacloche e não sei mais quantos chapéus por aqui e por ali.
Chegaremos breve. Luciano te cumprimenta. Recebe muitos beijos da tua não mais Susana mas
Susy.
P. S. Prepara-te para me veres mudada e aperfeiçoada. Não me reconhecerás mais.
Outro P. S. Relendo vejo que faltam muitas vírgulas. Ponho aqui meia dúzia ,,,,,, que distribuirás pelos lugares em que houve absoluta necessidade delas.
Susy.
— As outras leremos depois — disse a senhora enfiando o chambre.
O banho estava pronto. A criada derramou, como todas as manhãs, uma garrafa de água-de-colônia que tornou hialino o líquido morno da banheira.
Para consolar a senhora Clotilde, um tanto comovida pela partida de Susana, Luciano apresentara-lhe um seu amigo, o doutor em química Paulo Flamini, diretor técnico de uma fábrica de dinamite e pólvora para fuzil, e que gostava de mulheres maduras.
A senhora Clotilde causara-lhe boa impressão, conquanto ele notasse que os olhos estavam um pouco pisados e que a curva mole em baixo do queixo estava um tanto caída demais.
Mas o resto do corpo — admitira — era ainda material utilizável. As mulheres quarentonas têm sobre as jovens esta vantagem: se para fazer cair uma jovem se gastam duas horas, para a velha bastam dois minutos. Às vezes não se precisam nem destes, porque é ela própria que nos procura. Basta conceder-lhe a honra de um olhar para ser da gente.
— Se vier à minha casa — prometera ele — mostrar-lhe-ei todo um mostruário de pólvoras com fumaça e sem fumaça, para acendimentos e percussão. Eu moro num recanto sossegado, escondido, em Valsalice.
— Escondido? Não há perigo?
— Não, senhora. Não há perigo de explosões.
— Não queria dizer isso. Não há perigo de o senhor se inflamar mais depressa que as suas pólvoras?
— Absolutamente não, senhora. Sou refratário e incombustível.
Quando Susana e Luciano ficaram no trem, com destino a Paris, em peregrinação de amor, a senhora Clotilde sentiu um nó na garganta, e foi-se para Valsalice, à Vila Taciturna, à casa do doutor Paulo Flamini.
No jardim do doutor Paulo Flamini trepava ao longo do muro da vila uma acácia. Aquele grande especialista em mulheres no declínio tinha predileção pela acácia, pois os seus pálidos e perfumados corimbos conservam-se belos e fragrantes mesmo depois de começarem a murchar e até depois de secos. A mulher em decadência e a acácia murcha têm uma fragância única, intensa, que exalta e esgota.
De volta da Vila Taciturna a senhora Clotilde trouxe para casa uma braçada de acácias que espalhou pelos vasos de todos os quartos: e havia tantas que para hospedá-las teve que deitar fora alguns ramos de flores núpcias que trouxeram à noiva augúrios de felicidade.
E quase todas as tardes, durante um mês a fio, a senhora Clotilde voltou para casa com um feixe de flores branquíssimas para substituir as do dia anterior, amareladas que nem marfim velho. A ela não agradavam as acácias murchas. Causavam-lhe melancolia. Gostava das flores e dos homens louçãos, ainda não desabrochados, aqueles homens que só têm sorte com as mulheres em liquidação.
Mas o doutor Flamini já não era um adolescente: era um homem. E que importa? Uma mulher com quarenta anos já não pode escolher o que deseja: tem de pegar o que encontra: e de costume encontra um homem que se resigna a ela ou porque o horário do seu escritório não deixa tempo para andar à procura de u’a amante melhor, ou porque compreendeu que para as necessidades cotidianas todas as mulheres se equivalem. À idade de Clotilde as mulheres nem sequer recitam mais os compassos iniciais da comédia da recusa. Oferecem-se e ainda agradecem.
Oferecem-se inconscientemente, julgando-se solicitadas, pois a mimosa decadência, a agonia sensual e sentimental de u’a mulher é ainda oxigenada por um supremo bem: a ilusão. A mulher se desfolha e seca sem se dar conta. Quando diz: “Estou velha” diz uma coisa que não pensa.
Aos vinte anos as mulheres julgam velha uma senhora de vinte e oito; aos vinte e oito consideram decrépita uma de trinta e cinco.
E passam elas também, por sua vez, através destas idades progressivas, sem reconhecer sobre o próprio rosto as rugas, a cor tenra, os olhos cobertos de veias, a bolsa das órbitas, o amolecimento cadavérico que descobriram nas outras. Para cada sinal de destruição encontram uma fórmula de consolo:
— Os cabelos brancos? Oh, u’a amiga minha encaneceu aos trinta anos, e minha mãe aos quinze já tinha u’a madeixa de prata!
— As rugas? Mas não são rugas. São “plis d’expression”. Acentuam-se quando rio. Por que me fazes sempre rir? Fazes-me criar rugas.
— Os olhos? Estão vermelhos porque chorei, por que me fazes chorar sempre?
— O seio caído? É anemia. Mas agora vai ficar rijo.
— Os bigodes? (sinal de menopausa iminente). São pelinhos moles que fiz a “asneira” de arrancar.
E enquanto isso o rosto se decompõe sinistramente; os olhos que há dois ou três anos eram ainda maravilhosamente belos, vemo-los agora apequenados, flutuando sobre uma pele flácida e negra, como os olhos dos elefantes. Contudo, não se decidem a abdicar. Procuram, procuram desesperadas a aventura, como peixes que andam quilômetros e quilômetros de boca aberta.
E o tempo passa com rapidez vertiginosa, para a mulher. Mas para o homem que a ama é ainda demasiado lento! O homem que a ama quisera vê-la envelhecer, afear-se mais rapidamente ainda, para amá-la só ele, para que nenhum outro a deseje. Cada vez que somos abandonados por u’a mulher, que ainda amamos, quiséramos que o tempo destruísse os últimos restos da sua beleza e da sua sensualidade, a fim de que ninguém, depois de nós, pudesse gozá-la. Entretanto, por velha que ela seja, sempre encontrará alguém. Assim como não existe o primeiro amante de u’a mulher, assim também não existe o último. Esta fora a grande tragédia da vida de Luciano. Que Clotilde, apesar dos seus quarenta anos, tivesse ainda alguns meses de amor na sua frente! Ainda dez amantes, cinqüenta aventuras, uma centena de uniões ocasionais! É como a madeira apodrecida que ainda tem algumas fosforescências.
E para não pensar nesta tragédia é que Luciano se casara com a filha.
* * *
Um dia, como de costume, a senhora Clotilde bateu à porta do doutor Flamini; esperou, bateu mais forte, esperou ainda, afastou-se virando-se para trás uma vez, e regressou à casa sem acácias.
O marido — um homem “mi figue mi raisin” — notando os vasos vazios, observou:
— Afinal acabaste com a mania das acácias. Durou um mês.
E Clotilde respondeu com um fiozinho de voz:
— Sim, durou um mês.
À meia-noite e um quarto Clotilde e o marido iam no seu automóvel particular esperar o casalzinho que chegava de Paris.
A chegada de uma viagem de núpcias é um episódio muito simples: tudo se resume em duas ou três etiquetas de hotéis pregadas nas malas; um ar satisfeito da vítima imolada; o esposo um pouco pálido, um pouco magro...
Abraços.
— Não, nada que pague imposto. Roupas brancas, vestuário.
Como, porém, ambos estavam cansados, quiseram ir logo para a sua casa, preparada expressamente para recebê-los (flores, lençóis novos, toalhas ainda cheirando a goma, sabonetes ainda embrulhados, cheiro de cera fresca nos pavimentos).
— Obrigada, mamãe. Vão para casa. É tarde e tu também deves estar cansada. Sabemos o caminho.
À volta de um enterro e da viagem de núpcias díspensam-se as visitas.
* * *
A lua de mel, isto é, aquelas quatro semanas passadas nos hotéis e nos museus, não serve mais que para pôr uma virgem no estado de funcionar. O verdadeiro bem-estar, se de bem-estar se pode falar no casamento, começa no dia em que regressam à casa. Só então termina o período preparatório.
Mas o caso de Susana é diverso. Tendo chegado aos vinte anos numa cristalina frigidez, numa ignorância inerte, num estupor de instintos que quase fazia duvidar da sua inteligência, de improviso despertou.
Era o homem que a acordava.
O amor não se limita a dar seios à mulher, a alargar-lhe as cadeiras, a dar-lhe o aspecto matronal, a fazer mais firme o seu olhar, mas atua sobre a inteligência, sobre o caráter, sobre a sensibilidade.
“Num mês de amor — refletia Luciano quando ficava só com os seus pensamentos — transformei esta rica provinciana em mulher elegante; de tolinha fi-la inteligente; de frígida, sensual.
“Depois de um curso apressado de um mês de sensualidade, aprendeu todas as fórmulas que a sua mãe conhecia depois de vinte anos de amor. Os mesmos gemidos, as mesmas contrações, os mesmos movimentos. Mas então — pensava Luciano — que diferença existe entre esta mulher que só eu possuí, durante um mês, e aquela outra que inúmeros homens possuíram durante vinte anos a fio? Aquela outra que contou trezentos amantes e três mil aventuras e demonstrava, nas coisas de amor, uma versatilidade impressionante, não tinha no entregar-se nada de diverso da filha, que há um mês era ainda fechada, lacrada, cosida como um envelope registrado! Em vinte anos de amor, sua mãe repassou duas gerações de homens; para ser-se modesto nas cifras, terá sido possuída sete mil vezes. Pois bem, estes sete mil contactos não criaram modificações na sua carne e nos seus nervos, se eu, possuindo-a, sentia a mesma coisa que sinto quando possuo a sua filha, que foi iniciada há um mês apenas.
“E nós, homens insensatos, somos ciumentos a ponto de nos submetermos ao ridículo, de nos arruinarmos, de matarmos, se sabemos que a nossa mulher nos enganou. Uma traição que é? Que importa um contacto amoroso com um estranho, quando vemos que não transformaram nada os sete mil contactos?
“O ciúme é um erro dos nossos órgãos dos sentidos, que são atrozmente imperfeitos. Um ignorante que contemple uma estrela julga-a objeto pequeníssimo e muito próximo, ao passo que em verdade é imensamente grande e imensamente distante. Uma bengala mergulhada na água parece quebrada a partir do ponto de imersão, e a consideraríamos realmente quebrada se o raciocínio não nos tirasse do erro. Analogamente, por um erro em que incidem os nossos órgãos dos sentidos, quando sabemos que a nossa mulher ou a nossa amante se deitou com outro, o nosso corpo, os nossos nervos experimentam indizível sofrimento que, porém, o raciocínio não basta para atenuar.
“E por que sofremos?
“A infidelidade passageira da nossa mulher, de que nos priva, em que nos prejudica?
“O ciúme é uma paixão absurda, injustificada. Oh, admiráveis, mil vezes admiráveis os esquimós que não o têm! Oh, inteligentes aquelas tribos da África, em que ao hóspede se oferece a mulher, como entre nós se oferece uma cadeira, um cigarro, um café!
“A traição não transforma nada no corpo da mulher e nada muda, tampouco, na sua alma. As aventuras ficam na alma da mulher, como aqueles bonecos feitos a lápis nas mesas dos cafés, que se tiram com uma lavagem.
“A recordação do pecado, na mulher, não resiste uma lavagem.
“Uma lavagem vaginal.”
* * *
Entretanto nós, que nos damos conta da nenhuma gravidade da traição, se fôssemos enganados sofreríamos como qualquer marido imbecil.
Sabemos que a adúltera engana com o corpo; mas todo o seu afeto continua com o homem a quem trai; sabemos que a mulher que se abandonou entre os braços de outro, voltará a nós exatamente imutável nos seus sentimentos e nos seus sentidos; mas a fera que vive em nós não admite razões.
O cérebro dá ao adultério o seu justo valor; se as culpas se medissem pelo sistema métrico decimal, o adultério se deveria medir aos centimiligramas, como a estricnina. Mas o raciocínio do cérebro não age sobre os nervos, que experimentam, por automatísmo, um único: matar!
O homem cético que ao adultério dá o seu justo peso, julga de acordo com uma estimativa sua, fruto de muitas outras estimativas suas. Mas sobre os seus ombros pesam séculos e milênios de sentimentos que sufocam as idéias rebeldes.
Através dos séculos transmitiu-se até nós o ciúme, como uma doença hereditária que a razão não consegue domar. O homem ciumento, que procura com sensatos raciocínios frear o próprio ciúme, é como um epiléptico que quisesse com o bom-senso refrear as suas convulsões.
— Eu te amo, Susana. Amo-te como nunca teria julgado possível amar-te. Amo-te e tenho ciúme de ti. Não sei o que seria capaz de fazer se tu me enganastes.
— Mas eu não te enganarei.
— Enganar-me-ás, Susy, num dia próximo ou remoto. Pois, ouve. Estás ouvindo?
— Estou — sorriu Susana.
— Não rias, Susy — advertiu Luciano.
— Não rirei — riu à boca escancarada a bela senhora.
— A infidelidade da mulher é, segundo o meu modo de ver, um fato insignificante. Mas como eu sofreria com ela, sendo feito também da mesma massa que os outros homens, e como sentiria odiar-te sem possibilidade de perdão, seria capaz até de te fazer mal.
“Eu não sou militar, e portanto não teria a maçada de ter que me bater.
“Não sou magistrado e não teria de pedir demissão.
“Não sou siciliano, não dou importância àquele pretexto para mexericos de porteiros que é a honra de marido, não me agrada ver o meu nome nas crônicas negras; e portanto não daria tiros de revólver, mesmo porque haveria perigo de acertar.
“Mas pôr-te-ia na rua.”
— Mesmo se estivesse chovendo? Filhinho, juro que não te enganarei.
— Não jures uma coisa que não depende da tua vontade. Eu não te exijo que não me enganes. Peço-te somente que me enganes de modo que eu não venha a saber. A desventura dos homens traídos consiste toda no saber que o são. Quem não sabe da própria infelicidade não é infeliz.
“Eu te peço que me enganes com muito tino, de modo que eu não só não compreenda, mas nunca me apareça a sombra de uma dúvida!
“Deverás, em suma, aprender a mentir.
“A moral e a educação desaconselham a mentira. E fazem bem, porque a pequena mentira de uso comum, passando continuamente de mão em mão, tornou-se coisa suja e vil; ao passo que a grande, a inteligente, a genial mentira é uma arte tão difícil que se precisa muita inteligência para aprendê-la.
“Tu, Susana, poderás aprender a arte da mentira e do engano.
“Tu poderás um dia enganar-me tão bem que eu te julgarei a mulher mais pura!”
Susy não conseguia tomar a sério as palavras do marido. Entretanto, um homem que nos primeiros dias de casado diga à mulher: pinta-te, compõe um novo rosto, tinge os cabelos, faze a tua cabeleira chamejante como cobre derretido; desnuda-te mas conserva as meias, porque u’a mulher nua sem um par de meias não é excitante... Um homem tão singular pode muito bem dizer à esposa: vem cá para eu te dar lições sobre a arte de enganar o marido sem que ele perceba!
Efetivamente Luciano começou pela primeira lição.
— Se encontrares um homem que te agrade — disse, procurando-lhe a mão por baixo da mesinha, no seu “boudoir”, enquanto o café pingava, através do filtro, no bojo de cristal — se encontrares um homem que te agrade, nunca me fales dele por nenhum motivo. Quando sentem simpatia por um homem, vocês não podem deixar de elogiar as suas gravatas, o seu espírito, a sua perícia em manejar o volante ou em jogar o bridge.
“Eu, neste caso, farejaria logo a insídia.
“Se um homem te agradar, faze com que eu não assista a teu “embarquemente pour Cythère”.
“Se um homem te gradar, dorme com ele, mas não mo nomeies nunca! Bastaria um gesto para me pôr em suspeita.
“Estás-me seguindo?”
— Estou.
— Quando o teu amante te ensinar habilidades eróticas que eu não conheço...
— Existem ainda habilidades que tu ignores?
— Sim. Há formas de volúpia de importação indiana e japonesa que ainda posso desconhecer. Depois, cada homem tem a sua fórmula erótica, como cada dentista tem o seu dentifrício. Além disso, há em uso certas acrobacias sensuais que eu não te ensinarei nunca por aquele respeito que devemos à mãe dos nossos filhos. Ainda que não os tenhamos.
“Se, pois, o teu amante te ensinar algum segredo da alquimia sensual, abstém-te de fazer experiências em mim.
“Estás-me ouvindo, Susy?”
— Com vivo interesse.
— Quando te acontecer qualquer coisa de notável com ele (incidentes, colóquios interessantes, fragmentos de episódios curiosos) e tu quiseres a qualquer custo contar-mos para que eu também me divirta, não digas, narrando-o, que o fato se deu com “uma das suas amigas”, como vocês costumam quando falam de si.
“Basta que u’a mulher me diga: A uma das minhas amigas sucedeu isto, para que eu comprenda logo que essa famosa e anônima pessoa é ela mesma.
“Se queres fazer-me crer, realmente, que se trata de outrem, acrescenta à palavra “amiga” muitos pormenores,
Por exemplo:
“ — Eu sei de uma senhora cujo marido faz tudo para não ter filhos. Ela tem um amante. E agora está grávida. Não sabe como se livrar. Que aconselhas tu?
“Pois bem, Susy, se dissesses assim eu juraria que estavas expondo um caso teu.
“Para evitar que eu seja assaltado pela dúvida, me dirás:
“— Eu conheço a mulher de um engenheiro hidráulico de Golfo Arancí. Agora é amante de um domador de pulgas (ou de tigres) que trabalha para o cinema. Ela é uma senhora belíssima que sofreu uma operação de cancro dos fumantes e agora está passando bem. Há anos fugiu para o Arizona com um negociante de corais de Sorrento.. — Compreendeste?
“Para dar crédito à mentira é preciso enriquecê-la de minúcias. Para fazer que as notas falsas pareçam boas cortam-se pela metade, sujam-se, limpam-se, restauram-se. Para dar sabor de verdade à mentira precisa-se enchê-la de complicações.
“Qualquer que seja o nome do teu amante, acostuma-te, na intimidade, a chamá-lo de Luciano, como eu: desse modo, quando estiveres comigo, nos momentos de distração não correrás o risco de chamar-me Estêvão, Afonso ou Gabriel.
“Quando fores à casa dele, não te empenhes por me informar que estiveste na modista, na manicura ou no armarinho. Esperarás que eu te interrogue. Então, com grande naturalidade farás ver amostras de fazendas que dirás pediste ao comerciante, submetê-las-ás ao meu juízo; contar-me-ás que fôste à confeitaria Pipino tomar um gelado sozinha ou com uma amiga de quem me falarás vagamente, mas que logo saíste porque naquela espelunca de luxo freqüentada por mecânicos enriquecidos não te sentias bem. E que então tomaste um automóvel e foste visitar a senhora Y. Z. que teve um bebê e que o amamenta.
“Poderás, querendo, fazer-me uma conferência sobre a amamentação a mamadeira e as suas fatais conseqüências...quot;
O café estava pronto.
A primeira lição estava acabada.
Susana levantou-se. Luciano apertou-a pela cintura e beijou-a na boca com um pouco de ódio e com muitíssimo amor.
Sob aquele beijo Susana torceu nervosamente a cabeça para trás e espichou a ponta da língua, como fazem as cobras quando as beliscamos na nuca.
* * *
Durante esse tempo o novo casal começava a não o ser mais.
Haviam regressado da viagem três dias antes e a sua vida tinha de tomar o ritmo normal, estável, conjugal. Convidaram para almoçar os parentes mais próximos, os amigos mais íntimos. A senhora Clotilde e o doutor Paulo (o da dinamite) encontraram-se à mesa separados por u’a amiga de Laura e um músico boêmio, que causou excelente impressão em dona Clotilde.
Luciano convidou também duas ex-amantes muito decorativas: a mulher de um juiz da Relação e a concubina de um bispo (segredo absoluto).
A concubina do bispo, u’a mulher intelectual, fora apelidada por Luciano a “Paganini da mordida”, porque sabia morder de modo admirável, como saberiam morder as feras se pudessem ser civilizadas pela música. Nem a senhora Clotilde, que em produzir vertigens superava o “vôo da morte”, possuía o poder daqueles dentinhos longamente exercitados na sagrada pele do ministro de Deus.
De vez em quando o pobre Luciano, mesmo nas suas mais loucas crises sentimentais e sensuais, tinha que fazer breves visitas à cortesã discreta, a quem o santo freguês não dava excesso de trabalho.
Uma esposa, ainda que seja um ser eletrizado e eletrizante como Susana, nunca será capaz de compreender que uma cortesã possa dar a um homem muito mais do que ela pode dar.
Em amor as mulheres comuns são simples amadoras.
As cortesãs são profissionais.
Na realidade umas e outras dão a mesma coisa, mas a “façon de donner vaut mieux que ce qu’on donne.“
Vá-se explicar isso a uma esposa!
Vá-se explicá-lo a Susana!
— Não, não, Luciano! Depois de quarenta dias de casamento não devias enganar-me! — chorava Susana em seco —. Foste miserável. Mas hei de me vingar.
Luciano procurou desculpar-se, afirmando à mulher que não dera nada de nobre, nada de si mesmo à cortesã.
— Entre o amor — disse ele — que se dá à mulher amada e o que se dá à prostituta, existe a mesma diferença que entre ler chorando um poema e consultar às pressas um horário de trem; entre tocar, vibrando, um noturno de Chopin, e rodar o disco do telefone. Para o homem que ama u’a mulher, ir à casa de uma cortesã é submeter-se a uma operação insignificante, como assoar o nariz.
— Pois bem! — jurou Susana — assoarei eu também o nariz de outro!
E enquanto o marido pegava a bengala e o chapéu para ir ao clube, Susana vestia-se para ir à casa do primeiro homem que lhe passasse pela memória.
Habituada desde muito milênios a mentir, a mulher que engana o marido, ou que engana o amante, sente a necessidade de dar a si mesma uma justificação. Susana, para explicar o seu desejo de infidelidade, recorria à idéia da vingança. Mas o verdadeiro motivo por que ela se preparava para levar a outros leitos o seu distributório de emoções consistia unicamente no desejo de trair; e o desejo de trair nunca provém de nenhuma causa: a vingança é uma justificativa educada, que serve à mulher quando, pegada em flagrante, precisa descobrir uma desculpa; e serve ao marido quando, consumado o adultério, quer perdoá-la, despojando-o de toda gravidade.
Mas o que em suma Susana procurava era outro homem, porque chegara àquele ponto de madureza sexual em que o marido não basta mais, porque ouve uma voz que lhe grita de dentro: “Fora do amor conjugal existe coisa melhor...”
Primeiro subiu à casa do pintor Gino Simonetti; um belicoso rapaz que existe realmente e não é uma criatura de romance, mas reside na Avenida Ré Umberto n.° 17. (Recomendo-o às minhas fiéis e especialmente às infiéis leitoras.)
Mas este, depois de ter escutado com muito recolhimento e com grande deferência os motivos da visita, disse-lhe:
— Ouça, minha senhora. De algum tempo para cá eu não posso mais possuir u’a mulher senão depois de tê-la submetido a um banho de anilina. De acordo com a cor dos olhos e segundo os poetas que preferem dou-lhes um colorido especial. A senhora ficará muito bem pintada inteiramente de azul cobalto. Sim — acrescentou mirando-a um pouco de viés, como os pintores olham para os quadros — sim, o seu nu deve ser suportável depois de uma boa imersão no azul cobalto. Os cabelos, porém, quisera-os de belo verde Paolo Veronese...
“Ora, neste momento tenho anilinas vermelhas, amarelas, violetas, mas faltam-me exatamente as duas cores que lhe conviriam. Por isso sou obrigado, contra a minha vontade, a recusar-lhe este favor, que pela amizade que há vinte anos me liga ao seu marido, eu me sentiria feliz de poder-lhe prestar.“
E acompanhou-a até à porta.
“É difícil fazer-se seduzir — pensou Susana descendo a escada.
— À Vila Taciturna! — disse ao cocheiro —. Em Valsalice.
E durante todo o trajeto pensou:
“Têm pretensão estes homens. Ah, zut alors! — acrescentou recordando um pouco da gíria parisiense que de vez em quando serve para desengordurar a oleosidade desta nossa língua quadrada —. E agora não vá esse doutor em química, esse fabricante de dinamite, pretender, para possuir-me, que eu me deite num colchão de algodão-pólvora!
— Vim à sua casa, doutor, oferecer-lhe o meu corpo. Tome-me! — exclamou atirando sobre uma “dormeuse” o chapéu, as luvas nu’a mesa e a sombrinha no chão.
— “Todas ninfômanas — pensou o doutor, a quem com a mesma avidez se atirara a famélica dona Clotilde. Em seguida, convidou-a a sentar-se e a contar-lhe a sua lutuosa história. Somente uma história lutuosa podia tê-la projetado com tanta violência na casa dele.
— É simplíssimo — explicou —. Meu marido enganou-me! Eu quero vingar-me enganando-o.
A sala era muito bela. Predominavam o vermelho e o amarelo, e as cortinas azuis, violetas e verdes criavam um efeito de luz que tinha muito de encantamento e de sortilégio.
O doutor Paulo serviu-lhe, num copo de Murano, um licor muito denso e muito forte, mas que não era nítro-glicerina. A senhora levou o copo à boca com uma das mãos, enquanto com a outra ajeitava um cacho de cabelo sobre a têmpora.
Susana era de fato bela. Uma beleza que lembrava a da mãe, mas aperfeiçoada pela juventude ainda não madura. Pintada, é verdade: pintada como a mãe; mas no seu rosto de vinte anos os pós multicoreg viviam, ao passo que no rosto da mãe quase que a pintura se recusava a aderir, ou aderia à pele por desaforo. A senhora Clotilde sombreava os olhos, mas o negro de carvão, escapando por entre as palpebrás, formava nos bordos uma lágrima cinzenta, ressequida.
Susana era a juventude, e Paulo compreendeu, sentiu profundamente que podia enamorar-se dela. Teria até podido gozar logo, ali mesmo, o prazer que aquele corpo fremente prometia. Mas, e depois? Depois Susana sentiria repugnância dele, que no fundo lhe servia como um instrumento para a sua vingança.
Saindo daquela casa, não voltaria nunca mais, e por toda a vida o desprezaria como se despreza o sicário de quem nos servimos.
Mas ele queria que ela voltasse.
— Não, minha querida! — recitou o habilíssimo Paulo, sabendo que uma mulher rejeitada volta —. Eu não te quero assim. Eu te amo. Amo-te desde quando eras menina, desde o tempo em que te via passar, bela e imaculada, como se deslizasses. Sofri infinitamente quando te casaste, porque te quisera ter unicamente minha, toda minha. Eu te amo como ninguém mais te ama; amo-te tanto que hoje sou capaz de dominar o meu desejo, e te rejeito. Rejeito-te por amor. Suplico-te que te vás embora e que nunca mais voltes.
E, como se veste uma criança, pôs-lhe na cabeça o capacete de palha leve, enfiou-lhe as luvas de grossas costuras, estendeu-lhe a sombrinha e acompanhou-a até a porta.
— Vai antes que eu te tome. Vai para a tua casa, e não voltes nunca mais.
Mal a mulher desceu as escadas, ele assomou à janela e viu-a sair lentamente da porta, atravessar o jardim, arrancar uma flor e atirá-la raivosamente no chão.
É o gesto ritual do desapontamento que se vê em todas as fitas sentimentais.
E desapareceu.
“Voltará! — afirmou a si mesmo o doutor Paulo — E voltará muitas vezes. A mulher rejeitada volta, como volta ao jogo, para se desquitar, o que perdeu.”
A mulher fez a pé todo o trajeto para pensar: “Mas é mesmo muito difícil fazer-se seduzir por vingança! Contudo o homem que me recusou demonstra com esse gesto ter por mim um grande apreço e um amor desesperado.
“Foi nobre, recusando-me” — repetia mentalmente ao se despir, quando se viu no seu quarto.
— A senhora condessa está servida — disse o criado batendo à porta, enquanto ela tornava a se vestir para o jantar —. O senhor conde chegou há uma hora.
Susana, entrando na sala de jantar, cumprimentou friamente o marido, que soltou o jornal e o cigarro, e afastou a cadeira para pôr-se à mesa.
— Estás ainda zangada comigo, queridinha? — tentoü sorrir —. Não me perdoas?
— Sim, perdôo-te — respondeu friamente, servindo-se de minúsculas torradinhas que caíram leves e ficaram flutuando no “consommé”.
— Onde estiveste hoje? Posso sabê-lo?
— Naturalmente — admitiu com irônica delicadeza —. Fui a Talmone tomar um chocolate frio, em que embebi dois ou três: dois, me parece: não, três, três biscoitos; depois fui à Livraria Treves folhear revistas de modas; depois passei pela farmácia para comprar glicero-fosfatos a fim de reconstituir os meus nervos estragados pelo teu louco amor; encontrei uma senhora que me pediu que a acompanhasse ao convento, onde ia encomendar bordados. Uma senhora que eu conheci na estrada de ferro cicunvesuviana quando fui a Pompéia com meu pai. Encontre1-a meses depois, em Turim, quando era amante de um barítono que cantava na “Walkiria”.
Luciano enrolou com raiva o guardanapo, ergueu-se dirigindo-se para o quarto, com os punhos enterrados nos bolsos do casaco.
— E tu? — lembrou-lhe, já na porta, Susana — voltaste à casa da grande cortesã?
O marido virou-se, olhou-a de frente, ergueu os ombros e saiu. Quando chegou ao seu quarto, pegou a cabeça entre as mãos e pensou:
“Sim, sim, é possível que me tenha enganado. É possível. As mulheres são tão pérfidas e dão tão pouca importância à aventura, que se entregam a um homem qualquer que passe diante delas, com a indiferença desenvolta com que nós pulamos no estribo de um bonde.
— Escuta-me, Susana, — suplicou-lhe voltando à sala de jantar, onde a senhora estava descascando um pêssego de polpa rija como as suas carnes —. Escuta-me, Susana. Tu não compreendes o meu ciúme, e gracejas sobre um ponto muito sério em que está todo o segredo da nossa tranqüilidade. Tu me falaste da livraria, da farmácia e da senhora: tudo isso pode ser verdade, mas falaste num tom que me leva a crer... Em resumo, que... Numa palavra, compreendi que queres fazer-me crer que não há nada de verdade no que dizes!
— Mas, como estás eloqüente, meu amigo! Um senhor da palavra, do trocadilho e do paradoxo, um colecionador de pérolas de linguagem e de comparações geniais, gaguejaria, por acaso falando a uma mulher como eu que há um mês ainda era uma virgem na conserva?
— Sim — respondeu Luciano mais confuso que nunca —. Não sei se gracejaste ou se disseste a verdade.
— Disse a verdade.
— Mas com demasiados pormenores!
— Não me disseste que a mentira deve ser rodeada de minúcias?
— Então é mentira?
— Sim.
— Estiveste em casa de um homem.
— Sim.
— Quem era?
— O livreiro, o farmacêutico.
E riu. O seu riso soou como quando se passa rapidamente um dedo sobre o teclado.
— Dize-me, Susy — suplicou-lhe Luciano —. Em cinco semanas de vida conjugual chegaste a tão alto grau de evolução, que te considero capaz de enganar-me por uma estúpida vingança.
— Pois bem, sim, enganei-te — gracejou Susana —. Estive em casa de um teu amigo; ofereci-me. Fui dele.
— E quem é?
— O barão Motoori Norinaga, cônsul do Japão!
E, satisfeita com o feliz efeito musical da risada precedente, repetiu-a, e antes de deixar fulminado sobre a cadeira o marido, disse-lhe:
— Pobre pequeno, nada disso é verdade. “Je me suis payé ta tronche...”
E saiu. Çhegando ao seu quarto, fechou a porta a chave, e pôs-se a pensar no doutor Paulo, que por demasiado amor a rejeitara.
E sentiu que começava a amá-lo...
Quando o marido bateu discretamente à porta, em pijama, para fazer as pazes, ela sem abrir respondeu:
— Não. Esta noite, não. Vai dormir sozinho.
E Luciano ficou imóvel diante da porta. Ficou como petrificado, cristalizado. Oh, deixem-me empregar um termo que invejo à língua francesa: ficou “médusé”.
* * *
No dia seguinte, Susana, num automóvel de praça (um daqueles três automóveis de praça que dão a Turim a filosofia de grande metrópole), subia a encosta da colina.
O doutor Paulo, sem ter prévio aviso da sua vinda, fizera já os preparativos que se fazem quando se espera u’a mulher.
Há mulheres que vão à casa de um homem resolvidas a praticar aquela cerimônia que consiste em eliminar a distância entre duas mucosas que se procuram reciprocamente no espaço. Mas quando o homem se prepara para o ato, elas simulam surpresa, susto, indignação, repulsa.
São mulheres estúpidas.
Ou então são mulheres que sabem encontrar um estúpido, com quem se deve representar assim.
Susana sabia que desde o momento em que passara o limiar da casa de Paulo, tinha-se já comprometido a conceder tudo, e que seria grotesco opor-lhe simulacros de hesitação e de defesa.
.....................
.....................
Quando se soltou do último enleio dos braços de Paulo, percebeu que era muito tarde.
— E que é que tens naquele cofre antigo? Cartas de mulher? — perguntou enquanto, em calças, passava pó cor de ocre no rosto.
— Naquele cofre tenho algumas amostras de dinamite e de outros pós funestos.
— Mas sabes qual é o pó que faz maior número de vítimas? — perguntou Susana mostrando-lhe a pluma do pó de arroz —. É este... Que horas são?
Os relógios das “garçonnières” estão sempre meia hora atrasados.
— Voltarás?
— Sim. Voltarei porque te amo. Voltarei porque me agradas. Voltarei porque gosto de amar a esta hora, ao crepúsculo. Não sei por que razão os outros homens e as outras mulheres amam de noite, nos intervalos de tempo em que não há outra coisa que fazer. Fixam-se horas para coisas muito mais vulgares, como comer, e idiotas, como trabalhar. E por que ao amor, que é a coisa mais bela da vida, não destinam as horas mais belas de dia, como o meio-dia ou o crepúsculo? O amor de noite eu o detesto. É para empregados, para operários, para maridos. Eu só aprecio o amor praticado à luz do dia, como um belo rito pagão. À noite durmo. O amor e o sono são os nossos dois atos mais sublimes; porque há de a prática de um redundar em prejuízo do outro? E meu marido, que quer ser tão inteligente, não compreende isso. Quando eu lhe disse que de noite quero dormir, respondeu-me: Se querias ficar tranqüila à noite, devias ter-te casado com um guarda-noturno.
Paulo e Susana beijaram-se apressadamente na boca.
— Até amanhã?
— Talvez — respondeu ela. Mas aquele “talvez” queria dizer sim.
Entrando em casa, Susana atirou-se nos braços do marido que não amava mais. Beijou-o ternamente, mostrou-se alegre, feliz, satisfeita de viver. Não compreendendo os motivos desta jovialidade, o marido perguntou-lhe:
— Mas por que estás tão contente?
E ela respondeu:
— Porque arranjei um amante.
E atirou-se de novo entre os seus braços. Ele apertou-a com grande segurança, com aquele entusiasmo que só a tranqüilidade dá.
Sentia que reconquistara a mulher.
Como todos os maridos, sentia que reconquistara a mulher exatamente no dia em que a perdera sem remédio.
Aquela noite não bateu em vão à sua porta.
* * *
As mães, antes que as filhas se casem, velam com severidade rigidíssima sobre a sua virtude, e depois que se casaram ajudam-na a enganar o marido.
Mas a senhora Clotilde encontrava-se numa estranha situação. Durante vários anos fora amante de Luciano, o que se tornou marido da filha, e durante algumas semanas fora amante de Paulo, o que hoje era, para a filha, o amante.
O seu dever de mãe: o seu afeto por Luciano, que durante cinco anos a tinha amado e suportado; o despeito contra Paulo, que a deixara, substituindo-a por Susana; o ciúme, o orgulho, a vaidade e outros ingredientes psicológicos faziam de Clotilde uma sogra diversa de todas as outras. Em vez de ajudá-la a enganar o marido, tentou, num rápido colóquio com a filha, reconduzi-la à estrada da honra. Mas Susana atalhou logo:
— Tem paciência, mãezinha. O marido tu me conseguiste. Os amantes eu mesma procurarei.
Durante vários dias, ao crepúsculo, do portão da vila rósea de Valsalice, viu-se sair uma figurinha de mulher de cabelos vermelhos como a vide virgem no outono, que antes de dobrar a esquina ainda fazia com as luvas um gesto alegre de cumprimento.
Ela sentia-se com o coração leve, leve, a consciência serena, pronta a revelar e a perdoar. As mulheres que espalham ou pelo menos distribuem, ou, menos ainda, dão o amor, são suaves, boas, ternas, incapazes de malícia e impermeáveis aos insultos.
Perigosíssimas pela sua malvadez são, pelo contrário, as mulheres obstinadamente honestas, as que são fiéis porque nunca houve quem tentasse fazê-las cair; almas insidiosas, sinistras como fios elétricos de alta tensão são aquelas repugnantes virgens de vinte e cinco anos, azedas, rançosas, envenenadas, corroídas pelos humores que se premem, se condensam contra a parede interna do hímen que ninguém lhe fez a honra de destapar.
Pobres virgens que deixais formarem-se estalactites e estalagmites naquele imundo pedacinho circular de membrana avermelhada que é tão frágil, e que entretanto sustenta a pesada coluna barométrica da imbecilidade sexual! Pobres virgens obrigadas a velar sobre a fragilidade daquela membrana, que de um lado é empurrada pelo vosso instinto e do outro é escorada pelo cimento da mentira convencional!
Pois bem, pobres virgens azedas! Resta-vos uma válvula de segurança: a malignidade, a perfídia, a ferocidade.
Eu vos conheci, virgens rançosas, nos salões, nas praias, nos hotéis, na universidade; eu vos conheci, virgens segregadoras de ácido fórmico! Lembro-me, lembro-me... Tomáveis ferro, fosfatos, brometo, fitina, estricnina, peptonas, licor arsenical de Fowler, e vomitáveis o veneno da maledicência, da suspeita, da insinuação.
Mas se, em lugar de pílulas, pós e xaropes, fizésseis uso de um bom carregador, com os alto-relevos em plena eficiência, creio que até a vossa vista se serenaria, e todos os vossos atos, todas as vossas palavras seriam de então em diante inspiradas num largo sentido de benevolência!
Susana sentia-se boa até para com o marido freqüentador de cortesãs, para com os criados, ladrões, para com as falsas amigas.
Os garotos que brincavam todo o dia na estrada que desce da Vila Taciturna para a cidade, esperavam todas as tardes a bela senhora, que, saindo do jardim, dava-lhes algum níquel, cigarros.
Mas uma tarde viram-na sair com um homem.
O doutor Paulo?
Não. O marido.
Sucedera um pequeno incidente, daqueles que acabam com um tiro, ou com um duelo, ou com a separação judicial sem obrigação de dar alimentos à mulher.
Susana mal se tinha vestido com os paludamentos profanos (o hábito “tailleur”) depois da habitual cerimônia de amor, e ia sair, quando na porta esbarrou com o marido que vinha procurar o amigo Paulo Flamini, o amigo de Susana, a fim de convidá-lo para o seu camarote nessa noite.
Susana viu-se perdida.
Ela que nunca falara ao marido no doutor Paulo, como podia justificar a sua presença, àquela hora, na Vila Taciturna?
Mas de improviso, por automatismo, com um impulso que, mais ao raciocínio, mais que ao cálculo, mais que à reflexão, deve ser atribuído a um ímpeto nervoso de defesa instintiva, com um movimento de agilidade admirável foi ao encontro de Luciano, declamando tragicamente com uma simulação de choro gutural:
— Perdão, perdão! Não me faças mal! Explicar-me-ei! Defendi-me! Não fui dele!
O marido olhou sorrindo para a sua máscara trágica, depois lhe passou um braço por trás da nuca, e empurrando-lhe com a mão aberta os ombros fê-la de novo entrar na casa do amigo, e disse-lhe meio cantando:
— Eh, querida! Representas muito mal o papel da mulher apanhada em flagrante! As mulheres culpadas não declamam assim.
Os dois amigos apertaram-se as mãos.
— Se soubesse que a minha mulher já tinha vindo, não teria subido até cá. Disse-te o número do camarote, não é verdade? E agora te deixamos porque está ficando tarde.
Enquanto desciam para a cidade violácea em que os focos se acendiam a intervalos, Luciano rodeou a cintura de Susana com o braço e disse-lhe:
— Ainda não consegui ensinar-te a fingir bem. E lamento. Porque a primeira vez que me enganares serás tão pouco hábil que eu compreenderei logo.
O SERENO PESSIMISTA
— Como é que, após dez anos de parada, foste fazer um filho?
— Que queres? Estávamos no Hotel Continental. Havia uma cama, eu sofria de insônia e minha mulher acabara de ler o jornal.
* * *
E isto não é um caso isolado. Salvo algumas raras exceções, acontece quase sempre assim. A vida de cada um de nós é a conseqüência de um preservativo rasgado, de uma lavagem feita depois do tempo, de um óvulo antifecundativo que não se dissolveu, ou de qualquer outra prática neomalthusiana que falhou. Se a serpente, em vez de oferecer a Adão e Eva a maçã, tivesse pendurado à árvore do Bem e do Mal um bom irrigador, o gênero humano nunca teria existido.
Nasce-se quase sempre por engano.
Da parte dos queridos genitores quase nunca existe a intenção de nos darem à vida.
Sei de um sujeito que veio ao mundo porque a mãe, concubina de um banqueiro um tanto volúvel, compreendera que para fazer-se desposar por ele não havia nada melhor que arranjar-lhe um filho. Este veio, portanto, ao mundo para dar uma situação financeira à mãe.
Sei de outro que nasceu porque a mãe, depois de uma série de abortos provocados, ouviu do médico esta sentença:
— Para sarar da sua salpingo-ovarite ser-lhe-ia bom ter um parto regular.
Outros nasceram para operar uma lavagem na alma das mães, que após anos e anos de prostituição entenderam de se purificar, tendo um filho. Dir-se-ia que aquele embrião de homem que se forma realiza durante a sua estadia do útero uma espécie de desinfeção moral, de absorção de impurezas, como aquelas tiras de gaza fenicada que os cirurgiões introduzem nos furúnculos para absorver o pus.
E conheço finalmente um tal que, concebido por distração, foi, durante a sua vida uterina, submetido a todos os tratamentos da sonda, da arruda e do fósforo, para impedir que nascesse. Durante o sétimo mês a mãe entregou-se às mais acrobáticas danças, esperando que se lhe rompesse o saco amniótico; e quando, apesar de todas essas manobras o guri nasceu vivo e vital, deram-lhe o nome de “Benvindo”,
* * *
Benvindo Amsterson é um dos meus bons amigos. Conheci-o num transatlântico, quando regressava do México, aonde fora enviado por um jornal de Roma à espera de uma revolução que depois não houve. Na volta fiz a viagem com ele, que vinha à Itália estudar a arte e beber o sol. Lembro-me como se fosse ontem — e passaram vinte anos; eu tinha, então, trinta e cinco — dos discursos que me fazia à noite, no convés, sobre a paz trágica do oceano estrelado.
— Eu não compreendo — dizia — como é que se pode, com tão inconsciente leviandade, lançar filhos ao mundo. Criar uma vida! Pensa — dizia-me — que atroz responsabilidade! O meu único temor é este; ter um filho! Os outros homens dão a vida com o mesmo desembaraço com que eu lanço ao mar esta ponta de havana.
Isto dizendo, o jovem Benvindo Amsterson atirou a ponta acesa e acompanhou-a na parábola. Quantos homens, depois de terem lançado à vida uma outra se desinteressam por completo da parábola que descreverá no mundo.
Benvindo Amsterson foi meu amigo durante vários anos. Tivemos em comum a casa, os livros, as amantes. Olhamos para o pensamento e para a vida um do outro muito melhor do que cada um de nós pode fazer na própria vida e no próprio cérebro. Sei tudo dele: o bem e o mal; e como me gabo de ter u’a memória prodigiosa, escreverei a seu respeito como se estivesse copiando de um livro de histórias, ou melhor, de um romance.
À idade de vinte e dois anos Benvindo Amsterson fez-se amante de u’a mulher belíssima que tinha um nome como Gertrudes, Catarina, Rosmunda; um desses nomes que são vulgares quando usados por uma cozinheira, e decorativos quando os leva uma princesa.
Era uma domadora de leões, do circo de Hagembeck.
Mulher feita para o amor, não para a filiação. Era u’a amante demasiado hábil para ser boa mãe. O seu corpo tinha proporções tão hormoniosas e puras, que parecia modelado para o amor, que não deforma, e não para a maternidade que incha desastradamente as linhas. Nem todas as plantas são destinadas a dar frutos; muitas são destinadas a produzir somente flores, sem que todavia a espécies sofra; a espécie das tuberosas e das orquídeas não se extingue, mesmo que todos os anos na Costa Azul se colham milhões. A maternidade, essa função animalesca que é a maternidade, não está reservada a todas as mulheres, mas só a uma categoria. As outras são feitas para o amor.
A domadora de leões fora feita para o amor.
Contudo, um dia ficou grávida.
Lembro-me, lembro-me do desespero do meu amigo Benvindo Amsterson.
— Um filho — me dizia — um filho! Mas pensa que desgraça! Eu não quero um filho. Eu não quero dar infelicidade a ninguém. E dando a vida dá também a infelicidade.
— Imagina — me dizia — a que pavorosa responsabilidade eu me exponho! Pensa que desgraça, se o meu filho for um doente. Pensa que horror, se for um estúpido. Pensa que tragédia se tiver a desventura de ser inteligente! Estúpido ou inteligente, será um infeliz porque se verá esmagado pelos outros homens; se for inteligente será infeliz porque verá a torpeza que ferve neste ignóbil charco que é o mundo e sofrerá com isso. Entre as duas coisas eu preferiria que nascesse estúpido. Os inteligentes são os mais desgraçados, porque têm os olhos abertos.
— Eu já vejo — me dizia Benvindo Amsterson — este filho aos nove anos: uma cabeça rapada de reprovado crônico ou de primeiro da classe, que é a mesma coisa. Vejo-o empenhado em meter as mãos por baixo da saia das criadas e fazer coleção de selos, e juntar areia nas praias e arranjar salitre para fazer pós explosivos. Vejo-o já fumando o primeiro cigarro e vomitar; vejo-o ler tranqüilamente o jornal e dizer besteiras.
— Mas com que direito — se debatia obstinadamente Amsterson — dou a vida a um indivíduo? dou-lhe o meu nome? crio-lhe obrigações para comigo? amarro-lhe aos tornozelos essa cadeia que é a família? Com que direito, por lhe ter feito o triste dom da vida, dou-lhe o nome de Esupério ou Calógero, insuflo-lhe as minhas idéias, lanço-o na carreira que me agrade a mim, dou-lhe mulher segundo os meus gostos?
“Todos os homens deveriam ser bastardos para não se afeiçoarem a ninguém, para não se 1igarem a ninguém.
“O bastardo! Que haverá de mais belo que ser um bastardo? Poder odiar e desprezar todo o mundo sem fazer reservas para o próprio pai e a própria mãe!
“Felizes os bastardos!
“Eu quisera que os bastardos fossem considerados como uma casta de eleição, privilegiada, como os fidalgos espanhóis, como os samurais japoneses!
“Entre nós, porém, são desprezados. E por isso deverei ainda impor-lhe o meu nome, encaminhá-lo para uma carreira que decerto não será a mais adequada para ele porque não há pai que saiba encaminhar convenientemente um filho.
“E se ao contrário, for mulher? Oh, seria muito melhor!
“Se for bela e inteligente fá-la-ei uma atriz, uma artista, uma “cocotte”.
“Se for bela e burra fá-la-ei uma boa mulher.
“Se for feia e inteligente, uma advogada, uma professora, uma doutora em medicina.
“Se for feia e burra não se dará conta de ter um e outro defeito, e será contente de si.
“Oh, se pelo menos eu tivesse a sorte de me nascer uma filha!
“Faria dela u’a mulher diferente de todas as outras escrofulosas de falsos pudores; faria dela u’a mulher de vistas largas, atrevidas, rebeldes, que quando alguém lhe perguntasse: “Por que a senhorita não toma banho?“ respondeses com desembaraço: “Porque estou com a menstruação”.
“Mas se tivesse a sorte de não nascer nada!
“Entretanto — acrescentou Benvindo — já estou no extremo limite da juventude: estou no ponto da vida em que se sente a necessidade de ter um filho. Um filho que tome sobre si a minha acabada juventude e a continue.
“É um erro crer-se que nos filhos a gente queira reproduzir a vida.
“Queremos reproduzir a juventude.
“Mas como poderia eu — dizia Benvindo — ser um pai diferente dos outros? Eu vejo claramente a burrice dos outros educadores; os erros grosseiros, as torpezas obscuras em que caem os outros pais. E como poderei impedir-me de ser um pai como todos os outros!
“Repare como se educam os filhos: não dão dinheiro aos rapazes e pretendem que não roubem; conservam-os longe das mulheres e querem que não se masturbem: rodeiam-os de mentiras e exigem que os rapazes digam sempre a verdade.
“Sabe qual é a idéia que me aterra? Que meu filho um dia pense que eu sou um imbecil. Eu muitas vezes pensei isto do meu pai. Os filhos são juízes implacáveis, porque neles há ao mesmo tempo o juiz e a testemunha; as crianças não julgam: ficam perplexas, estupefactas; este estupor dura muito tempo, grava-se como um sonho na cera da observação. E dez anos depois julgam, lendo na própria memória como num feixe muito bem ordenado de documentos. Julgam e condenam. E então o pai não está mais em tempo de se reabilitar. No conceito do filho está irremediavelmente perdido.
“Um castigo injusto, uma resposta tola, uma sombra de covardia, os filhos no-los fazem expiar cruelmente com o seu desamor.
“Eis por que a perspectiva de ter um filho me assusta como uma pavorosa ameaça!”
Assim falou Amsterson.
* * *
Alguns meses mais tarde o ventre da domadora de leões se desinchava e se livrava de um quilo de matéria. Àquela matéria de sexo masculino foi dado o nome de Marcelo.
Benvindo — o pai — sentiu-se feliz.
* * *
Sentiu-se feliz, ele que até o dia anterior tivera terror da paternidade. O nascimento daquele marotinho tivera o poder de transformar completamente o seu modo de pensar.
O sentimento da paternidade existe latente em nós, e fatalmente desperta um dia. A nossa vida é uma sucessão de transformações, ou, mais exatamente, é uma sobreposição de atitudes.
A maturidade não é u’a modificação da juventude; a velhice não é uma transformação da maturidade. Juventude, maturidade e velhice são três entidades que se sobrepõem primeiro e se substituem uma à outra, gradualmente. A velhice não é produzida pela metamorfose do corpo, mas é qualquer coisa que se desenvolve em nós; qualquer coisa de exterior a nós, que entra em nosso eu; aos vinte e seis anos senti entrar em mim a maturidade; aos quarenta senti que em mim entrava a velhice; aos quarenta e cinco comecei a ver a caveira sob a minha pele; comecei a ver em mim, por transparência, a morte. A morte não chega um belo dia com a foice no ombro para levar-nos, mas instala-se em nós desde o nascimento. Nascendo, nós começamos a morrer.
Jovem é aquele que ainda não se apercebe de que começa a morrer.
O mesmo acontece com a paternidade. Mesmo quando a nossa prole está no porvir longínquo, já nos sentimos pais. O primeiro filho confirma em nós a paternidade, como em nós que morremos pouco a pouco a morte definitiva confirma o fim.
O pequeno Marcelo até aos cinco anos nada fez de notável.
Aos cinco anos disse a primeira mentira.
Àquela primeira mentira o pai sentiu-se em verdade velho, porque quem diz a primeira mentira já é, de verdade, homem.
* * *
— Ao meu filho — me dizia Benvindo — darei uma educação muito especial. Os outros educadores metem no cérebro e nos hábitos do educando uma quantidade interminável de erros, de ingenuidades, de tolices que servem para a infância, para a escola, para a sacristia, para a casa, mas que eles um dia terão que repudiar e destruir se quiserem viver na realidade.
A maior parte dos cretinos — e eles existem entre os médicos, os advogados, os docentes, os engenheiros, os comerciantes, os industriais, os oficiais e os magistrados — a maior parte dos cretinos é assim porque conservaram no seu código os princípios que lhes inocularam para a infância, sem procurar eliminá-los e substitui-los por outros, tirados da experiência da vida. Inteligente é quem os renegou, todos.
— Pois bem, eu não quero — dizia Benvindo Amsterson — que meu filho tenha esse duplo trabalho de absorver primeiro para ter de eliminar e renovar depois. E quero esclarecê-lo logo sobre a realidade do mundo.
— Fá-lo-ás desgraçado — objetou-lhe alguém.
— Não — respondeu Amsterson —. Revelar-lhe-ei logo a perfídia dos homens, a podridão do mundo, a falsidade da vida para que esteja preparado para tudo, sempre. Infeliz é aquele que, iludido, se desilude. Mas o meu filho não será desses, porque não lhe deixarei o tempo de se iludir nunca. Eu quero fazer dele um pessimista, mas um pessimista sereno.
* * *
O pai não lhe incutiu uma religião para não dar-lhe o incômodo de defendê-la ou de repudiá-la. Se ele um dia quiser abraçar uma religião, pensava — escolherá. A escolha de uma fé não tem maior importância do que a escolha de um cartão-postal; todas se eqüivalem e não há uma que sirva para nada de útil.
Não lhe falou da pátria.
A pátria é aquele conjunto de pessoas que nem sequer temos o prazer de conhecer, e que fuzilam a gente pelas costas se a gente não se faz matar por elas.
A “pátria” é um glossema, uma palavra que serve para arrastar as reses ao matadouro, em bem dos interesses dos pastores que ficam em casa.
Não lhe ensinou a beleza do heroísmo, que só presta para brilhar aos olhos das mulheres, que chamam de covardes aos homens com tanto desembaraço, ao passo que tomam clorofórmio para cortar uma unha, e choram fazendo uma irrigação vaginal com água fria.
Disse-lhe que a família é uma fórmula hipócrita que cobre as mais baixas especulações; que a casa é um lugar fechado e coberto onde se come, e às vezes não se paga pensão; nós pagamos já com ágio a hospedagem suportando, sem protesto, os vizinhos de mesa repugnantes e importunos.
— A honestidade, — lhe disse Benvindo — o dever, a fraternidade, o desinteresse são como os fenômenos espíritas; quando a gente se aproxima para ver, ou não se realizam ou se realizam por escamoteio.
“A honestidade, o dever, a fraternidade, o desinteresse são como as colunas dos templos antigos, que não têm mais teto, e continuam de pé em fragmentos, para atrair a atenção platônica, o entusiasmo frio, ou, quando muito, alguma retórica. Mas ninguém pensaria nunca em procurar neles refúgio ou uma utilidade qualquer, pois todos sabem que não servem mais que para provocar grandes palavras e belas frases.
“A amizade — insistia o pai — é uma aventura ocasional como um conhecimento feito no bonde.
“Quando tens uma disputa com alguém, e um terceiro toma o teu partido, não toma o teu partido para te agradar a ti, mas para causar dano ou fazer uma perfídia ao outro.
“Quando alguém vier te pedir explicações por uma tua suposta ofensa, dá-lhe logo um soco no olho, tenhas razão tu ou tenha razão ele. Procura não furar-lhe o olho, não porque isso seja mal, mas porque é um daqueles gestos que os industriais do justo e do injusto convencionaram punir.
“Não escutes conselhos de ninguém. Quando alguém te der conselhos, pede-lhe mil liras emprestadas. Verás que se vai embora.
“Dá pouquíssima importância às palavras. Todos os acontecimentos humanos se deram e realizaram após ter sido precedidos ou seguidos de torrentes de palavras que fariam prever o contrário.
“Nunca deixes nas mãos dos teus amigos ou das tuas amantes armas que possam usar contra ti. Como a amizade e o amor têm de acabar durante as tuas relações com o amigo ou com a amante, reúne tu também provas da sua malícia e da sua desonestidade. Um dia, quando ele procurar ferir-te, terás com que feri-lo. A mulher que abandonas ou que te abandona, torna-se tua inimiga; como todas as mulheres são prostitutas, mesmo as que não se fazem pagar, ela passará ao seu novo amante, entre dois coitos, as confidencias que tu, em todo segredo, entre um coito e outro houveres feito a ela.
“E a mulher age assim de boa-fé, porque é sempre o último homem o que ela julga digno do seu amor, o que julga amar. Se a interrogares sobre qualquer um dos amantes que te precederam na sua cama, ainda que por ele tenha tentado suicidar-se, te responderá: “Não o amava. Julgava amá-lo”.
“Nunca faças benefícios a ninguém. Lembra-te de que os benefícios se expiam. Se alguém te pedir a indicação de uma rua, dirige-o para o lado oposto; se te pergunta a hora dize-lhe quarenta e cinco minutos menos, e com isso o farás perder o ônibus.
“Odeia o teu próximo como amas a ti mesmo; e não esqueças que a vingança é uma admirável válvula de segurança para a nossa dor. Se alguém te ofende, não perdoes. Finge que perdoas, a fim de que a tua vingança o fira inesperada e em cheio.
“Não te inflames por uma idéia. Os que se fazem matar por uma idéia são bestas. Quem está verdadeiramente convencido da bondade da própria idéia não gasta nem um centímetro cúbico de alento para demonstrá-la aos outros. Inteligente não é o que se faz matar por uma idéia, mas o que não lhe dá importância. Acredita-me: uma boa digestão vale mais que todas as idéias da humanidade.
“De outra parte, que são as idéias? Que há mais relativo que a idéia? O homem é um traidor ou um mártir, segundo se olha para ele de um lado ou de outro da fronteira. A mulher é um “tesouro” quando está na cama do amante; mas se entra o marido torna-se uma “adúltera”.
“Não te enamores nunca das palavras altissonantes. O belo gesto serve quase sempre para mascarar uma inferioridade ou uma incapacidade. Cornélia, mãe dos Gracos, à amiga que com faceirice lhe mostrava braceletes e colares, apresentou os próprios filhos, dizendo: “Aqui estão as minhas jóias”. Pois bem, meu rapaz, se Cornélia, mãe dos Gracos, tivesse anéis e cadeias mais ricas do que as da amiga, não fazia por certo o rodeio de mostrar-lhe os garotos.
“A mãe espartana que sacrificava o filho à pátria, devia ser uma rameira qualquer, que se queria libertar dele para mais comodamente desempenhar o seu ofício. Uma mãe que ame o filho, não quer saber de vitória, de pátria, de mundo, contanto que o filho se salve. Para mim é uma boa mãe, uma autêntica mãe a que ajuda o filho a desertar.
“Durante as guerras, os que põem bandeiras nas janelas são os que dão menos em sangue ou em dinheiro.
“Nunca digas a verdade. A mentira é uma arma. Falo da mentira útil, necessária. A mentira inútil é antipática como é odioso o inútil homicídio. A mentira é uma arma de legítima defesa; ela não é degradante nem vergonhosa, do mesmo modo que não é vergonhoso nem degradante fechar os cofres ou tapar com um palmo de fazenda os rasgões do casaco.
“A mentira serve para guardar os tesouros do nosso pensamento e para cobrir os remendos da nossa consciência. O teu próximo é tão miserável no espreitar-te para te fazer mal pelas costas, que me parece mais que honesto fazê-lo perder a tua pista ocultando-lhe a verdade.
“Nunca discutas com as mulheres. Nunca procures ter razão. Em ter razão com as mulheres perde-se sempre, porque quando se chega a convencê-las de que estão erradas, dizem (ou pensam): Eu não tenho razão, mas tu és um imbecil.
“Não desejes a mulher de outrem, mas se a desejares toma-a livremente.
“Quando no teatro, no bonde ou na cama de u’a mulher há um lugar desocupado, toma-o tu antes que outro o ocupe.
“Quando u’a mulher não se quer deixar despir, não insistas. Despir-se-á por si.
“Com isto não quero dizer que todas as mulheres sejam fáceis. Elas se dividem em duas categorias: as que se entregam a ti e as que a ti não se entregam. As que não se entregam a ti dão-se a outros.
“Não creias nunca na amizade de u’a mulher. Quando u’a mulher disser que sente amizade por ti, isso quer dizer que começa a te amar ou a não te amar mais.
“O amor é como um líquido posto a ferver. Mal pára de aquecer, começa a resfriar-se. Mal a temperatura cessa de subir, começa a descer. Quando u’a mulher não te ama “cada dia mais”, podes ficar certo de que te ama cada dia menos.
“Grava no teu córtex cerebral que todas as mulheres são cruéis. Podes desejar uma até o delírio, até à loucura, até ao suicídio. Ela, se não quer entregar-se, recusará ainda que tu tenhas de delirar, enlouquecer, morrer. E entregar-se-á a outro qualquer, mesmo que não lhe agrade, pelo mero capricho de entregar-se. E lembra-te de que, feitas raras exceções de recusa obstinada, todas as mulheres se entregam com grande facilidade, como aqueles modelos de reclamo que as fábricas remetem mediante simples pedido feito em cartão de visita.
“O primeiro amor e a primeira blenorragia não se curam nunca. Todos os sucessivos, sim. Mas o primeiro deixa sinais para toda a vida.
“Não indagues nunca do passado de nenhu’a mulher. É melhor ignorá-lo. Deixa que tenha qualquer passado sujo, mas não procures descobri-lo. A torpeza e o mal só existem na medida que os conhecemos.
“Se tens medo que u’a mulher te queira fazer dormir com ela, faze-lhe a corte. Ela, naturalmente, por boa educação, dá-se ares de repelir-te, ou pelo menos de resistir.
“Tu, então, não insistas mais e some-te.
“Ela, vendo que te retiras, corre atrás de ti, e então tu tens o prazer de rejeitar, causar-lhe duplo despeito, tens dupla satisfação, e poupas o desgosto de ires para a cama com u’a mulher que não te agrada.
—“As mulheres chamadas honestas não existem. Existem fenômenos de frigidez sexual, em mulheres que têm os órgãos defeituosos ou foram submetidas a intervenções cirúrgicas. Mas a maior parte das mulheres honestas são as que fazem escondidas as piores sujeiras. As mulheres de quem “não se conhecem os amantes” são as que se dão ao caixeiro do açougue ou ao dentista.
“Pelas ruas provincianas vemos muitas vezes os pedestres insultarem e amaldiçoarem os que andam de automóvel. Outro tanto sucede no amor: os velhos, as mulheres feias que ninguém quer, as virgens rançosas desprezam e insultam as que têm um amante. Pois bem, a esses pedestres do amor, não podemos mais que atirar, em nossa carreira para o prazer, a poeira, a lama e os restos do nosso banquete.
“Se à passagem de duas mulheres tu olhares uma, a outra te rirá na cara. Para ter êxito na vida é preciso fazer a corte às mulheres, mas livrar-se de todas.
“As mulheres cujo corpo foi um espetáculo de entrada sempre franca são mais dignas de amor que aquelas que só se abrem, como os teatros provincianos, nas ocasiões solenes. Estes cheiram a fechado.
“Não recues diante das mulheres que “jamais caíram”. Todas as mulheres, antes de caírem a primeira vez, nunca tinham caído. Do fato de jamais terem caído não se deve tirar um juízo de pureza absoluta. Nunca tendo caído, mais fácil será fazê-las cair. As que caíram várias vezes têm menor probabilidade de tornar a cair, porque agora já sabem de que se trata.
“Não digas: É inútil tentar com aquela mulher, porque há outro. Em amor, se devêssemos beber somente onde não há outro que beba, morreríamos de sede.
“Lembra-te, meu filho, de que a beleza e a elegância são tudo. Mais vale um belo par de bigodes que um diploma. Impressiona mais uma peliça de “rat musqué” do que uma cultura enciclopédica. De dois senhores que esperam numa ante-sala, será introduzido primeiro o que estiver mais bem vestido.
“Vemos, nos salões e nas sociedades cinco ou seis homens de valor girarem ao redor de uma senhorita que se dá ares de ter roda, ensartando alegres pulhices, distilando brilhantes banalidades, gorjeando presunçosas besteiras, e que não têm outro mérito além do de projetar sob o tecido do corpete duas pontinhas de seios atrevidos.
“Mas, sobretudo, não te preocupes excessivamente com as máximas que te vou expondo, e não reflitas muito. Os homens que antes de tomar uma resolução raciocinam, pesam, medem, são sempre decepcionados como os que na roleta apontam os números que saíram, e fazem cálculos e mais cálculos e quando estão seguros do método, eis que meia volta a mais da bolinha de marfim manda para o diabo as suas previsões.
“Nao tenhas o prurido da coragem. É melhor o medo, que é indício de superioridade. Vemos nas classes animais que os seres inferiores, como a lombriga, não têm medo; o pássaro, sim.
“Procede sempre como te agradar, sem nunca te preocupares sobre se é justo ou injusto. Os homens industrializaram o bem e o mal, como os médicos industrializaram a saúde e a doença. As doenças, para seu governo, não existem. O que existe são os nomes de doenças; os médicos, para comodidade de negócio, convencionaram que quando há açúcar nas urinas deve-se dizer: Diabete; quando há albumina deve-se dizer: Nefrite. Por isto, apenas para dar aparência de seriedade à profissão.
“Do mesmo modo convencionaram que, quando um indivíduo surrupia o relógio do bolso de outro, este gesto se chama furto e seja qualificado de desonesto.
“Mas tudo é convenção. Tudo relativismo.
“Para escapar, basta que se pilhe o relógio do bolso alheio sem permitir que os outros percebam, e portanto sem que possam dar ao gesto aquele nome convencional.
“Livra-te dos homens.
“E livra-te de Deus!
“Não foi Deus que fez os homens, mas os homens que fizeram Deus.
“E depois de o fazerem queixam-se de ele proceder de certo modo em vez de outro. Fizeram-no com barba, pernas, mãos, umbigo, cabeça, como eles; e imaginaram que ele tinha um sistema de moral e de legislação idêntico ao dos homens; tanto que, por ocasião das pestes e dos terremotos, perguntam se é justo que Deus faça assim.
“Pobre de nós!
“Mas se Deus verdadeiramente existe, o seu sistema de moral e de legislação deve ser fantasticamente diverso do dos nossos educadores e das nossas cortes de apelação!
“Por isso, não receies pôr-te em conflito com Deus, porque não há nenhum de nós que saiba como é que ele pensa em matéria de justiça e de bondade.”
* * *
Assim disse Benvindo Amsterson ao seu filho Marcelo, para fazer dele um sereno pessimista. É fácil conceber que ele não congestionava de preceitos, enchendo-o do modo esquemático e árido de que me servi, reproduzindo-o. Aplicava-os em pequenas doses crescentes e decrescentes, com longos períodos de repouso, como se faz no tratamento arsenical. Eu teria podido, reconheço-o, em vez de condensá-los coagulá-los, cristalizá-los em oito páginas, teria podido diluí-los num banho, fazendo crescer em tais e tais pontos algum nenúfar episódico e incidental. Mas neste caso, em vez de uma novela, faria um romance em vários volumes.
O essencial é dar a entender que a adolescência de Marcelo Amsterson foi superalimentada de advertências contrárias à moral corrente, que visavam, na intenção do pai, suprimir do seu espírito os preconceitos, os erros óticos a que estamos expostos por séculos e séculos de falsa educação.
Benvindo Amsterson desenovelava ao filho os seus princípios sem um fio condutor único, mas numa simpática desordem, mesmo para dar-lhe também o horror daquela coisa odiosíssima que é a metodologia.
Ele falava calmamente, nas longas passeatas pela beira do mar e sob as alamedas de choupos; à mesa do café ou junto à grande estufa da sua grande casa.
Aquele homem que falava da mulher com um tom que a um auditório desprevenido podia parecer ultrajoso, tomava, entretanto, no qualificar a mulher e os seus defeitos, uma atitude de vasta indulgência. Ele sabia que a mulher foi moralmente deformada pelos homens.
Cofiando a barba fina e loira, com as pernas cruzadas (polainas brancas sobre sapatos amarelos; calças cinzento-claras, tecido inglês, punhos estreitos, corrente de platina), fazia pensar naquele humorista hipnotizador que foi Jesus Cristo, quando fala da adúltera (quem estiver sem pecado atire a primeira pedra). Sempre imaginei Jesus como um brilhante conversador de salão, de barba luzente perfumada a brilhantina, que viveu muito em Paris e leu todos os romances de Paul Bourget e de Anatole France...
* * *
No entanto o filho de meu amigo Benvindo Amsterson crescia. Eu o acompanhava algumas vezes a um daqueles estabelecimentos onde, mediante módico preço, nos aliviam do líquido que quando se junta de mais envenena o espírito. Aquele pobre rapaz de dezesseis anos debatia-se entre as necessidades da carne e as necessidades da alma.
Aos dezesseis anos o amor ainda é uma necessidade da alma.
O pai hesitava entre lançá-lo aos braços de um amor qualquer, para desenganá-lo de vez, do amor, ou então satisfazer muitas vezes a sua carne para impedir-lhe de se enamorar.
O amor, uma das duas belas coisas (a outra, sabem-no até os estafetas, é a morte) que os poetas se transmitem hereditariamente para perpétua exploração, é a coisa que se deseja com intensidade enquanto não se conhece. Depois que se conheceu, pergunta-se: Mas é isto o amor? Não tinha por que desejá-lo.
À morte, teme-se. Mas, depois que se a experimentou, estou certo de que, se pudéssemos ressuscitar para julgá-la, diríamos. Mas é isto a morte? Não tinha por que temê-la.
— Eu quero — dizia Benvindo — que o meu filho experimente de uma vez o amor para que não conceba ilusões na espera. Ele deve ser o sereno pessimista.
E Marcelo cresceu preparado para todas as iniqüidades do mundo. Não tinha amigos; não confiava em ninguém; era fechado em si mesmo e armado, mas não lívido de veneno e de azedume. Era pálido de serenidade. Tinha as belas feições de quem está certo de que o seu caminho está desimpedido. Dir-se-ia que os seus olhos possuíam uma segunda visão. Ele via, com efeito, o interior e o exterior das coisas: o aquém e o além; a manifestação e a intenção. Avezado a ver o mal, descobria-o logo, em qualquer parte; e não se impressionava com ele.
Um dia, disse-me:
— Eu quisera morar numa grande praça cheia de multidão, tão densa que quando eu escarrasse da janela sobre o meu semelhante, tivesse a certeza dê acertar na cabeça de alguém.
Marcelo não tinha o senso convencional do pudor, e em conseqüência disso até os seus propósitos mais escabrosos tinham um divino perfume de pureza.
O amor ainda não o havia tocado, porque o pai nunca o deixava em condições glandulares de se enamorar.
Oh, se não existissem as doenças venéreas (único perigo que torna menos freqüente e mais difícil a função), todo o problema do amor estaria resolvido! Ir-se-ia dez ou doze vezes por semana a uma experimentada manipuladora de sensualidade, a uma distribuidora quase automática de vertigens, e não se suportaria mais o aborrecimento da mulher, a complicação do lar, a rabugisse da amante. Houvesse, ao menos, a prostituta mecânica, esterilizada, desinfetada, asséptica, cômoda como as distribuidoras de ingressos nas estações!
Ir-se-ia descarregar nela as pilhas elétricas da nossa animalidade, como as mulheres vão a um confessionário de pecados descarregar a consciência.
* * *
Um dia — Marcelo tinha então dezoito anos — o seu pai veio a mim.
— Meu filho anda fazendo versos. Horácio diz que quando um homem está apaixonado, ou fica louco ou faz versos. Felizmente, não está louco, mas apaixonado.
— O céptico? — indaguei —. O sereno pessimista?
— Sim, sim — respondeu-me Benvindo —. Apaixonou-se num instante. Coze em dezoito minutos, como arroz. Apaixonou-se por uma datilógrafa que foi amante de um bicheiro, esteve num bordel de Catânia, onde apanhou a sífilis, e durante dois anos atraiu os passantes na esquina do Café Madrid. Todos a possuíram por três liras. Agora é dactilógrafa porque o chefe do seu escritório está apaixonado por ela.
— E o teu filho...
— E o meu filho ama-a desesperadamente. Eu não tenho a coragem de arrancá-lo com violência àquela mulher, porque a violência nos fenômenos desta ordem é perigosa. Ajuda-me tu, meu amigo!
Eu tinha sabido conquistar a afeição do jovem Marcelo, que me punha ao corrente dos seus pensamentos mais íntimos, dos seus segredos e das suas fraquezas. Mas também julguei imprudente enfrentar de modo brusco a situação; e em vez de procurar a ocasião, preferi esperar que ela se apresentasse.
E apresentou-se bem depressa.
O sereno pessimista levantara-se da mesa para fumar com o pai e comigo um cigarro, na varanda da sala de jantar. Não foi difícil encaminhar a conversa para o lado das mulheres.
— Um meu conhecido — disse Marcelo — pediu-me alguns conselhos sobre o modo de proceder com relação a u’a mulher que ama e que não conseguia conquistar: eu indiquei-lhe o caminho; conseguiu. Hoje de manhã mandou-me esta cigarreira de prata com um bilhete:
“Meu jovem amigo, obrigado pelos seus conselhos. Tudo bem. O senhor é prodigioso. Aconselho-o a abrir um gabinete de consultas amorosas”.
— Eu não sei mesmo — prosseguiu Marcelo — como é que se chega a ter paixão por semelhantes mulheres. É a esposa de um instrutor de esgrima, e entregou-se a todo o regimento: oficiais, inferiores, cabos e soldados. Mas o marido não sabe e o apaixonado que me pediu conselhos, tampouco. Eu não compreendo por que é que eu só vejo em torno de mim prostitutas e aqueles que com elas têm contactos diários não o percebem!
E Marcelo era sincero.
A sua admirável clarividência fazia-o descobrir o engano, adivinhar o adultério no pequeno mundo dos seus conhecidos. Ele via, com a sua segunda vista, onde os outros não percebiam nada. Sentia o perfume da semivirgem como os cegos, com os dedos, sentem a cor dos tecidos. E quando ele impressionava o interlocutor com a frase habitual: “Todas as mulheres são prostitutas”, não repetia servilmente a máxima que o pai lhe inculcara, mas exprimia uma convicção profunda.
O cinismo naquela boca fresca de adolescente, o cepticismo nos seus olhos azuis de criança, davam-lhe ao rosto o aspecto daquelas flores estranhas que sabem a doença e a veneno, criadas pela fantasia cruel de um botânico artista. No seu olhar inteligente de jovem demolidor havia como que a nostalgia de uma infância nunca vivida, como que a saudade de uma infância sem brinquedos, sem contos de fadas e sem perseguições a borboletas.
— Todas as mulheres são prostitutas! — concluiu, naquele dia em que estávamos sentados eu, ele e seu pai, na varanda.
— Sem exceções? — objetei eu, tendenciosamente.
— Sem exceções — respondeu ele, fazendo, conforme adivinhei, uma restrição mental.
Chegara para mim o momento de falar da mulher que ele amava, da dactilógrafa aposentada da caça noturna ao macho e dos prostíbulos para marinheiros.
E arrisquei uma pergunta. Mas, se cínico se pode tornar, cínico não se nasce. Nascemos sentimentais, e o sentimental dorme sempre em nós, como uma doença hereditária em estado latente, que o cepticismo ingerido, o cinismo injetado não chegam a curar.
O cínico que há em nós vê a perfídia em todos os homens, a vulgaridade em todas as mulheres. Mas um dia, quando encontramos uma criatura de quem, por quaisquer razões, a nossa necessidade de amor nos aproxima, o cínico que há em nós fecha os olhos, e o sentimental desperta para estender-lhe sobre os olhos uma venda cor de rosa.
— Todas as mulheres, então, são prostitutas? — disse eu —. Mas tu, Marcelo, não estás apaixonado por uma dactilógrafa loira que...
— Sim — respondeu o sereno pessimista, corando de comoção.
— Pois bem, aquela — insinuei eu — não achas que é...
Mas o sereno pessimista não me deixou terminar.
— Aquela — afirmou resolutamente — é u’a mulher diferente de todas as outras.
MAS NÃO A TOCAREI
Do pai herdara cem mil liras e a tuberculose, e da mãe algumas dívidas, um caráter ovino, um eterno sorriso de tocador de flauta.
Tinha trinta anos, u’a posição incerta, futuro incerto.
Era impermeável às seduções das mulheres. Também as mulheres sentiam indiferença por ele, que não era belo. Tinha um nariz comprido, pontudo, fino como uma de ponta afiada, complicado de um pequeno defeito interno, pelo qual na conversa lhe ficava sempre alguma sílaba nas fossas nasais. O queixo era amaciado por uma barba loira como aquela que as rapariguinhas hebréias admiravam em Jesus Cristo estudante de teologia.
Tinha uma alma dulcíssima. Era daqueles homens que quando escrevem cartas a alguém mandam selo para a resposta e quando falam de si, acrescentam:, “graças a Deus” ou “como a divina providência quiser”, como se o padre eterno estivesse à disposição deles em todos os momentos da sua vida, para pôr aquela gota de lubrificante na engrenagem dos seu negócios.
A sua fisionomia era daquelas que, olhando muito, fazem agitado o sono dos adultos e às crianças fazem criar vermes. O eterno sorriso naquela cara triste era como um cortejo de máscaras precedendo ao som de valsas um enterro de terceira classe.
Não fazia questão de elegância. Vestia sempre um par de calças negras que já tinham ficado cinzentas e um casaco cinzento que ficara amarelo. No trem as roupas se estragam muito e o comissário Casimiro Puricelli (madeiras e serraria) viajava freqüentemente para fazer render com o seu comércio aquelas cem mil liras que o pai desinteressadamente lhe deixara, ao morrer.
Nunca fizera a corte a u’a mulher, porque pensava que em galantear uma mulher e convidar um homem para o almoço há sempre o perigo de que aceitem. A sua quase absoluta frigidez permitira-lhe conservar-se casto até avançada juventude e chegar virgem ao casamento. A inteligência não transbordava do seu cérebro; mas possuía belíssima letra. Quando um homem não tem valor algum pode-se ainda arranjar com uma boa caligrafia. É como u’a mulher a quem falte espírito, elegância, perfídia, mas resta ainda um último, miserável recurso: a honestidade.
Um médico lhe garantira ainda alguns anos de vida se se abstivesse dos três piores venenos da farmacopéia universal: álcool, nicotina e volúpia; e ele de bom grado renunciou aos três. Também a sua mulher renunciou sem pesar, porque um dos referidos venenos já lhe era fornecido em larga escala por um amiguinho. Seria estúpido esconder que um homem como Casimiro Puricelli (madeiras e serraria) era bicórnio como um dilema.
Mas não se importava de o ser. Não se gabava, isto não. Não é mérito ser corno. Mas aquilo não lhe doía.
O sofrimento dos cornos (dos que sofrem, entende-se) é de duas espécies: moral e físico.
O sofrimento moral provém de saber que a opinião pública (os vizinhos, os amigos queridos, o outro) diz que ele é corno.
O sofrimento físico é pior: é o verdadeiro, o autêntico produto do crime. É um sofrimento real e não há clister que o cure. Se és corno e ciumento, é inútil que raciocines sobre o absurdo do ciúme, e compares a soma do amor que ela te deu e o capricho passageiro que satisfez com o outro. Sofrerás terrivelmente, sofrerás ainda à distância de muitos anos de sua infidelidade, sofrerias ainda se a tivesses matado, quando o seu corpo se convertesse num punhado de cinzas. Sofrerás enquanto existir em ti um pouco de virilidade, pois o ciúme é uma emanação física, corpórea, nervosa, espermática. Se és ciumento da tua amante, experimenta passar entre os seus braços uma noite um pouco movimentada, e verás que na manhã seguinte, acordando saciado e exausto (mas deves estar saciado e exausto de verdade) não sofrerás mais, não sentirás mais ciúme e poderás até imaginar o corpo nu dela apertado pelo corpo nu de outro sem experimentar a mais leve pressão barométrica de angústia ou de melancolia.
Tornarás a sofrer quando, algumas horas ou alguns dias depois, a tua máscula potência se tiver renovado.
Alguns, para explicarem as razões do ciúme dolorífico dos cornos (há gente para quem os cornos são uma espécie de periostite sentimental) dizem:
— Compreenderás que à minha mulher eu dei o meu nome!
Ou então:
— Se um homem engana a mulher, não há nada de mal, mas se a mulher engana o marido, pode trazer para casa filhos que não são dele.
Ou então:
— Mas não te lembras que aquela mulher culpada é a mãe dos meus filhos? Uma tal esposa não pode ser boa mãe.
Pois bem, são três explicações falsas.
No primeiro caso não há de que se gabar por lhe ter dado o próprio nome, porque na maior parte das vezes se lhe fez um péssimo presente (no caso Puricelli, por exemplo).
Segundo: não é verdade que os cornos doam e pesem pelo só perigo de a mulher trazer para a família bastardos. Com efeito, se um homem que nunca teve filhos, nem seus, nem bastardos, chega a saber que a mulher o minotaurizou, sofre com isso como se a minotaurização fosse um fato de hoje, conquanto ele tenha a certeza de que a infidelidade da consorte não o torna pai de filhos não seus.
Terceiro caso: uma esposa adúltera pode ser mãe exemplar, a menos que o seu ilícito amor a leve a abandonar a casa, a cozinha, os filhos. Mas isso não se dá nunca nos países civilizados. Hoje não há mais mulher que para dormir com outro homem, que não seja o marido, sinta a necessidade de atravessar o oceano. Ou, se o atravessa, volta logo: quando se pensa que os vapores de quatro hélices fazem a travessia de New York ao Havre em cinco dias! Mas, afinal, que necessidade há de ir tão longe? Em cada rua existe um hotel à hora com água quente em todos os quartos!
* * *
O comissário Casimiro Puricelli (madeiras e serraria) não era ciumento. Não sentia o ciúme moral porque agora, sendo ressabido por todos que ele era cabrão, ninguém mais o dizia. E não sentia o ciúme físico porque lhe faltavam as qualidades orgânicas, nervosas, espermáticas, indispensáveis para produzi-lo. Um impotente (ou quase) não pode ser ciumento.
Esta ausência sentimental permitia-lhe ocupar-se tranqüilamente dos seus negócios: o essencial para viver em paz é não amar nada, não se afeiçoar às coisas, aos lugares, às paisagens; quem tem este raro privilégio não sofre saudades, não sente nostalgia, não é agitado por desejos; todos os lugares e todas as mulheres lhe oferecem a mesma suficiente hospitalidade.
* * *
Mas houve um lugar que não ofereceu hospitalidade ao comissário Puricelli.
Um lugar marinho, cheiroso a sol, a boninas, a peixe em putrefação e a tomates demasiado maduros.
Cheiro de Ligúria estival.
Estava de passagem naquele lugar, depois de uma viagem de três dias e quatro noites, depois de ter visitado bosques e florestas, povoadas de faias seculares (como dizem os poetas) e de anosos carvalhos (como dizem os prosadores). Em três dias fizera sessenta quilômetros a pé e dois mil em estrada de ferro, dormindo aos solavancos nos carros do trem, com a cabeça apoiada a um “Corriere della Sera” dobrado em quatro.
Chegou àquele tal lugar exausto de fadiga e de sono.
Aquele tal lugar não contava mais de três mil almas (ou corpos)? e não tinha mais que três hotéis.
O Grande Hotel Escudo de França estava fechado havia doze anos para reformas.
O Hotel-Restaurante Ovo Duro estava fechado por mudança do proprietário.
E o hotel de que a chuva apagara o nome estava todo ocupado por três viajantes de passagem, vendedores ambulantes de caixas de azeitonas com a andorinha impressa a fogo e a mulher que dança tarantela, com o pandeiro (lembrança de Sorrento). Os três viajantes ocupavam o único quarto e a única cama.
Há lugares desgraçados e lugares de sorte, como os homens. Não se compreende por que é que certas aldeias que não têm nenhum recurso natural estejam destinadas a grandes sucessos e se tornem, dentro de poucos anos, “fashionables” estações climatéricas, ao passo que outras ficam sendo para sempre os párias da geografia, os deserdados do bom tom. Aquele lugar fora, é certo, o berço de um grande filósofo. Mas de que serve isso? Fosse ao menos de um ciclista ou de um campeão de pugilismo!
O síndico, para melhorar a sorte do lugar, propusera ao pároco fazer-se um pouco de reclamo, provocando um milagre. Viu -se a sorte de Oropa e de Lourdes. Os milagres são o que se pode desejar de melhor para favorecer a indústria do forasteiro; mas o pároco respondeu que hoje ninguém mais crê nos milagres, e que aos santuários fazem concorrência os cassinos e “Kursaals” onde se joga. Mais eficiente que um milagre, — disse o reverendo — seria, para atrair forasteiros, uma boa banca de roleta e de “trente et quarante”; mas é inútil pensar nisso enquanto certos jornalistas e certos políticos, encorajados pelo Cassino de Montecarlo com centenas de bilhetes de mil, continuarem a fazer na Itália a santa cruzada contra essa coisa ignóbil e imoral que é o jogo.
* * *
O comissário Puricelli morria de cansaço e de sono. A noite anterior tinha dormido num banco de primeira classe. Conquanto tivesse um bilhete de terceira, um incorruptível guarda-trens, por cinco liras, deixou-o imperturbado na primeira. Mas o sono em estrada de ferro não tem nada de restaurador, porque enquanto se dorme continua-se a fazer o esforço de querer dormir.
Chegou pois àquele pequeno lugar da Ligúria em condições desesperadas. Procurou pôr embaixo do braço o termômetro que sempre carregava consigo, mas ele já marcava quarenta graus à sombra; três além do normal do corpo humano.
Pensou em ir comer, mas depois refletiu que essa operação só serve para aumentar a combustão interna, e portanto a temperatura.
Pensou em ir dormir. Mas, onde? Talvez um trem pudesse levá-lo a... ou então a...
Dirigiu-se para a estação. Antes do anoitecer passavam dois diretíssimos para as duas opostas direções, mas não paravam ali.
Então pôs dois soldos num aparelho distribuidor do chocolate e tocou a manivela.
Fê-la girar duas ou três vezes, primeiro num sentido e depois noutro.
Deu uma sacudida no aparelho. Deu um soco na máquina. Depois um pontapé. E foi-se embora.
— Mas onde dormirei esta noite?
Os camponeses com quem tratara uma partida de madeira não podiam dar-lhe hospedagem. No lugar não conhecia mais ninguém. Muitos anos antes uma amiga da sua família estabelecera-se nesse lugar como professora. Chamava-se Assunção Esposito. Mas a estas horas quem sabe onde terá ido parar? Quem sabe que carreira terá feito, em dez anos!
— Não, não! — disse-lhe o secretário do conselho —. É professora da escola feminina, e mora defronte da charutaria. Vire para a esquerda, e quando estiver em frente da fonte pergunte pela professora.
A professora não estava, mas uma vizinha, confiando na cara pálida mas honesta do homem, introduziu-o na sala e ofereceu-lhe a cadeira sobre que o visitante já se tinha deixado cair.
— A professora não há de tardar.
Com efeito, alguns minutos depois a senhorita Assunção Esposito entrava precedida por monumental par de seios e coberta por abundante cabeleira loira. Mas loira com moderação.
Os dois não se teriam reconhecido encontrando-se por acaso na rua. O homem estava pavorosamente emagrecido por obra de milhões de bacilos de Koch. A mulher tinha engordado bastante, porque a escola lhe deva pouquíssimo trabalho, e quando não se tem nada que fazer engorda-se para fazer alguma coisa.
O seu corpo estava garridamente aromatizado com um daqueles ignóbeis perfumes de fabricação italiana que cheiram a xarope de quina. De rosto era vermelha como um dicionariozinho de bolso, mas olhando-a mais intimamente devia ter a polpa branca. Também as lagostas têm esta especialidade. Estava um pouco gasta nos cantos, como uma velha pasta de pele muito cheia e muito usada.
Ela também era muito cheia. E talvez também tivesse sido muito usada. Algumas senhoras feias que vinham no estio passar as férias (gente que vai passar o verão em lugarejos, por economia) tinham proferido juízos severos sobre a moralidade da professora. Mas eram senhoras feias. Feias e portanto dignas de perdão. A feiúra é nas mulheres uma derimente, como a embriaguez e a alienação mental. A estas línguas funestas tinham-se unido, para criar uma triste fama à professora, algumas senhoritas honestas. As senhoritas que depositam na Caixa Econômica do preconceito a própria virgindade, à espera de vendê-la a um hipotético esposo, e fazem do próprio corpo um artigo de comércio, ostentam soberano desprezo (cheio de inveja) pelas mulheres que do seu corpo podem dispor a seu gosto.
O senhor Casimiro Puricelli (madeiras e serraria), olhou durante muito tempo para a professora. Esta tinha formas de ginasta; carne para velhos generais; carne para soldados famintos. Numa cidade em que houvesse quartel aquela mulher poderia, sem grande trabalho, conseguir uma posição para os tristes casos de invalidez e velhice. Nas “troupes” de acrobatas de “variété” há sempre cinco homens (“brothers”) e u’a mulher (“and sister”) que agüenta três nos ombros e um com os dentes, enquanto o quinto fica de pé entre as pernas dela, fazendo sair a cabeça debaixo do seu ventre.
A professora Assunção Esposito era um tipo assim.
Quando o comissário Puricelli lhe explicou os motivos da agradável visita, ela exclamou:
— Mas em que parte vou pô-lo a dormir? Só tenho uma cama, que é a minha, e como vê não tenho divã... Depois, neste lugar não vejo onde se poderia encontrar uma cama... E a senhora sua mãe como está?
— Morta.
— Oh, coitada! E o senhor não tem filhos?
— Não.
— Sei que é triste não os ter, mas às vezes dão incômodos. Têm-me aparecido bons partidos, mas estou tão bem assim... E a sua senhora é de Turim?
— Barletta.
— Ah, sim? Conheço uma família de Barletta. Talvez que a sua senhora a conheça. Quem diria que, após dez anos, havíamos de encontrar-nos? O senhor parece-me um tanto abatido. É o verão, não é? O calor excessivo. A mim também o calor faz mal. Posso oferecer-lhe um café?
O comissário olhou-a com olhos súplices.
— Ofereça-me uma cama, senhorita! Ofereça-me uma cama! Eu morro de sono; há três dias que não durmo. Não resisto mais de pé, não resisto sentado. Peço-lhe unicamente um leito, um leito. Um só. Que há menos que um?
O comissário estava febril. A mulher estava fria.
— Mas, meu amigo, não pretenderá que o ponha a dormir comigo!
— E por que não? — retrucou o comissário com o gesto mandibular dos cães que apanham u’a mosca ao vôo. — Acredite, senhorita, que eu estou tão moído, exausto, desfibrado, que poderia dormir na sua cama sem roçar-lhe. Deixe-me dormir com a senhorita. Respeitá-la-ei. Juro-lhe que serei cavalheiro. Não a verei despir-se, não a verei dormir. Entre a senhorita e mim não haverá nada. Dormirei como poderia dormir junto de uma irmã. Os meus sentidos estão quase mortos, o meu desejo está gasto; sinto-me como um velho de noventa anos. Tenho uma debilidade geral gravíssiva; mas o que é mais grave é uma debilidade particular...
A professora olhava para ele perplexa. Era a primeira vez que, para dormir com ela, um homem exibia, a título de recomendação, um atestado de pobreza amatória.
* * *
Mas a professora não se deixou convencer das honestas intenções daquele homem que, depois de ter caído diante dela como um cadáver, se levantava galhardamente convidando-a para dormirem juntos. Outros homens tinham pedido a mesma coisa (o diretor e o bedel da escola, o pároco, o delegado e outros machos sem profissão definida), mas não para dormir! É estranho, é estranho (tudo que acontece na vida das mulheres lhes parece estranho) que um homem fale assim. Há qualquer coisa de obscuro na sua conduta.
Toda mulher que se vê olhada por um homem tem a presunçosa desconfiança de que ele a deseje. É muito natural, portanto, que a professora Assunção Esposito lesse no rosto pálido, exausto, mal ajeitado do comissário Puricelli a febre do amor.
— Compreendo, compreendo! — gorjeou a conspicuamente peituda professora cruzando as pernas de ginasta —. Compreendo o truque! Os homens são todos assim. O senhor é um pouco diferente dos outros, porque descobriu um estrategama novo. Ah, esta é boa! Deitar-se comigo na cama para... Eu que nunca fui... Eu que ainda... Ah, dou-lhe os meus parabéns, mas essa não pega.
O comissário Puricelli fez um sorriso triste como um esgar. A sua boca exangue teve a contorção de u’a metade de limão quando é espremida. Havia dez anos não se lembrava que aquela mulher existia no mundo. Havia outros tantos que lhe eram indiferentes todas as mulheres. Nem a Bela Otero, nem “la plus belle femme de France”, nem Ida Rubinstein, nem a Napierkovska, nem Francesca Libertini teriam conseguido fazer palpitar nas suas íris dilatadas um estremecimento de volúpia. E esta besta de professora rural, maciça como um ano da “Nuova Antologia”, pesada como um cavalo de tiro, congestionada como se lhe houvessem mergulhado a cara em lacre fervendo; esta besta de professora rural podia crer que ele, homem impermeável, se tivesse dado ao incômodo de arquitetar semelhante expediente para gozar a embriaguez dos seus cento e dez quilos de gordura!
Pobres mulheres!
Acreditar que um homem pode abalar-se de um lugar para outro, a fim de possuí-las! Acreditam que nós tomemos um trem para vir atirar aos pés delas a homenagem floral, a homenagem animalesca da nossa paixão!
Pobres mulheres!
Mas somente os salmões ainda fazem destas coisas nos dias de hoje! Os salmões viajam meses e meses contra a corrente, do mar para as nascentes do Reno, a fim de ir à pândega lá em cima... Mas os homens de hoje são muitos menos peixes que os salmões!
E estas bestas de mulheres, acreditando que a gente faça quilômetros de estrada e tantas operações para possuí-las, às vezes tomam a liberdade de se recusarem, ou, quando se entregam, deixam cair do alto o favor da sua carne!
Mas não sabeis, pobres mulheres, que aquela vibração passageira que o homem vos pede, e que lhe recusais às vezes, e que outras vezes lhe dais como um tesouro extraordinariamente raro; aquela coisa raríssima que o homem vos pede, possuem-na outros dezoito milhões de mulheres na Itália, outros duzentos milhões de mulheres na Europa, outros oitocentos milhões de mulheres no mundo?
Para ir dormir na cama da senhorita Esposito, o comissário Puricelli, homem indiferente a qualquer estremecimento, um daqueles homens que quando escrevem cartas juntam selo para a resposta, e quando falam de si acrescentam “graças a Deus” ou “se o céu permitir”; o comissário Puricelli (madeiras e serrarias), homem destituído de sensibilidade literária, ignorante de processos românticos, incapazes de golpes de teatro, para dormir com aquela mulher teve de recorrer a uma cena teatral:
— Pois bem, sim! — cantou com um gesto melodramático, levando a mão direita aberta ao hipocôndrio esquerdo e caindo por terra, de joelhos —. Pois bem, sim, senhorita Assunção; a senhorita compreendeu, compreendeu por aquele admirável tino divinatório que tendes vós, as mulheres inteligentes! Compreendeu a verdade. Há três e três seis e três nove e um dez anos que eu não a via, mas desde o dia em que nos separamos eu senti arder em mim a louca chama de um desejo irresistível. Procurei-a através de mares e continentes, como se procura um bem necessário. Procurei-a inutilmente durante dez anos, e quando mais vacilava a confiança de encontrá-la, mais crescia o meu amor. Amo-a, amo-a: tenho necessidade de possuí-la para mim só; de beijar a tua boca, de estreitar o teu corpo entre os meus braços, de sentir-te finalmente minha!
Quando um homem começa a tutear u’a mulher, não é necessário indicar onde já pôs as mãos. O homem prosseguiu:
— Agora finalmente te abraço. (A mulher deixava-se abraçar.)
— Finalmente agora te abraço! Ah, como me agradas! Que estremecimentos me dás! Que espasmo atroz! Da última vez que te vi, nada mudou (fora “um aumento de 35 quilos”)! E eu sempre te desejei assim!
A mulher reagia docemente, dizendo: “Não, não!” O homem desamarrou-lhe a camiseta, de onde explodiu um seio. O homem, que a abraçava com tenaz simulação de entusiasmo, sentiu aquele seio cair sobre os seus ombros, sobre o seu peito, sobre os seus antebraços, e fez um movimento instintivo como para não deixá-lo sair nem de um lado nem de outro.
Do outro lado de um tabique ficava o quarto de dormir.
Nunca leito humano inspirou desejos mais castos que os que inspirava aquela cama ao pobre Casimiro Puricelli, que há anos e anos não desejava u’a mulher e que há três dias e quatro noites não dormia.
— Meu amor! — balbuciou — vem. Deixa que eu te leve nos meus braços (110 kg) para a tua caminha (“largura”: 1,75 m). Aqui faz tanto calor e a gente que passsa pela rua poderia ver-nos!
A senhorita sempre dizendo: “Não, não”, dirigiu-se para a alcova, dando ao comissário a ilusão de arrastá-la não obstante a sua invencível resistência.
Alcova: armário com frutos de alabastro pintado; papel para matar moscas; lavatório; toalhas no lavatório; bacia desbeiçada; sabonete cor de rosa; coroa de rosário e u’a meia em torno a um pé da cama; acima da cama uma Nossa Senhora que ergue os olhos para o alto. Que discrição!
O relógio marcava as nove e meia. Estava escuro, lá fora. Dentro, uma lampadazinha amarela, de cinco velas, desempenhava mal o seu papel.
O conquistador e a conquistada apertavam-se um de encontro à outra, sentados, vestido, sobre os cuidados lençóis um pouco ásperos.
— Agradas-me, pequena (tórax: 1,25 m)!
— Acaricia-me! — gemeu a mulher. E não se dava conta de que Puricelli a estava acariciando a plenas mãos.
* * *
A cama estava tão quente que nela se poderiam cozer maçãs. O peso do corpo da mulher fazia no centro um vale profundo, para o qual o corpo magro do homem rolava, e quem sabe até onde se teria precipitado se não o detivesse aquele par de mamas galhardas como fortificações.
Havia anos e anos que não se encontrava na cama com u’a mulher. Aqueles braços de exposição de fenômenos vivos e aquelas pernas de concurso ginástico eram manjares um pouco demasiado fortes para quem se desabituara da carne feminina. A mulher rodeou-lhe os braços em torno do pescoço e beijou-o impudicamente na boca.
Aquela cabeça pálida, exangue, angulosa, parecia sob a boca devoradora de Assunção Esposito, o crânio de São João Batista sob os lábios de Salomé. Não havia muita diferença: São João estava morto; o comissário Puricelli tinha adormecido.
Mas a mulher despertou-o.
Com um bocejo engolido, o comissário explicou-lhe que não dormia, mas que a emoção de gozar aquele momento há tantos anos desejado era tão forte a ponto de tonteá-lo, de estupidificá-lo de felicidade.
A mulher exuberante dava voltas na cama como um burro no pasto.
Mas, como podia Casimiro dar-lhe uma prova aparente do prazer que dizia experimentar? Havia tantos anos que não dava semelhantes provas a mulher nenhuma!
Tentou, com um esforço cerebral, excitar-se. Recordou certos quadros vistos no museu nacional de Nápoles. Pensou numa cena de um romance de Luciano Zuccoli; repetiu mentalmente um soneto de d’Annunzio (“bocca amata, soave eppur dolente”) que em todos os colégios de freiras se aprende de cor; lembrou-se de certos beijos descritos por Barbusse; imaginou as coisas mais impudicas.
Mas, em vão. A realidade daquela mulher repugnante neutralizava a ação de qualquer excitante cerebral.
Se ao menos fosse delgada, lisa, magra, flexível como as mulheres de que ele gostava no tempo em que ainda gostava de mulheres! Mas ali havia material para três mulheres naquelas condições!
Levantou o lençol com que, por uma contrafação de pudor, a mulher se cobrira até o pescoço, contemplou-a fixamente no tenebroso triângulo isósceles e procurou em vão a “diaboli virtus in lumbis”.
Fechou os olhos e, para se iludir de que fosse u’a mulher magra, acariciou-lhe docemente com as duas mãos um braço, pensando: “Que coxas finas! É uma ‘fausse maigre’!”
A mulher nua subiu para cima dele, cobriu-o todo com o seu corpo e, apertando-o bem entre os braços, deixou-se pender sobre um flanco, estendeu-se de costas, conservando o homem seguro por cima de si.
O prodígio de que Casimiro não se julgava mais capaz, há vários anos, realizou-se com fadiga, mas realizou-se.
— Assim quis o Céu! Seja feita a vontade de Deus! — pensava Puricelli.
Os seus pobres nervos estavam despedaçados. Foi presa de uma crise de tosse. Durante cinco minutos a sua perna esquerda agitou-se ritmicamente com o movimento da perna da cama, enquanto a cabeça se lhe enterrava no travesseiro, erguendo-lhe o busto violentamente, aos pulos, como nos casos de asfixia.
A mulher, quando ele se acalmou, protestou:
— Que vergonha! Abusar de uma rapariga indefesa! Vou escrever isso à sua mulher.
— Apresente-lhe os meus respeitos! — gemeu Puricelli.
E adormeceu.
* * *
Dormiu várias horas. Dormiu como o porco depois de ter devorado o “petit déjeuner” de sete crianças. Hércules, que numa só noite inaugurou a carreira de cinqüenta virgens (conta Ovídio), não ficou mais cansado que Puricelli (madeiras e serraria).
Entretanto a mulher pensava presunçosamente:
— Mas como são espertos estes homens! Para possuir o meu corpo inventou a história dos hotéis fechados; arranjou o pretexto da cama; prometeu deitar-se ao meu lado, respeitando-me como uma irmã. Construiu todo este miguelangélico edifício de mentiras só para me possuir!
E o comissário Puricelli, pouco antes de adormecer contra um flanco e um ombro da hospedeira, tinha pensado:
— Que irônica torpeza é a vida! Para conquistar um pedaço de colchão em que dormir, tive de inventar a história de um longo amor, de um desejo inextinguível; e, o que é pior, tive de tragar uma dose de mulher para vinte e quatro, que me dá nojo!
Turim, dezembro de 1920.
FIM
NOTA DE COPYRIGHT
O status de copyright, como de Pitigrilli [Dino Segre], refere-se aos seus direitos morais, eternos. Quanto à presente edição, é feita em “fair use”, reputando-a como de domínio público e em benefício de um direito moral do autor infelizmente não contemplado pela Lei 9.610 de 19/02/1998 [Lei dos Direitos Autorais].
Ela não menciona, entre os Direitos Morais do Autor (Artigo 24) o mais importante dentre eles, como qualquer autor sabe: o de ter sua obra divulgada, em vida e, principalmente, após sua morte.
Caso haja, nesta publicação, a violação de qualquer direito patrimonial (o que não acreditamos, visto a obra não ter sido republicada há anos, a editora não mais existir e a presente edição estar sendo disponibilizada com cessão pública, que aqui fica declarada, de todo e qualquer direito patrimonial sobre ela), o detentor legítimo de tal direito, ou quem tiver conhecimento de algum, está cordialmente convidado a enviar seu e-mail para livros@ebooksbrasil.org para que o presente título seja prontamente retirado da apreciação pública e possamos informar aos apreciadores da obra de Pitigrilli onde poderão adquiri-la em português.
OBRAS DE PITIGRILLI
COCAÍNA
A VIRGEM DE 18 QUILATES
ULTRAJE AO PUDOR
MAMÍFEROS DE LUXO
O CINTO DE CASTIDADE
O EXPERIMENTO DE POTT
VEGETARIANOS DO AMOR
LOURA DOLICOCÉFALA
O COLAR DE AFRODITE
©2006 — Pitigrilli
Versão para eBook
eBooksBrasil
__________________
Março 2006Proibido todo e qualquer uso comercial.
Se você pagou por esse livro
VOCÊ FOI ROUBADO!
Você tem este e muitos outros títulos
GRÁTIS
direto na fonte:
eBooksBrasil.org
eBookLibris
© 2006 eBooksBrasil.org