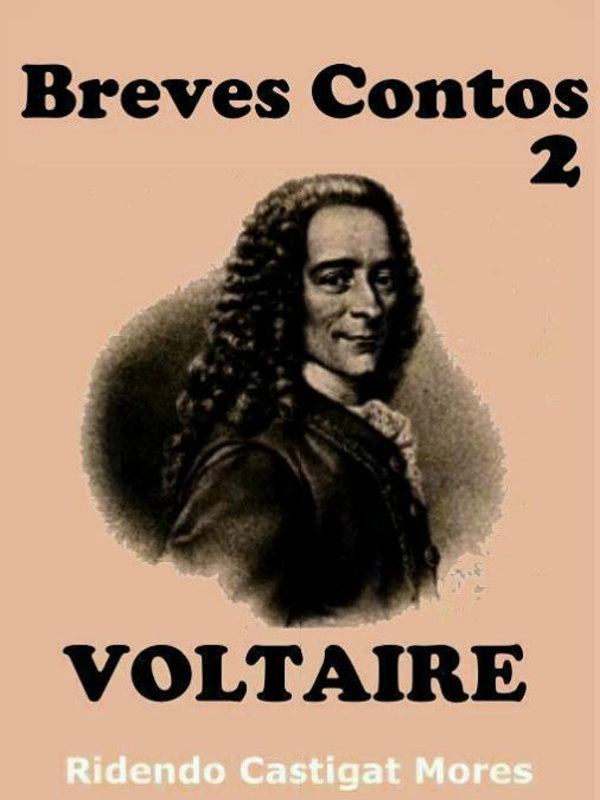Breves Contos II
Voltaire (1694-1778)
Edição
Ridendo Castigat Mores
Versão para eBook
eBooksBrasil.org
Fonte Digital
www.jahr.org
Copyright:
Domínio Público
ÍNDICE
APRESENTAÇÃO
BIOGRAFIA DO AUTOR
MEMNON
OU A SABEDORIA HUMANA
OS DOIS CONSOLADOS
HISTÓRIA DAS VIAGENS DE SCARMENTADO
Escrita por ele próprio
HISTÓRIA DE UM BRÂMANE
BREVES CONTOS II

VOLTAIRE
APRESENTAÇÃO
Nélson Jahr Garcia
Selecionamos, aqui, quatro contos em que Voltaire discute questões fundamentais do conhecimento e comportamento humanos, com a sua habitual profundidade filosófica. Como sempre, as críticas severas, a ironia e o sarcasmo estão presentes. Costumes, crenças, autoridades são todos ridicularizados.
“Memnon” relata a história de um homem que teve a ousadia de se tornar perfeito. Voltaire, com todo o seu sarcasmo, demonstra o quão insensata é essa tentativa.
“Os Dois Consolados” é um pequeno apólogo, onde o autor mostra como se é possível ficar consolado dos problemas da vida, analisando-se as dores ainda maiores de outros. Sem dúvida, extremamente irônico.
Em “História das Viagens de Scarmentado” o herói viaja por inúmeros países, mostrando que os homens são os mesmos em todos os cantos da terra.
“História de um Brâmane” (1759), se desenvolve explorando contrastes com que Voltaire consegue desmoralizar a especulação metafísica. O brâmane é um dos personagens preferidos do autor, presente em quase todas as suas obras.
São textos que merecem ser lidos, nos ensinam, fazem-nos pensar e, principalmente, sorrir.
BIOGRAFIA DO AUTOR

FRANÇOIS-MARIE AROUET, filho de um notário do Châtelet, nasceu em Paris, em 21 de novembro de 1694. Depois de um curso brilhante num colégio de jesuítas, pretendendo dedicar-se à magistratura, pôs-se ao serviço de um procurador. Mais tarde, patrocinado pela sociedade do Templo e em particular por Chaulieu e pelo marquês de la Fare, publicou seus primeiros versos. Em 1717, acusado de ser o autor de um panfleto político, foi preso e encarcerado na Bastilha, de onde saiu seis meses depois, com a Henriade quase terminada e com o esboço do OEdipe. Foi por essa ocasião que ele resolveu adotar o nome de Voltaire. Sua tragédia OEdipe foi representada em 1719 com grande êxito; nos anos seguintes, vieram: Artemise (1720), Marianne (1725) e o Indiscret (1725).
Em 1726, em conseqüência de um incidente com o cavaleiro de Rohan, foi novamente recolhido à Bastilha, de onde só pode sair sob a condição de deixar a França. Foi então para a Inglaterra e aí se dedicou ao estudo da língua e da literatura inglesas. Três anos mais tarde, regressou e publicou Brutus (1730), Eriphyle (1732), Zaïre (1732), La Mort de César (1733) e Adélaïde Duguesclin (1734). Datam da mesma época suas Lettres Philosophiques ou Lettres Anglaises, que provocaram grande escândalo e obrigaram a refugiar-se em Lorena, no castelo de Madame du Châtelet, em cuja companhia viveu até 1749. Aí se entregou ao estudo das ciências e escreveu os Eléments de le Philosophie de Newton (1738), além de Alzire, L’Enfant Prodigue, Mahomet, Mérope, Discours sur l’Homme, etc.
Em 1749, após a morte de Madame du Châtelet, voltou a Paris, já então cheio de glória e conhecido em toda a Europa, e foi para Berlim, onde já estivera alguns anos antes como diplomata. Frederico II conferiu-lhe honras excepcionais e deu-lhe uma pensão de 20.000 francos, acrescendo-lhe assim a fortuna já considerável. Essa amizade, porém, não durou muito: as intrigas e os ciúmes em torno dos escritos de Voltaire obrigaram-no a deixar Berlim em 1753.
Sem poder fixar-se em parte alguma, esteve sucessivamente em Estrasburgo, Colmar, Lyon, Genebra, Nantua; em 1758, adquiriu o domínio de Ferney, na província de Gex e aí passou, então, a residir em companhia de sua sobrinha Madame Denis. Foi durante os vinte anos que assim viveu, cheio de glória e de amigos, que redigiu Candide, Histoire de la Russie sous Pierre le Grand, Histoire du Parlement de Paris, etc., sem contar numerosas peças teatrais.
Em 1778, em sua viagem a Paris, foi entusiasticamente recebido. Morreu no dia 30 de março desse mesmo ano, aos 84 anos de idade.
MEMNON
OU A SABEDORIA HUMANA
Memnon concebeu um dia o insensato projeto de ser perfeitamente sábio. Não há homem a quem essa loucura não tenha ocorrido alguma vez.
“Para ser bastante sábio, e por conseguinte bastante feliz, – considerou Memnon, – basta não ter paixões; e nada é mais fácil, como se sabe. Antes de tudo, jamais amarei mulher nenhuma: pois, ao ver uma beleza perfeita, direi comigo mesmo: “Essas faces se enrugarão um dia; esses belos olhos se debruarão de vermelho; esses rijos seios se tornarão flácidos e pendentes; essa linda cabeça perderá os cabelos”. É só olhá-la agora com os olhos com que a verei então, e essa cabeça não há de virar a minha.
Em segundo lugar, serei sóbrio. Por mais que seja tentado pela boa mesa, os vinhos deliciosos, a sedução da sociedade, bastará imaginar as conseqüências dos excessos, a cabeça pesada, o estômago arruinado, a perda da razão, da saúde e do tempo: apenas comerei por necessidade; minha saúde será sempre igual, minhas idéias sempre puras e luminosas. Tudo isso é tão fácil que não há nenhum mérito em consegui-lo.
“Depois” – dizia Memnon, – “devo pensar um pouco na minha fortuna. Meus desejos são moderados; meus bens estão solidamente colocados em mãos do recebedor geral das finanças de Nínive; tenho com que viver independentemente; é esse o maior dos bens. Nunca me verei na cruel necessidade de freqüentar a Corte: não invejarei ninguém, e ninguém me invejará. Eis o que é também bastante fácil. Tenho amigos – continuava ele – e hei de conservá-los, pois nada terão que me disputar. Nunca me indisporei com eles, nem eles comigo. Isso não tem dificuldade alguma”.
Tendo assim feito no interior do quarto o seu pequeno plano de sabedoria, Memnon pôs a cabeça à janela. Viu duas mulheres que passeavam debaixo dos plátanos, perto da sua casa. Uma era velha e não aparentava pensar em nada. A outra era jovem, bonita, e parecia muito preocupada. Suspirava, chorava, e com isso não fazia mais que aumentar as suas graças. O nosso filósofo sentiu-se impressionado, não com a beleza da dama (estava seguro de não se entregar a tais fraquezas), mas com a aflição em que a via. Desceu à rua e abordou a jovem, com a intenção de consolá-la sabiamente. A linda criatura contou-lhe, com o ar mais ingênuo e comovente do mundo, todo o mal que lhe causava um tio que ela não tinha; com que artimanhas lhe roubara ele uns bens que ela jamais possuíra; e tudo o que tinha a temer da sua violência. “O senhor me parece um homem tão avisado – lhe disse ela, – que, se tivesse a bondade de acompanhar-me até em casa e examinar meus negócios, estou certa de que me tiraria do cruel embaraço em que me encontro”. Memnon não hesitou em segui-la para examinar sabiamente os seus negócios e dar-lhe um bom conselho.
A dama aflita levou-o para um salão perfumado e fê-lo sentar-se polidamente num largo sofá, onde se mantinham ambos, com as pernas cruzadas, um defrontando o outro. A dama falou baixando os olhos, de onde escapavam lágrimas de vez em quando e que, ao erguerem-se, cruzavam sempre com os olhares do sábio Memnon. As frases dela eram cheias de um enternecimento que redobrava sempre que os dois se olhavam. Memnon tomava os seus negócios extremamente a peito, e de momento a momento sentia maior desejo de socorrer a uma criatura tão honesta e tão desgraçada. No calor da conversação, deixaram insensivelmente, de estar um defronte ao outro. As suas pernas descruzaram-se. Memnon aconselhou-a de tão perto, deu-lhe conselhos tão ternos, que nenhum dos dois podia falar de negócios, e não sabiam mais onde se achavam.
E, como se achassem em tal ponto, eis que chega o tio, como era de prever; estava armado da cabeça aos pés; e a primeira coisa que disse foi que ia matar, como de razão, o sábio Memnon e a sobrinha; a última que lhe escapou foi que ainda poderia perdoar aquilo tudo mediante considerável quantia. Memnon foi obrigado a entregar tudo o que tinha consigo. Davam-se por muito felizes, naquele tempo, em livrar-se tão modicamente; a América ainda não tinha sido descoberta e as damas aflitas não eram tão perigosas como hoje.
Memnon, envergonhado e desesperado, voltou para casa: encontrou um bilhete que o convidava para jantar com alguns amigos íntimos. “Se fico sozinho em casa – considerava ele, – terei o espírito preocupado com a minha triste aventura, não poderei comer, e acabo adoecendo. E melhor ir fazer, com meus íntimos, uma refeiçãozinha frugal. Esquecerei, na doçura do seu convívio, a tolice que fiz esta manhã”. Comparece à reunião; acham-no um pouco taciturno. Obrigam-no a beber para dissipar a tristeza. Um pouco de vinho tomado com moderação é um remédio para a alma e o corpo. E assim que pensa o sábio Memnon; e embebeda-se. Depois propõem-lhe uma partida. Um joguinho entre amigos é um passatempo honesto. Ele joga; ganham-lhe tudo o que tem na bolsa, e quatro vezes mais sob palavra. No meio do jogo surge uma disputa; exaltam-se os ânimos: um de seus amigos íntimos lança-lhe à cara um copo de dados e lhe vasa um olho. Carregam para casa o sábio Memnon, embriagado, sem dinheiro, e com um olho de menos.
Cozinha um pouco o seu vinho; e, logo que se vê com a cabeça mais livre, manda o criado conseguir dinheiro com o recebedor geral das finanças de Nínive, a fim de pagar seus íntimos amigos: dizem-lhe que seu credor, pela manhã, abrira falência fraudulenta, deixando cem famílias em pânico. Memnon, consternado, dirige-se à Corte, com um emplastro no olho e um memorial na mão, para pedir justiça ao rei contra o bancarroteiro. Encontra num salão várias damas que usavam todas, comodamente, umas saias de vinte e quatro pés de circunferência. Uma delas, que o conhecia um pouco, exclamou, olhando-o de soslaio: “Ai, que horror!” Outra, que o conhecia mais, lhe disse: “Boa tarde, senhor Memnon. Verdadeiramente encantada de vê-lo, senhor Memnon. A propósito, senhor Memnon: como foi que perdeu um olho?” E passou adiante sem esperar resposta. Memnon ocultou-se a um canto, aguardando o momento em que se pudesse lançar aos pés do rei. Chegado esse momento, beijou três vezes o chão e apresentou seu memorial. Sua Graciosa Majestade o recebeu muito favoravelmente e entregou o memorial a um dos sátrapas, para informar. O sátrapa chama Memnon à parte e diz-lhe com ar altivo, rindo amargamente: “Belo caolho me saiu você, dirigindo-se ao rei e não a mim! E ainda por cima ousa pedir justiça contra um honesto bancarroteiro a quem honro com a minha proteção e que é sobrinho de uma camareira de minha amante. Quer saber de uma coisa? Abandone esse negócio, meu amigo, se pretende conservar o olho que lhe resta. Memnon, tendo assim renunciado, pela manhã, às mulheres, aos excessos da mesa, ao jogo, a qualquer discussão, e sobretudo à Corte fora, antes de chegar a noite, enganado e roubado por uma bela dama, embriagara-se, jogara, metera-se numa disputa, perdera um olho e recorrera à Corte, onde haviam zombado dele.
Petrificado de espanto, transido de dor, regressa com a morte no coração. Quer entrar em casa: ali encontra oficiais de justiça que o despejavam em nome dos credores. Detém-se quase desmaiado sob um plátano; ali se encontra com a bela dama da manhã, a passear com o querido tio e que explodiu de riso ao ver Memnon com o seu emplastro. Tombou a noite; Memnon deitou-se na palha junto dos muros de sua casa. Veio-lhe a febre; assim adormeceu; e um espírito celeste lhe apareceu em sonhos.
Era todo resplendente de luz. Tinha seis belas asas, mas nem pés, nem cabeça, nem cauda, e não se assemelhava a coisa alguma.
— Quem és tu? – lhe diz Memnon.
— O teu bom gênio – respondeu-lhe o outro.
— Devolve-me então o meu olho, a minha saúde, o meu dinheiro, a minha sabedoria – pede-lhe Memnon.
Em seguida contou-lhe como perdera tudo aquilo em um único dia.
— Eis aí aventuras que nunca nos acontecem no mundo em que habitamos – observa o espírito.
— E em que mundo habitas? – indaga o infeliz.
— A minha pátria fica a quinhentos milhões de léguas do sol, numa pequena estréia perto de Sírio, que tu vês daqui.
— Que bela terra! – exclamou Memnon. – Quer dizer que lá não há espertalhonas que enganem um pobre homem, nem amigos íntimos que lhe ganhem o dinheiro e lhe furem um olho, nem bancarroteiros, nem sátrapas que zombem da gente, recusando-nos justiça?
— Não – respondeu o habitante da estrela, – nada disso. Nunca somos enganados pelas mulheres, porque não as temos; não nos entregamos a excessos de mesa, porque não comemos; não temos bancarroteiros, porque não existe entre nós nem ouro nem prata; não nos podem furar os olhos, porque não temos corpos à maneira dos vossos; e os sátrapas nunca nos fazem injustiça, porque na nossa estrela todos são iguais.
— Sem mulher e sem dinheiro – disse Memnon, – como passam então o tempo?
— A vigiar – respondeu o gênio – os outros globos que nos são confiados; e eu vim para consolar-te.
— Ah! – suspirava Memnon. – Por que não vieste na noite passada, para impedir-me de cometer tantas loucuras?
— Eu estava junto de Assan, teu irmão mais velho – respondeu o ente celeste. – Ele é mais digno de lástima que tu. Sua Graciosa Majestade o Rei das Índias, em cuja Corte tem a honra de servir, mandou-lhe vazar os dois olhos, devido a uma pequena indiscrição, e Assan acha-se atualmente num calabouço, com ferros nos pulsos e tornozelos.
— Mas que adianta ter um gênio na família, para que, de dois irmãos, um esteja caolho, o outro cego, um nas palhas, o outro na prisão?
— A tua sorte mudará – tornou o animal da estrela. – É verdade que serás sempre caolho; – mas, afora isso, ainda hás de ser bastante feliz, contanto que não faças o tolo projeto de ser perfeitamente sábio.
— É então uma coisa impossível de conseguir? – exclamou Memnon, suspirando.
— Tão impossível – replicou o outro – como ser perfeitamente hábil, perfeitamente forte, perfeitamente poderoso, perfeitamente feliz. Nós próprios estamos muito longe disso. Há um globo em tais condições; mas, nos cem milhões de mundos que estão esparsos pela imensidade, tudo se encadeia por gradações. Tem-se menos sabedoria e prazer no segundo que no primeiro, menos no terceiro que no segundo. E assim até o último, onde todos são completamente loucos.
— Receio muito – disse Memnon – que este nosso pequeno globo terráqueo seja precisamente o hospício do universo de que me fazes a honra de falar.
— Não tanto – respondeu o espírito, – mas aproxima-se: tudo está no seu lugar.
— Ah! – exclamou Memnon. – Bem se vê que certos poetas, certos filósofos, não têm razão nenhuma em dizer que tudo está bem.
— Pelo contrário, têm toda a razão – retrucou o filósofo das alturas, – levando-se em conta o arranjo do universo inteiro.
— Ah! só acreditarei nisso – replicou o pobre Memnon quando não for mais caolho.
OS DOIS CONSOLADOS
O grande filósofo Citófilo dizia certa vez a uma mulher desolada, e que tinha razões de sobra para isso:
A rainha da Inglaterra, filha do grande Henrique IV foi tão infeliz quanto a senhora: expulsaram-na de seus domínios; esteve prestes a naufragar numa tempestade; assistiu à morte de seu real esposo, no cadafalso.
— Lamento-a – disse a dama; e pôs--se a chorar seus próprios infortúnios.
— Mas lembre-se de Maria Stuart – insistiu Citófilo. – Ela amava muito honestamente a um bravo músico que tinha uma bela voz de baixo. O marido matou-lhe o músico à sua própria vista; e depois a sua boa amiga e parenta a rainha Elizabeth que se dizia virgem, mandou cortar-lhe o pescoço num cadafalso forrado de negro, depois de a ter conservado prisioneira durante dezoito anos.
— Cruel destino – respondeu a dama; e tornou a abismar-se na sua melancolia.
— E com certeza já ouviu falar – continuou o consolador – na bela Joana de Nápoles, aquela que foi presa e estrangulada?
— Lembro-me confusamente – respondeu a aflita senhora.:
— Pois bem, devo então contar-lhe o que aconteceu a uma outra grande princesa, a quem ensinei filosofia. Tinha ela um namorado, como acontece a todas as grandes e belas princesas. Uma vez o pai entrou-lhe no quarto e ali surpreendeu o amante, que tinha as faces em brasa e cujo olhar fulgurava como um diamante; a dama estava também muito animada de cores. A cara do jovem desagradou de tal maneira ao pai, que este lhe aplicou o mais formidável bofetão de que há memória na sua província. O amante pegou um par de tenazes e rachou a cabeça do sogro. que só agora se está curando, e ainda tem as cicatrizes do ferimento. A amante, desesperada, saltou pela janela e destroncou o pé; de maneira que hoje coxeia visivelmente, embora tenha em compensação um corpo muito bonito. O amante foi condenado à morte por haver quebrado a cabeça de tão alto príncipe. Imagine o estado em que não estava a princesa quando levavam o amante para a forca. Visitei-a durante muito tempo, enquanto ela se achava em prisão: só me falava das suas desgraças
— Por que não quer então que eu pense nas minhas? – retrucou a dama.
— É porque não deve – replicou o filósofo. – Pois, havendo tantas e tão grandes damas com tamanhas desgraças, não lhe fica bem desesperar-se. Pense em Hécuba, pense em Niobe.
— Ah! – exclamou a dama. – Se eu tivesse vivido no tempo destas últimas, ou no de tantas belas princesas e, para as consolar, lhes contasse o senhor as minhas desgraças, acha que elas lhe dariam ouvidos?
No dia seguinte, o filósofo perdeu o seu filho único, e esteve a ponto de morrer de dor. A dama organizou então uma lista de todos os reis que haviam perdido os filhos e levou-a ao filósofo. Este a leu, achou-a bastante exata, e nem por isso chorou menos.
Três meses depois tornaram a encontrar-se, e muito se espantaram de achar-se mais alegres. E mandaram erigir uma bela estátua ao tempo, com a seguinte inscrição: ÀQUELE QUE CONSOLA.
HISTÓRIA
DAS VIAGENS DE SCARMENTADO
ESCRITA POR ELE PRÓPRIO
Nasci em 1800 na cidade de Cândia, de que meu pai era governador. Lembra-me que um poeta medíocre, e que não era mediocremente duro, compôs uns maus versos em meu louvor, nos quais me fazia descender de Minos em linha reta; mas, tendo meu pai caído em desgraça, fez ele outros versos, onde eu descendia apenas de Pasifaé e seu amante. Mau homem, esse Iro, e o mais aborrecido velhaco de toda a ilha.
Quando completei quinze anos, meu pai mandou-me estudar em Roma. Cheguei na esperança de aprender todas as verdades; pois até então me haviam ensinado exatamente o contrário, conforme é de uso neste mundo, desde a China até os Alpes. Monsignor Profondo, a quem fora recomendado, era um homem singular e um dos mais terríveis sábios que já houve no mundo. Quis ensinar-me as categorias de Aristóteles, e esteve a ponto de me colocar na categoria de seus mignons: escapei-me a tempo. Vi procissões, exorcismos e algumas rapinas. Diziam, mas falsamente, que a signora Olímpia, pessoa de grande prudência, vendia muita coisa que não se deve vender. Estava eu numa idade em que tudo isso me parecia muito divertido. Uma jovem dama de costumes muito brandos, chamada signora Fatelo, houve por bem amar-me. Era cortejada pelo reverendo padre Poignardini e pelo reverendo padre Acomiti, jovens professores de uma ordem que não mais existe: ela os pôs de acordo, concedendo-me as suas graças; mas ao mesmo tempo corria o risco de ser excomungado e envenenado. De modo que parti, muito contente com a arquitetura de S. Pedro.
Viajei pela – França; era no tempo do reinado de Luis, o justo. A primeira coisa que me perguntaram foi se eu não queria, para o almoço uma pequena porção do marechal d’Ancre, cuja carne o povo tinha assado e que vendiam modicamente a quem pedisse.
Esse Estado era continuamente agitado de guerras civis, algumas por causa de um lugar no Conselho, outras vezes por duas páginas de controvérsia. Fazia mais de sessenta anos que aquele fogo, ora abafado, ora soprado com violência, desolava aqueles belos climas. Eram as liberdades da igreja galicana. “No entanto – suspirava eu – esse povo nasceu tranqüilo: quem pode tê-lo assim arrebatado a seu gênio? Ele diverte-se e faz S. Bartolomeus. Venturosos os dias em que não fizer mais que divertir-se!”
Passei para a Inglaterra: as mesmas querelas excitavam ali os mesmos furores, Santos católicos tinham resolvido, a bem da Igreja, fazer saltar pelos ares, a pólvora, o rei, a família real e todo o Parlamento, e livrar a Inglaterra de tais heréticos. Mostravam-me o local onde a bem-aventurada rainha Maria, filha de Henrique VIII, mandara queimar mais de quinhentos de seus súditos. Um padre assegurou-me que era uma belíssima ação: primeiro, porque aqueles a quem haviam queimado eram ingleses; em segundo lugar, porque nunca usavam água benta e não acreditavam no buraco de S. Patrício. Espantava-se de que ainda não tivessem canonizado a rainha Maria; mas aguardava-o para breve, logo que o cardeal-sobrinho dispusesse de algum lazer.
Dirigi-me para a Holanda, onde esperava encontrar mais tranqüilidade em meio a um povo mais fleumático. Cortava-se a cabeça a um venerável ancião, quando desembarquei em Haia. Era a cabeça calva do primeiro ministro Barneveldt, o homem que mais merecera da República. Cheio de piedade, perguntei qual o seu crime e se havia traído o Estado. “Fez muito pior – respondeu-me um pregador de manto negro. – Esse homem acredita que a gente pode salvar-se pelas boas obras, tanto como pela fé. Bem vê que, a vigorarem tais opiniões, não poderia uma república subsistir, e que há necessidade de leis severíssimas para reprimir esses escândalos”. Um profundo político da terra disse-me a suspirar: “Ah! meu senhor, os bons tempos não durarão sempre; é só por acaso que este povo se mostra agora tão zeloso; o fundo de seu caráter é inclinado ao dogma abominável da tolerância; esse dia virá: é o que me faz tremer”. Quanto a mim, enquanto não chegavam esses funestos dias da moderação e da indulgência, deixei mais que depressa um país onde a severidade não era suavizada por nenhum atrativo, e embarquei para a Espanha.
A Corte estava em Sevilha; os galeões tinham chegado; tudo respirava abundância e alegria na mais bela estação do ano. Ao fim de uma alameda de laranjeiras e limoeiros, vi uma espécie de pista imensa, cercada de gradis cobertos de preciosos tecidos. O rei, a rainha, os infantes, as infantas achavam-se acomodados sob um pálio soberbo. Fronteiro a essa augusta família, erguia-se um outro trono, mas muito mais elevado. Disse a um de meus companheiro, de viagem: “A não ser que esse trono seja reservado para Deus, não sei a quem possa servir...” Essas indiscretas palavras foram ouvidas por um bravo espanhol e me custaram bastante caro. Imaginava que fôssemos assistir a alguma cavalgada ou corrida de touro, quando o grande inquisidor surgiu naquele trono, de onde abençoou o rei e o povo.
Em seguida entrou um exército de padres, em formação de dois, brancos, negros, cinzentos, calçados, descalços, com barba, sem barba, encapuzados, sem capuz; em seguida marchava o carrasco; depois, no meio dos alguazis e dos grandes, via-se cerca de quarenta pessoas vestidas de sacos, nos quais haviam pintado diabos e chamas. Eram judeus que não tinham querido renunciar a Moisés, cristãos que tinham desposado as próprias comadres, ou que não haviam adorado a Nossa Senhora de Atocha, ou não quiseram desfazer-se de seus negócios em favor dos irmãos hieronimitas Cantaram devotamente belas orações. depois queimaram todos os culpados a fogo lento, com o que a família real pareceu extremamente edificada.
A noite, quando ia meter-me na cama, chegaram dois familiares da Inquisição com a santa Hermandad; beijaram-mo ternamente e levaram-me, sem dizer palavra, para um calabouço muito fresco, mobiliado de uma esteira e um belo crucifixo. Fiquei ali seis semanas, ao fim das quais o reverendo padre Inquisidor me mandou pedir que lhe fosse falar: estreitou-me algum tempo entre os braços, com uma afeição toda paternal; disse-me que se sentia sinceramente aflito por ter sabido que eu estava tão mal alojado; mas que todos os apartamentos da casa se achavam ocupados e esperava que, da próxima vez, me sentisse mais a gosto. Em seguida perguntou-me cordialmente se eu não sabia por que estava lá. Disse ao reverendo que provavelmente pelos meus pecados. “Pois bem, meu caro filho, por qual pecado? Fala-me com toda a confiança”. Por mais que procurasse, não pude adivinhar: ele caridosamente me auxiliou. Até que me lembrei das minhas indiscretas palavras, de que fui remido com disciplinas e uma multa de trinta mil reales. Levaram-me a saudar o grande inquisidor: era um homem polido, que me perguntou como tinha eu achado a sua festinha. Disse-lhe que achara uma coisa deliciosa, e fui instar com meus companheiros de viagem para que deixássemos aquele país, por mais belo que fosse. Tiveram eles tempo de informar-se de todas as grandes coisas que os espanhóis haviam feito pela religião. Leram as memórias do famoso bispo de Chispa, das quais se depreende que haviam degolado ou queimado ou afogado dez milhões de infiéis na América, a fim de os converter. Achei que o bispo exagerava; mas, ainda que se reduzisse tal sacrifício a cinco milhões de vitimas, seria igualmente admirável.
Acossava-me ainda o desejo de viajar. Contava terminar minha excursão européia pela Turquia; pusemo-nos a caminho. Propus-me não mais dar opiniões sobre as festas a que assistisse. “Esses turcos – dizia eu a meus companheiros – são incréus, não foram batizados e, por conseguinte, hão de ser muito mais cruéis que os reverendos padres inquisidores. Guardemos silêncio quando estivermos entre os maometanos”.
Fui, pois, ter com eles. Muito me espantei ao ver que na Turquia havia mais igrejas cristãs que em Cândia. Vi até numerosos grupos de monges, a quem deixavam rezar livremente à Virgem Maria e amaldiçoar a Maomé, estes em grego, aqueles em latim, outros em armênio. “Boa gente esses turcos!” – exclamei. Os cristãos gregos e os cristãos latinos eram inimigos mortais em Constantinopla; esses escravos perseguiam-se uns aos outros, como cães que se mordem na rua e a quem os donos separam a bastonaços. O grão-vizir protegia então os gregos. O patriarca grego acusou-me de haver ceado com o patriarca latino, e eu fui condenado, em pleno divã, a cem varadas na sola dos pés, resgatáveis por quinhentos sequins. No dia seguinte, o grão-vizir foi estrangulado; e, no outro dia, o seu sucessor, que era pelo partido dos latinos, e que só foi estrangulado um mês depois, me condenou à mesma multa, por ter ceado com o patriarca grego. Vi-me na triste emergência de não freqüentar nem a Igreja grega nem a latina. Para consolar-me, tomei a meu serviço uma bela circassiana, que era a mais carinhosa das criaturas na intimidade, e a mais devota na mesquita. Uma noite; nos doces transportes do seu amor, exclamou, beijando-me:. Alla, Illa, Alla; são as palavras sacramentais dos turcos: julguei que eram as do amor; exclamei também com toda a ternura: Alla, Illa, Alla. “Ah! louvado seja o Deus de misericórdia – disse-me ela. – Agora és turco”. Disse-lhe que o bendizia por me haver dado a força de um turco, e julguei-me muito feliz. De manhã, chegou o imame para circuncidar-me; e, como eu relutasse, o cádi do bairro, homem leal, propôs que me empalassem: salvei o meu prepúcio e o meu traseiro com mil sequins, e fugi sem tardança para a Pérsia, resolvido a não mais ouvir missa grega nem latina na Turquia, e a nunca mais gritar: Alla, Illa, Alla em um encontro amoroso.
Chegado a Ispaão, perguntaram-me se eu era pelo carneiro preto ou pelo carneiro branco. Respondi que isso me era indiferente, desde que o carneiro fosse macio. Cumpre saber que as facções do Carneiro Branco e do Carneiro Preto ainda dividiam os persas. Julgaram que eu zombava dos dois partidos, de sorte que, já às portas da cidade, me vi envolvido numa violenta rixa: custou-me ainda inúmeros sequins para desembaraçar-me dos carneiros.
Fui até à China com um intérprete, que me assegurou ser esse o país onde se vivia alegre e livremente. Os tártaros agora o governavam, depois de haver . submetido tudo a ferro e fogo; e os reverendos padres jesuítas de uma parte, como os reverendos padres dominicanos da outra, diziam que ali pescavam almas para Deus, sem que ninguém o soubesse. Jamais se viram conversores tão zelosos: pois viviam a perseguir-se mutuamente; escreviam para Roma volumes e volumes de calúnias; tratavam-se de infiéis e de prevaricadores, por causa de uma alma. Havia principalmente uma horrível disputa entre eles, sobre a maneira de fazer a reverência. Queriam os jesuítas que os chineses saudassem a seus pais e mães à moda da China, e os dominicanos queriam que os saudassem à moda de Roma. Aconteceu-me ser tomado pelos jesuítas por um dominicano. Fizeram-me passar aos olhos de sua Majestade tártara por espião do Papa. O conselho supremo encarregou um primeiro mandarim, o qual deu ordem a um sargento, o qual mandou quatro esbirros do país efetuar a minha prisão e atar-me com todo o cerimonial. Fui conduzido, após cento e quarenta genuflexões, perante Sua Majestade. Fez-me perguntar se eu era espião do Papa e se era verdade que esse príncipe viria em pessoa destroná-lo. Respondi que o Papa era um sacerdote de setenta anos; que residia a quatro mil léguas de Sua Majestade tártaro-chinesa; que tinha cerca de dois mil soldados que montavam guarda com um parassol; que não destronava a ninguém, e que Sua Majestade podia dormir em paz. Foi a aventura menos funesta da minha vida. Enviaram-me para Macau, de onde embarquei rumo à Europa.
Meu navio teve necessidade de ser reparado no litoral de Golconda. Aproveitei esse tempo para ir visitar a Corte do Grande Aureng-Zeb, de quem diziam maravilhas. Achava-se ele em Delí. Tive o consolo de o fitar no dia da pomposa cerimônia durante a qual recebeu o celestial presente que lhe enviava o xerife de Meca. Era a vassoura com que haviam varrido a casa santa, a Caaba, a Beth Allah. Essa vassoura é o símbolo que varre todas as impurezas da alma. Aureng-Zeb não parecia ter necessidade desse objeto; era o homem mais piedoso de todo o Indostão. É verdade que degolara um de seus irmãos e envenenara o próprio pai. Vinte rayas e outros tantos omrahs haviam sido mortos em suplícios; mas isso não era nada, e só se falava da devoção de Aureng-Zeb. Não o comparavam senão à Sagrada Majestade do Sereníssimo Imperador de Marrocos, Muley-lsmael, que mandava cortar cabeças todas as sextas-feiras, após a oração.
Quanto a mim, não dizia uma única palavra; as viagens me haviam formado o espírito, e eu achava que não me competia decidir entre esses dois augustos soberanos. Mas devo confessar que um jovem francês meu companheiro faltou com o respeito ao imperador das Índias e ao de Marrocos. Ocorreu-lhe dizer que havia na Europa soberanos muito piedosos que governavam bem os seus Estados, e até freqüentavam as igrejas, sem no entanto matar a seus pais e irmãos, nem degolar seus súditos. O nosso intérprete transmitiu em hindu as ímpias expressões de meu jovem amigo. Com a experiência do passado, fiz logo selarem os nossos camelos e partimos, o francês e eu. Soube depois que, na mesma noite, os oficiais do grande Aureng-Zeb tinham ido prender-nos e só encontraram o intérprete. Executaram-no em praça pública, e todos os cortesãos confessaram, sem lisonja, que a sua morte fora muito justa.
Restava-me ver a África, para gozar de todos os encantos de nosso continente. Vi-a, com efeito. Meu navio foi apresado por corsários negros. Nosso capitão fez veementes protestos; perguntou-lhes por que violavam assim as leis internacionais. “Vocês têm nariz comprido – respondeu-lhe o capitão negro – e o nosso é chato; seus cabelos são lisos, o nosso é encarapinhado; vocês têm pele cor de cinza, e nós cor de ébano; devemos, pois, pelas leis sagradas da natureza, ser sempre inimigos. Vocês nos compram, nas feiras da costa de Guiné, como a animais de carga, para nos obrigar a trabalhar em não sei que serviços tão penosos como ridículos Fazem-nos cavar as montanhas, a golpes de nervo de boi, para extrair uma espécie de terra amarela que, por si mesma, não presta para nada, e que não vale uma boa cebola do Egito. De maneira que, quando nós os encontramos e somos os mais fortes, logo escravizamos vocês todos e os obrigamos a lavrar nossos campos, ou então lhes cortamos o nariz e as orelhas.”
Nada tínhamos que replicar a tão sábias palavras. Fui lavrar o campo de uma negra velha, para conservar minhas orelhas e meu nariz. Resgataram-me ao fim de um ano. Vira tudo o que há de belo, de bom e de admirável sobre a face do globo: resolvi não ver mais que os meus penates. Casei-me na minha terra; ganhei um par de ornamentos, e vi que era esse o estado mais tranqüilo da vida.
HISTÓRIA DE UM BRÂMANE
Encontrei nas minhas viagens um velho brâmane, homem bastante sábio, cheio de espírito e erudição;. de resto, era rico, e por isso mesmo ainda mais sábio; pois, como nada lhe faltasse, não tinha necessidade de enganar a ninguém. Seu lar era muito bem governado por três belas mulheres que porfiavam em agradar-lhe; e, quando não se divertia com elas, ocupava-se em filosofar.
Perto de sua casa, que era bonita, bem ornamentada e cercada de encantadores jardins, morava uma velha hindu carola, imbecil e muito pobre.
— Quem me dera não ter nascido! – disse-me um dia o brâmane. Perguntei-lhe por quê. – Há quarenta anos que estudo – respondeu-me – e são quarenta anos perdidos: ensino aos outros, e ignoro tudo; esse estado me enche a alma de tal humilhação e desgosto, que me torna a vida insuportável. Nasci, vivo no tempo, e não sei o que é o tempo; acho-me num ponto entre duas eternidades, como dizem os nossos sábios, e não tenho a mínima idéia da eternidade. Sou composto de matéria, penso, e nunca pude saber por que coisa é produzido o pensamento; ignoro se o meu entendimento é em mim uma simples faculdade, como a de marchar, de digerir, e se penso com a minha cabeça como seguro com as minhas mãos. Não só o princípio de meu pensamento me é desconhecido, mas também o princípio de meus movimentos: não sei por que existo. No entanto, cada dia me fazem perguntas sobre todos esses pontos; é preciso responder; nada tenho que preste para lhes comunicar; falo bastante, e fico confuso e envergonhado de mim mesmo após haver falado.
O pior é quando me perguntam se Brama foi produzido por Vixnu, ou se ambos são eternos. Deus é testemunha de que nada sei a respeito, o que bem se vê pelas minhas respostas. “Ah! meu reverendo – imploram-me, – dizei-me como é que o mal inunda toda a terra”. Sinto-me nas mesmas dificuldades que aqueles que me fazem tal pergunta: digo-lhes algumas vezes que tudo vai o melhor possível; mas aqueles que ficaram arruinados ou mutilados na guerra não acreditam nisso, nem eu tampouco: retiro-me acabrunhado da sua curiosidade e da. minha ignorância. Vou consultar nossos antigos livros, e estes duplicam as minhas trevas. Vou consultar meus companheiros: respondem-me uns que o essencial é gozar a vida e zombar dos homens; outros julgam saber alguma coisa, e perdem-se em divagações; tudo concorre para aumentar o doloroso sentimento que me domina. Sinto-me às vezes à borda do desespero, quando penso que, após todas as minhas pesquisas, não sei nem de onde venho, nem o que sou, nem para onde vou, nem o que me tornarei”
O estado desse excelente homem me causou verdadeira pena: ninguém tinha mais senso e boa-fé. Compreendi que, quanto mais luzes havia no seu entendimento a mais sensibilidade no seu coração, mais infeliz era ele.
Vi, no mesmo dia, a velha sua vizinha: perguntei-lhe se alguma vez se afligira por saber como era a sua alma. Nem chegou a entender minha pergunta: nunca na sua vida refletira um memento sobre um só dos pontos que atormentavam o brâmane; acreditava de todo o coração nas metamorfoses de Vixnu e, desde que algumas vezes pudesse conseguir água do Ganges para se lavar, julgava-se a mais feliz das mulheres.
Impressionado com a felicidade daquela pobre criatura, voltei a meu filósofo e disse-lhe:
— Não te envergonhas de ser infeliz, quando mora à tua porta um velho autômato que não pensa em nada e vive contente?
— Tens razão – respondeu-me ele; – mil vezes disse comigo que seria feliz se fosse tão tolo como a minha vizinha, e no entanto não desejaria tal felicidade.
Essa resposta me causou maior impressão que tudo o mais; consultei minha consciência e vi que na verdade também não desejaria ser feliz sob a condição de ser imbecil.
Expus a questão a filósofos, e eles foram da minha opinião. “No entanto – dizia eu, – há uma terrível contradição nessa maneira de pensar”. Pois de que se trata, afinal? De ser feliz. Que importa, pois, ter espírito ou ser tolo? Mais ainda: aqueles que estão contentes consigo estão bem certos de estar contentes; mas aqueles que raciocinam não se acham tão certos de bem raciocinar. “É claro – dizia eu – que se deveria preferir não ter senso-comum, uma vez que este contribua, o mínimo que seja, para o nosso mal-estar.” Todos foram de minha opinião, e todavia não encontrei ninguém que quisesse aceitar o pacto de se tornar imbecil para andar contente. Donde concluí que, se muito nos importamos com a ventura, mais ainda nos importamos com a razão.
Mas, refletindo bem, parece uma insensatez preferir a razão à felicidade. Como se explica, pois, tal contradição? Como todas as outras. Aí há muito de que falar.
©2001 — Ridendo Castigat Mores
Versão para eBook
eBooksBrasil.org
__________________
Julho 2001
eBookLibris © 2001 eBooksBrasil.org