Idéias de João Ninguém (1935)
Belmonte
[Benedito Carneiro Bastos Barreto]
(1896-1947)
Versão para eBook
eBooksBrasil
Fonte Digital
Idéas de João Ninguem
Livraria José Olympio Editora
1935
Copyright:
© Benedito Carneiro Bastos Barreto
*Veja a Nota de Copyright*
ÍNDICE
Nota do Editor
O Autor
Índice da Obra
Nota do Editor
Benedito Carneiro Bastos Barreto, ou melhor, Belmonte, pseudônimo que adotou por que, como noticia o bom amigo Abrahão, tinha em seu nome “Bs aos Montes” merece ter sua obra conhecida pelas novas gerações a mais de um título.
Tivesse sido “apenas” o primeiro ilustrador dos livros infantis de Monteiro Lobato, um dos maiores chargistas e jornalistas brasileiros, já mereceria lembrança.
Mais não fosse, ainda, pelo simples fato de uma criação sua, o Juca Pato, simbolizar hoje um dos maiores prêmios atribuídos a escritores no Brasil.
Seu criador morreu em 1947. Em 1958, nasceu a União Brasileira de Escritores [www.ube.org.br], com sede em São Paulo, e em 1962 foi lançado o Troféu “Juca Pato“ em homenagem a Belmonte, para premiar o “Intelectual do Ano”.
João Ninguém, menos conhecido que o Juca Pato, mas talvez mais simbólico do que seu irmão, foi o título que escolhemos para relembrar Belmonte, às vésperas de mais uma entrega do “Juca Pato”.
Antes da publicação, consultamos as livrarias online para conferir quais obras de Belmonte estariam disponíveis. Nenhuma. Só encontramos uma homenagem que lhe foi prestada em 1996, centenário de seu nascimento, com a edição de “Belmonte: 100 Anos” [CARVALL, Editora SENAC, ISBN 8573590076], que o website da Livraria Cultura dá como esgotado (em outros parece estar ainda disponível) e que, com maiores ou menores variantes, é mencionado como “Livro de arte comemorativo devido ao centenário de nascimento do chargista Belmonte. Traz suas principais obras, em uma edição bem cuidada.”
Injustiça total! Um livro de menos de 100 páginas não poderia conter, jamais, as principais obras de Belmonte! Talvez algumas charges e ilustrações; importantes, sem dúvida, mas que nunca, jamais, em tempo algum, retratariam às novas gerações tudo o que foi e representou Belmonte para as letras nacionais. Um aperitivo, não mais.
Só na edição de Idéias de João Ninguém são mencionadas as seguintes obras do autor: Angústias de Juca Pato (álbum de caricaturas políticas), O Amor Através dos Séculos (álbum de desenhos humorísticos), Assim Falou Juca Pato (coletânea de crônicas humorísticas), e o lançamento de A “Realidade Brasileira” (álbum de caricaturas políticas), Bandeiras e Bandeirantes (crônicas históricas ilustradas pelo autor) e uma História de São Paulo (em desenhos, para crianças).
Como se vê, Belmonte foi um artista completo da pena, com um traço maravilhoso para ilustrações e charges, com uma verve cáustica e incisiva ao apontar as mazelas nacionais de mais de quinhentos anos...
É um pouco deste Belmonte que o leitor encontrará aqui. A ortografia foi atualizada para benefício dos novos leitores. Tentamos, através de cuidadosa revisão, corrigir os erros de digitalização. O leitor será o juri e juiz de nosso sucesso ou insucesso.
Como ainda não se completaram os 70 anos de “prazo legal” para que a obra seja considerada de domínio público, o leitor é cordialmente instado a ler a Nota de Copyright da presente edição.
O Autor
BENEDITO CARNEIRO BASTOS BARRETO, aliás, BELMONTE, nasceu na cidade de São Paulo em 1896. Paulista e paulistano da gema, aqui mesmo faleceu em 1947, antecedendo em um ano no Parnaso a chegada de Monteiro Lobato, a cujas criações infantis dera corpo e forma.
Suas caricaturas apareciam regularmente em Cigarra, Verde e Amarelo, Kosmos, Vida Paulista, Queixoso, Frou-Frou, O Cruzeiro, Folha da Manhã e, no exterior, em Judge (USA), Caras y Caretas (Argentina), ABC (Portugal), Le Rire (França), Kladeradatsch (Alemanha).
As crônicas e charges que publicou no período que antecedeu a II Guerra Mundial, premonitórias. As que criou durante a Guerra, granjearam-lhe protestos oficiais do Japão e da Alemanha... E olha que vivíamos em “Estado Novo” — mas esta ditadura, por sinal, nunca despertou em Belmonte nem a auto-censura, nem simpatias...
Além de tudo isso, como noticia Romeu Martins [http:// omalaco. hpg. com. br/ pracinha_belmonte. htm]: “Um lado seu bem menos citado foi o trabalho como quadrinista, fato que foi resgatado pelo nº 1 da Phenix (é essa mesmo a grafia), revista publicada pelo Clube dos Quadrinhos comemorando o centenário de nascimento de Belmonte, em 1996. Phenix traz uma análise extremamente minuciosa das 210 páginas de HQs que o artista publicou, entre 1933 e 1936, no jornal infantil A Gazetinha”.
Nem é necessário dizer: esta revista é, talvez menos que os livros de Belmonte, mas igualmente, difícil de ser encontrada.
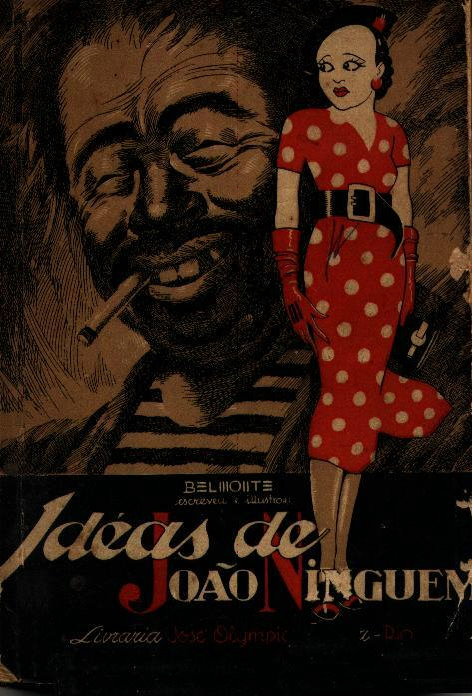

IDÉIAS DE
JOÃO NINGUÉM
ESTE LIVRO...
...é, como o que dei à publicidade anteriormente, a coleção de algumas das crônicas — às quais acrescentei um relato histórico — publicadas na “Folha da Noite”, em 1933 e 34.
Artiguetes escritos “currente calamo”, como é de hábito, e de obrigatoriedade irrecorrível escrever-se no ambiente tumultuário das redações, nem por isso se viram eles na contingência melancólica de se remeterem ao esquecimento total, pois, as transcrições que se fizeram de muitos deles, bem como as traduções a que inúmeros foram submetidos, para o italiano, o inglês e o alemão, levaram o autor à conclusão de que devia reincidir no delito de publicar um livro, eis que a matéria prima aí estava à mão, à espera apenas de que um editor temerário a aproveitasse num volume.
Esse volume aqui está, com alguns desenhos, sem outro objetivo senão o altruístico de distrair os seus possíveis leitores, com comentários alegres em torno de episódios sérios que teriam ficado sepultos na vala comum das coleções de jornais, se ao comentarista piedoso não ocorresse a idéia de ressuscitá-los para, com eles, provar que este mundo, afinal de contas, não é tão triste como parece...
Morrer por amor...
O “Sunday Mirror” de Nova York — suplemento semanal do “Daily Mirror” — publica em um dos seus últimos números uma notícia policial a que deu, com todas as solenidades inerentes ao caso, o título sugestivo de “Double tragedy of a modern Romeo and Juliet”.
A maneira assustadiça como o noticiarista comenta esse drama de amor, romanceando-o em uma descrição “made specially” para comover os cidadãos utilitaristas de Manhattan ou de Newark, nos dá a impressão de que episódios desse gênero não são comuns na cidade dos arranha-céus. Os dois personagens do drama sentimental aparecem, aí, emoldurando a cena clássica da tragédia shakespeareana — a morte de Romeu e Julieta. E é a exumação dessa cena clássica, aliada à descrição novelesca e impressionada, que nos levam à suposição — possivelmente errônea, mas absolutamente justificada — de que por aquelas bandas é coisa muito rara o suicídio por amor, em duplicata.
Nós sabemos bem que, sob o Cruzeiro do Sul, os acontecimentos dessa ordem já tocaram as raias da banalidade. Namorados que, por qualquer circunstância, se vêm na dura contingência de pôr um ponto final nos seus amores e separarem-se de uma vez por todas, geralmente não fazem outra coisa senão recorrer ao lysol ou ao “Colt” e acabarem tragicamente com a vida. Isso se tornou de tal arte corriqueiro que o que nos causa assombro não é a sua ocorrência, mas a sua falta. Toda a gente fica pasma quando, lendo os jornais, vê passar uma semana sem o registro de um suicídio por amor.
Nos Estados Unidos, porém, segundo se observa nos seus jornais e nos filmes que ali se fazem, o amor é uma coisa muito bela, “a very beautiful thing”, mas não tanto que, por ele, vá um cidadão meter uma bala nos miolos ou meio litro de lysol no estômago. A literatura yankee não explora assuntos dessa ordem. Os jornais rarissimamente registram dramas semelhantes. E, quanto ao cinema, todos nós sabemos que ele está longe, astronomicamente longe da morbidez sentimental que produzia aqueles terríveis dramalhões italianos cheios de lágrimas, de cabelos despenteados e de tiros de amor. Os galãs americanos, não morrem. Ou, então, morrem de velhice, quando já deixaram de ser galãs há muito tempo.
A própria “double tragedy” registrada pelo “Sunday Mirror” não é propriamente um produto yankee porque, embora ela tivesse ocorrido em New Jersey, os seus protagonistas foram dois latinos, Pedro Ciferone e Joanna Zucchi. Só os latinos são capazes dessa coisa heroicamente inútil que é morrer por amor — quando o mais prático seria viver para amar. Todo o namorado latino tem a convicção de que o seu primeiro amor é o seu único amor, o que não deixa de ser um “lamentável equívoco” — com licença da República nova.

É verdade que essa regra, boa regra que é, tem exceções. Eu conheço um excelente rapaz, que, tendo ficado noivo, escrevia ardentes epístolas à sua eleita, jurando-lhe um amor eterno e garantindo-lhe que, por ela, seria capaz de dar a própria vida. Ele ia visitá-la três vezes por semana e, pessoalmente, afirmava-lhe a mesma coisa. Mas, uma noite, choveu torrencialmente e o galã não apareceu. A noiva compreendeu logo que ele não fora devido à chuva... Em todo o caso, quando se encontraram de novo, dois dias depois, ela interrogou-o. E ele:
— É que eu estava gripado e a chuva podia agravar o meu estado...
Ela sorriu e ficou tudo por isso mesmo.
E fez bem, porque ele prometera morrer por ela, mas não prometera constipar-se...
Uma revolução muito séria
Em todo o mundo, hoje, há uma indisfarçável ansiedade em várias classes sociais que pleiteiam reivindicações de toda ordem. Diz-se que o momento é de libertações e, assim, cada qual trata de fazer o possível no sentido de ver-se livre de várias coisas que o incomodam.
Os funcionários públicos pleiteiam aumento de ordenado; os operários pleiteiam diminuição de horas de trabalho; as classes liberais pleiteiam medidas que as beneficiem, enfim, todos acham que o instante caótico que estamos vivendo é o que mais se presta a reivindicações de direitos.
Assim, quando qualquer classe, associação ou grupo se levanta e clama contra os seus “direitos conspurcados”, exigindo tais e tais concessões, sob pena de se promoverem desordens épicas, não há mais quem estranhe, nem se assuste. O estrilo está na ordem do dia e continua sendo cada vez mais livre — salvo quando a polícia “revoga disposições em contrário”. Mas, quando isso sucede, surgem os estrilos sincronizados, isto é, as revoluções.
Na Espanha está acontecendo uma coisinha dessas. Todavia, os novos revolucionários espanhóis pertencem a uma classe da qual poderia esperar-se tudo, menos uma revolução — e o que é mais, uma revolução organizada sob formas absolutamente imprevistas e desnorteantes.
Os homens que, no escaldado país de Cid, organizaram a estuporante conspiração, foram os detentos da Prisão Modelo. Supor-se-á, à primeira vista, que, uma conspiração organizada por presidiários, visasse apenas a fuga. Se os que estão aqui fora, em plena liberdade, vivem falando em escravidão e fazendo força para “libertar-se”, nada mais natural do que existirem presidiários conspirando pela sua libertação do domínio das grades.
Isso é o que seria lógico. Todavia, apesar de lógico, não é verdadeiro, porque os detentos de Madrid não conspiravam para libertar-se, mas apenas para pleitear várias e indispensáveis melhorias na sua boa vida de segregados.
Por exemplo: eles querem melhoria de alimentação, na qualidade e na quantidade; querem mais que as roupas que usam lhes sejam fornecidas pelo governo; que as incômodas banquetas da prisão sejam substituídas por cadeiras confortáveis; que as lâmpadas elétricas que hoje pendem dos tetos das celas, sejam portáteis e colocadas sobre uma mesa; que, durante a noite, as portas das celas fiquem abertas; que se suprimam as celas de castigo; que, se organize a biblioteca da prisão e que se conceda, aos presos, a liberdade de lerem os livros que quiserem.
Como se vê, o programa de reivindicações dos originais detentos, não é dos mais exigentes. Eles próprios estão certos de que pedem coisas razoáveis, tanto que, no caso do diretor do presídio não concordar, eles, sublevados, realizarão — não se sabe com que roupa! — uma fuga sensacional. Todavia, a fuga, para eles, não se chama fuga, nem evasão. Assim como as revoltas e motins se chamam “grandes arrancadas”, “marchas épicas”, ou coisas semelhantes, os detentos madrilenhos ameaçam o diretor do presídio com uma “grande partida”. Eles, cônscios dos seus “sagrados direitos”, não fugirão, porque homens de honra não fogem; realizarão apenas, uma “partida”. Tomarão seus chapéus, suas capas de borracha, suas valises e partirão.
Espera-se, porém, que o diretor da Prisão Modelo satisfará o justo pedido dos detentos e livrá-los-á do terrível desgosto de partirem. Eles consideram-se “desempregados” e, portanto, sob a proteção do Estado. É justo, portanto, que o Estado lhes satisfaça as modestas ambições, melhorando-lhes o cardápio, fornecendo-lhes “abat-jours” românticos, livros divertidos, poltronas macias, roupas novas, água corrente em todos os apartamentos, além de outras conquistas do progresso, indispensáveis à vida de cidadãos educados. Eles não pedem liberdade; exigem, apenas, conforto. Não querem se entregar aos azares dramáticos da vida dos homens livres: querem, apenas, rodear de comodidades a sua vida sossegada de hóspedes do Estado.
É justo, pois, e é humano, que o Estado os atenda. Forneça-lhes tudo quanto eles pedem e trate de construir mais algumas centenas de Prisões Modelos porque, com tantas melhorias e com tanto conforto lá dentro, ninguém há de querer ficar aqui fora, lutando tragicamente por uma côdea de pão e por um pedaço de teto.
Os desgraçados homens livres hão de lutar ferozmente para conseguirem um lugarzinho nas cadeias.
A vingança do homem
Os tempos que correm, ásperos e incertos, apresentam à humanidade as perspectivas mais torvas. Principalmente no que concerne ao esquivo “pão nosso de cada dia”, a situação é, apenas, um pouquinho melhor que péssima. E na Europa, então, o problema de comer é o mais dramático de quantos logogrifos o destino pudesse propor ao homem moderno.
Não é apenas a moeda que se oculta. É também o alimento que não aparece. Se aquela anda entesourada no fundo das caixas-fortes, este se esconde tão bem que ninguém sabe por onde ele se perde.
E, para complicar mais tão complicadíssima situação, fala-se na “próxima guerra” com uma certeza tão indiscutível, que o problema se espichou para adiante e toda a Europa quer saber o que comerá nos dias da conflagração futura...
É uma situação arripiante.
Não sei se foi por essa razão, ou por qualquer outra, que um grupo de parisienses chefiados por um sr. Moreau, resolveu comer um leão. O ágape original realizou-se há poucos dias em Paris e dele participaram alguns artistas e intelectuais.
O sr. Moreau comprou um leão que, segundo nos afirma o “Vu”, era surdo e cego, imprestável, portanto, para representar o reino das selvas na Cidade-luz. E, convidando alguns amigos mais íntimos e alguns representantes da imprensa, mandou matar o infeliz monarca e prepará-lo à “sauce chausseur”, com todos os requintes culinários exigíveis para um prato tão nobre. Feito isso e posta a mesa, os convivas, dando uma demonstração concludente dos seus instintos leófagos, comeram o rei dos animais.
Tudo isso é sensacional e, principalmente, expressivo. Os “gourmets” parisienses não explicaram por que motivo resolveram comer um leão. Todavia, como a situação do mundo, hoje, é das mais alarmantes quanto ao angustioso problema da alimentação, não é temerário supor que esses heróicos cavalheiros, comendo um leão, estivessem realizando um treino gástrico para futuros repastos. Se o Canadá põe a pique toneladas e toneladas de trigo, se o Brasil incinera café e se a Argentina incendeia carneiros, tempo virá em que a Europa, com o solo exangue, não terá mais o que comer. E a sua salvação estará, então, nas colônias africanas. Quem não puder comer vacas, nem bois e nem carneiros, comerá leões, girafas, hipopótamos e gorilas. Para mim, o estranho banquete do sr. Moreau é isso apenas: uma experiência gastronômica.
Mas pode também ser outra coisa. Esses esquisitos “gourmets” talvez sejam comunistas extremados que, não podendo comer um rei de verdade, agiram simbolicamente, realizando um ágape que seria, então, um ritual sectário: comeram o rei dos animais.
Seja, porém, uma coisa ou outra, o certo é que, como diz o “Vu”, “le lion a eté mangé!” Do majestoso animal só restou a pele — que irá servir de tapete, prosaicamente, no salão aristocrático do sr. Moreau — e só ficaram ossos esbrugados, roídos ferozmente pela sanha leofágica dos convivas vingativos.
Porque, em última análise, o banquete do leão foi, também, um ato de compreensível vingança: o leão tem comido o homem, nas suas selvas, com tamanha ferocidade, que o homem resolveu realizar a “revanche”. E, na sua grande cidade, não teve meias medidas: comeu o leão.
Estão todos quites agora.
Os porcos da Polônia
A indústria do turismo, como todas as outras, está passando momentos de verdadeira angústia.
A Europa, com a situação aflitiva que ela própria criou, está afugentando os milionários norte-americanos, que não sentem grande prazer em atravessar o oceano para assistir, no velho continente, distúrbios populares e desfiles de desocupados. Por muito interessantes que sejam esses espetáculos dramáticos, o milionário yankee não é dos mais inclinados a deixar a sua invejável comodidade em Avenue Park, para andar como doido fugindo das descargas de metralhadoras nas ruas de Paris, Berlim ou Viena e para não ir parar na cadeia, como espião.
As empresas de turismo, cansadas de enunciar, nos “magazines”, as excelências paisagísticas da Europa, deram agora para encaminhar os displicentes milionários para outros lugares — menos poéticos, talvez, mas também muito menos perigosos. Em conseqüência disso, grandes grupos de americanos deram agora para veranear nas ilhas do Pacífico, havendo, mesmo, uma acentuada preferência pelo Hawai, “the colorfull Hawai”, onde não há museus, nem cabarés, mas onde também não aparecem, de repente, caminhões blindados disparando tiros. De vez em quando os anúncios gritam: “Why not the South America?” E alguns milionários audaciosos resolveram mesmo dar um passeio até ao Brasil, preferindo enfrentar as cobras e os índios do Rio de Janeiro, a ter encontros com os perigosos patriotas europeus.
Isso, todavia, é raro. A febre nacionalista não permite, senão de longe em longe, essas extravagâncias. A palavra de ordem, hoje, é a de não se permitir a evasão de capitais. Ninguém mais quer gastar o seu dinheiro na terra dos outros. E os “yankees” esqueceram-se dos cabarés europeus para se tornarem bucólicos e contemplativos, dentro de sua própria terra.
E, assim, quando querem espairecer, vão ver as boiadas do Arizona, as laranjeiras da Califórnia, as cachoeiras de Yellowstone ou as montanhas do Colorado. Qualquer lugar serve, desde que o seu dinheiro se conserve na sua própria terra e desde que o lugar para onde vão, tenha céu azul e sol brilhante, um “glorious sunshine”.
Às vezes eles exigem mais alguma coisa. Mulheres bonitas? Não.
Vitaminas. Há uma companhia de vapores que, nos seus anúncios de excursões à Califórnia, não se esquece de dizer que ali é “the land of sunshine and vitaminas”. É a mania do americano. Gastar dinheiro na sua terra, mas desde que lhe dêem vitaminas e céu azul.
Aliás, não são só os americanos que se obstinam em não gastar dinheiro na terra dos outros. A medida é geral.
Ainda agora, está a Áustria metida numa complicação desse gênero. Esse país vai celebrar o 250o aniversário do sítio de Viena pelos turcos do sultão Mustafá. A defesa da cidade foi auxiliada por batalhões de soldados polacos, sob o comando de Kolchinsky.
Por essa razão, inúmeros turistas poloneses manifestaram o desejo de assistir às festas vienenses. Mas o governo da Polônia, aterrado com a idéia da evasão do ouro polonês, meteu a colher torta no assunto e exige uma “compensação” da Áustria; só permitirá a ida dos turistas a Viena se o governo austríaco comprar à Polônia alguns milhares de suínos.
Isso, dito assim, parece pilhéria.
Mas, no fundo, o caso é profundamente dramático. A Polônia enviará poloneses à Áustria, se esta em “compensação” lhe comprar os suínos. Nunca se viu, na face da terra, negócio mais esquisito.
A Áustria precisa de turistas. Mas precisará ela de porcos? É o que não se sabe por enquanto. Entretanto se ela não comprar os suínos, não ganhará o dinheiro dos turistas. Mas, se os comprar, os turistas não lhe trarão dinheiro polonês, mas o seu próprio dinheiro, de volta. No fim das contas, depois de acabada a festa, ela constatará que não entrou no país nem meia grama de ouro, mas apenas porcos. Ora, os porcos dão banha e presunto, mas não fornecem lastro para o Tesouro. A banha se derrete, o presunto acaba, os turistas vão se embora e que é que a Áustria teria ganho? Nada. Em “compensação”, o ouro austríaco com que se compraram os porcos, estaria empilhadinho no Tesouro polonês.
Como se vê, mesmo realizado na Europa Central, o caso dos porcos e dos turistas, é um verdadeiro negócio da China. E, como tudo na China é trágico, eu não acho graça nenhuma nesse esquisito comércio de compensações. Quando se disser que a Áustria paga certa quantia “por cada” turista, não se terá feito um cacófaton, mas pronunciado uma triste verdade...
É proibido casar!
Um cidadão de indiscutível mau gosto, que tem o feio costume de ler todos os disparates que eu escrevinho aqui, manda-me um recorte de jornal acompanhado desta pergunta inquietante:
“Que é que você pensa desta estupidez?”
O recorte aludido contém um telegrama vindo de Istambul, no qual se dá conta de uma das últimas medidas tomadas pelo governo turco. A tal medida consiste em punir “severamente” todo o professor que se entregue a “flirts” com suas alunas e que “pense” em realizar qualquer projeto matrimonial com alguma delas.
Há dias, referi-me aqui às medidas temerosas que vêm sendo tomadas pelos vários “governos fortes” que existem por aí afora, entre as quais fixei a de um general chinês inimigo figadal dos cabelos ondulados. Hoje, segundo me comunica um heróico leitor, é o governo turco, igualmente “forte”, quem se levanta, de durindana em riste, para castigar os pedagogos sentimentais que “pensem” em contrair matrimônio com alguma das suas alunas.
Não sei se as ditaduras, além da força material, possuem também poderes ocultos que as habilitem a saber, com a devida antecedência, qual o professor que “pensa” em casar-se com qualquer de suas discípulas. É possível que esses governos discricionários, possuidores de tão bravos generais, possuam igualmente ocultistas famosos ao seu serviço, não sendo mesmo temerário supor-se que o governo turco tenha criado, para mais facilmente desempenhar-se de suas funções, um Ministério das Ciências Ocultas ou um Departamento Federal das Transmissões de Pensamento.
Todavia, não devemos estranhar a original medida do sr. Kemal. Poder-se-ia mesmo perguntar: Kemal há nisso? se me fosse permitido perpetrar um trocadilho tão detestável. Não há mal nenhum porque, afinal de contas, se os professores turcos estão proibidos de se casarem com suas alunas, poderão fazê-lo com qualquer outra mulher, mesmo que seja aluna de outrem. A estranheza do meu heróico leitor provém de que ele, como quase nós todos, vivemos de olhos pregados no Estrangeiro sem vistas para o que se passa aqui dentro de casa. “Aqui dentro de casa” é um modo de dizer. Todavia, se nós olhássemos em torno de nós, notaríamos que o governo turco, perto dos governichos brasileiros, é muito menos do que um pinto.
No Rio Grande do Norte, por exemplo, há um interventor cujo nome não tenho a honra de saber — quem saberá o nome de todos eles? — o qual interventor, por motivos que até hoje não estão convenientemente explicados, baixou um decreto — decreto ou qualquer coisa semelhante — proibindo as professoras de contraírem matrimônio.
É verdade que, se, por um lado, o governo do Rio Grande do Norte foi mais liberal, por outro lado foi mais arbitrário. Com efeito: o governo turco não admite que o professorado “pense” em contrair matrimônio. Já o governador brasileiro admite que os pedagogos pensem em casar-se; há no Norte, nesse ponto, inteira liberdade de pensamento. O que ele não admite é que os pedagogos se casem. Mas se, na Turquia, os professores podem contrair matrimônio, desde que não o façam com qualquer de suas alunas, no Brasil isso não é possível ser realizado com ninguém. Na capitania do norte proibiu-se, pura e simplesmente, o casório — seja lá com quem for.
Dir-se-á que isso é um crime de lesa-pátria, uma vez que a pátria precisa de quem a povoe — tanto que resolveu importar vinte mil assírios para esse fim. As professoras, não podendo casar-se, não poderão exercer esse direito multiplicador — embora haja pessoas que afirmem o contrário. O certo, porém, é que, multiplicando-se ou não, o Brasil se mostra eminentemente liberal, eis que permite às suas professoras do norte o direito de “pensar” em casamento. A coação é puramente material, como se vê, porque as professoras nordestinas poderão soltar as rédeas da imaginação em devaneios líricos, sonhando com “ele”, sofrendo por “ele”, pensando “nele”...
Todavia, como o interventor proibiu apenas o casamento não vá acontecer às educadoras rio-grandenses o que aconteceu com o caipira a quem perguntaram, quando o viram de braço dado a uma cafuza, se eles haviam se casado.
— Não! respondeu ele, nóis se ajuntemo...
A trombeta de Josafá
Os assírios continuam na ordem do dia. Não se sabe porque, mas o certo é que o escândalo continua a ser debatido. O caso não deixa, em verdade, de ser estranho, porque o honrado sr. Getúlio Vargas, chefe permanente do governo provisório já declarou que não autorizou a imigração dos vinte mil assírios, nem deu licença a ninguém para tratar do assunto.
Ora, como o governo do sr. Getúlio é, ainda por algum tempo, absoluto e discricionário, bastaria aquela declaração para acabar a história. Mas, inexplicavelmente, a história não se acabou! A Liga das Nações e, principalmente, a Inglaterra, continuam a estudar as possibilidades brasileiras, a salubridade do nosso clima, as qualidades do nosso solo e as nossas condições sociais, para certificarem-se bem de que esses complicados assírios não vão sofrer, por aqui, o que têm sofrido os outros imigrantes... A loura Albion pretende empurrar-nos um “paco”, mas quer ter a certeza de que, em troca, não vai levar notas recolhidas ou falsificadas.
São muito justas essas precauções e não sou eu quem vai atirar a primeira pedra nos senhores ingleses. Cada qual se defende como pode e se eles já não agüentam mais as estripulias dos assírios nos seus domínios, é natural que trate de passá-los adiante, despejando-os na costa da África ou no Brasil.
Mas, se a Inglaterra tem o direito de despejar os seus incômodos inquilinos, nós também temos o direito de não hospedá-los aqui, dando-lhes casa, comida, roupa lavada, água na porta e bonde encanado. Até este momento — dez horas da manhã do dia três de abril de mil novecentos e trinta e quatro — o Brasil ainda pertence aos brasileiros e estes podem saber se essa invasão lhe convém ou não. Todos nós já dissemos que não convém. Logo — encerrem-se as discussões!
E, com efeito, as discussões estariam encerradas se os senhores ingleses não deliberassem, “sponte sua”, prossegui-la. E, prosseguindo, acham eles que os assírios, por várias razões consideráveis, poderão tornar-se dignos e prestantes cidadãos da “nova pátria”. Como se operaria esse milagre não no-lo diz John Bull. O que se sabe é que eles — que são capazes de se tornarem excelentes cidadãos brasileiros — não conseguiram, em alguns séculos, tornar-se razoáveis cidadãos ingleses...
Mas isso não tem importância. O certo é que, segundo afirmam as pessoas entendidas na matéria, esses excelentes assírios são um povo nômade e rebelde, que, se às vezes se dedica à agricultura, é apenas para não morrer de fome. Mas que eles são do barulho e da pá virada, isso nem se discute! Está na massa do sangue. A encrenca e a malandragem são-lhe características inatas. Tanto isso é verdade que nem Deus pôde com a vida deles e resolveu, certo dia, que eles fizessem companhia ao povo de Israel que ficara sem pátria. É Isaias, o nosso amigo das profecias arrasantes, quem nos conta esse caso singular no seu evangelho, capítulo 14, versículo vinte e cinco:
“Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas montanhas a atropelarei...“
E mais adiante, no versículo 31 do capítulo 30, exclama o terrível profeta:
“Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, a qual Ele feriu com uma vara”.
E afirma:
...“Porque o Senhor dos Exércitos o determinou: quem, pois o invalidará?”
Ora, se os ingleses não podem com a vida desses homens complicados — porque o próprio Senhor não o pôde! — como nos arranjaríamos nós, que não temos a paciência divina, nem a esquadra inglesa?
O Senhor, aliás, afirmou que “quando tocar a trombeta, os assírios o os judeus voltarão, para adorá-lo”. Mas a trombeta ainda não tocou. Os senhores ingleses, que esperaram tanto tempo, esperem mais um pouquinho, porque tudo tem remédio neste mundo e as profecias bíblicas não falham nunca. Fiquem por lá com os seus assírios e agucem as trompas auditivas, à espera das trombetas celestes...
Carta aberta
Ao prof. Desiderius Paap
Prezado colega — Acabo de ler, num telegrama recém-chegado de Londres, que o meu prezadíssimo colega acaba de publicar um livro que, segundo aquele despacho, “está causando sensação”, pois argumenta, com elementos aceitáveis para o momento científico, que o ser humano, daqui há 500 milhões de anos, terá três metros de altura, com a cabeça portentosa inteiramente calva; sem pêlos e sem dentes (pois os pêlos e os dentes terão caído em desuso) o estranho rosto apresentará lábios finos e pálidos, enquanto o cérebro, desenvolvidíssimo, estará apto a receber e transmitir ondas eletromagnéticas. Os olhos terão adquirido, então, a força de penetração dos raios X.
Vê-se que o meu venerando colega, para chegar a essa conclusão sensacional, se estribou na doutrina evolucionista de Lamarck, desprezando, como fútil e inconsistente, a hipótese darwiniana. Eu também, estudioso inveterado da matéria, opto sempre pela influência direta dos meios sobre os organismos, pois acho que o homem é um produto do ambiente. Descreio, pois, das teorias de Darwin, e desprezo soberanamente as “mutações violentas” da biologia com o mesmo soberano desprezo com que encaro as “mutações violentas” da sociologia. Assim, não posso levar a sério o estouradíssimo De Vries, autor das “mutações”, como não levo a sério o sr. Antonio Carlos, pai de revoluções.
Todavia, isso não quer dizer que eu chegue exatamente à conclusão a que o meu colendo confrade chegou, causando aquela “sensação” a que se refere o telegrama da “Folha da Manhã”. V. exa., com aquela dedução estranha, apresenta-se mais adepto da teoria “transformista” do que da “evolucionista”. É verdade que, dentro de 500 milhões de anos, muita coisa pode acontecer nos domínios biológicos e há também tempo de sobra para processar-se aquela sensacional evolução. Contudo, tomo a liberdade de ponderar ao meu venerando colega que meio bilhão de anos vale, para a evolução específica e para a seleção natural, quase tanto quanto vale meia hora para uma mulher feia, com seus “rouges” e “batons”, transformar-se numa mulher bonita, independentemente da epigenesia e da embriogenia.
Ora, quando, anteontem à noite, eu me encerrei no meu gabinete de estudos antropológicos e biológicos, sabia de antemão que, quando de lá saisse, traria as provas necessárias para contraditar as asserções apressadas do meu venerável colega. E, com efeito, ao cabo de trinta e seis horas de estudos, pesquisas, análises, confrontos e deduções, conclui que a teoria lamarckiana é ainda das mais aceitáveis, mas que a evolução cíclica não é uma fantasia. Se, no terreno sociológico, nós vamos regredindo, realizando uma espécie de ciclo histórico que está nos levando de novo para os “governos fortes” e para a aristocracia medieval, no terreno biológico cairemos no mesmo ritmo, porque as condições da vida humana, apesar do “progresso”, tendem para um recuo primitivista. A eletricidade não tem importância. O importante é que todo o mundo prega a necessidade da força física, toda a gente faz esportes, doutrina-se sobre as excelências da vida primitivista, e pratica-se o nudismo. É o ambiente bárbaro que está se formando. É o “meio” em que vai atuar o homem do futuro, o “meio” troglodita. A civilização — segundo assevera todo o mundo — é uma verdadeira estopada que só tem produzido inquietude, aflição, miséria, fome e guerras. E daí o notar-se, por toda a parte, uma campanha pela vida livre, pela vida física, “au grand air”, entre aves e feras, à luz direta do sol — sem complicações eruditas, sem livros, nem rádios, nem Light, nem Telefones, nem jornais... Uma vida edênica, de Adões e Evas.
É a “evolução cíclica”. Nós viemos até aqui, até este cume majestoso da Civilização e agora vamos descer a encosta, para voltar ao passado, ao medievalismo, ao primitivismo, ao Paraíso perdido. Essa história de “homens eletro-magnético” do meu venerando colega é uma fantasia de sábio alemão. Nós (não daqui a 500 milhões de anos) mas muito antes, vamos acabar como os homens da caverna, barbudos, peludos, cabeludos, nus como a Verdade, caçando onças no Jabaquara.
E creia o meu colendo confrade que isso será uma delícia, porque a Light está continuando a nos cobrar em ouro, o governo continua a inventar impostos e os alfaiates já andam armados...
Conto de Natal
Era um garoto de 15 anos. Pobre. Educado, naturalmente, de um modo um tanto precário, o que não impediu que os seus sentimentos mais nobres deixassem de desenvolver-se, fazendo dele o que se costuma chamar “um menino bom”.
Nessa idade, e nessas condições, a cultura do garoto era sumaríssima, não indo além, talvez, das primeiras letras. Natural, portanto, que ele não fosse versado em economia política, nem em finanças, nem em problemas monetários. Mas, se os conhecimentos teóricos dessas profundas questões não lhe davam a autoridade de um Leroy Beaulieu, o rapazinho tinha a intuição inata dessas matérias graves. E assim sendo, foi com certo pasmo que percebeu, nos guardados do seu pai, um maço de notas embolorando-se num baú, com sério risco para a economia nacional.
Sabendo, por intuição, que o dinheiro foi feito para circular, e vendo que aqueles oitocentos mil réis jáziam ali, numa inutilidade criminosa, o garoto lembrou-se ainda de muitas coisas que lhe ensinaram, entre as quais a de que nós, na terra, devemos ajudar-nos uns aos outros.
— Meu filho! Nós sempre devemos ser bons! A caridade é uma das mais nobres virtudes humanas! Seja caridoso que será feliz!
O rapazelho tocou o maço de notas. Para que servia esse dinheiro, estagnado ali, no fundo de um baú, quando lá fora tanta gente sofria, sem um teto e sem uma côdea de pão?
E o estranho menino não pensou mais. Estendeu o braço empolgou a maquia, enfiou-a no bolso e saiu para a rua.
Andou um pouco, até parar à porta de um grande circo. Aí, depois do deslumbrar-se com os cartazes multicores e multiformes, deu com o olhar, de súbito, num menino magro e maltrapilho que também sorria, enlevado, para o esplendor fantasmagórico do pavilhão policrômico, esquecido da sua penúria.
Aproximou-se dele. Conversaram. O aspecto miserando desse pária precoce, sensibilizou a alma do rapazinho bom que tinha oitocentos mil réis no bolso.
— Você tem pais?
— Tenho mãe.
— Por que anda assim esfarrapado e triste?
— Minha mãe é pobre. Não pode comprar roupas para mim. Às vezes, nem sequer pode comprar comida para nós...
— Venha comigo.
Seguiram juntos, rua abaixo, em silêncio, meditativos. Pouco adiante, pararam, em frente a um belchior.
— Vamos entrar.
Lá dentro, o menino dos oitocentos mil réis, com a alma iluminada de júbilo, pediu ao adelo uma farpela nova para o companheiro esfarrapado. E além da roupa, um chapéu. E camisa. E um par de meias. E sapatos...
Minutos depois, radiantes de incontida satisfação, os dois amigos saíram. O menino miserável, dentro de sua roupa nova, elegante e limpo, contemplou o seu extraordinário benfeitor, sem balbuciar uma palavra, mas falando pelos olhos que brilhavam, e agradecendo mudamente, com a linguagem silenciosa das crianças, a dádiva maravilhosa que lhe vinha dos céus por intermédio daquele menino bom.
— Você ganha brinquedos no Natal?
— Eu? Vejo os brinquedos dos outros...
Entraram numa loja. O menino dos oitocentos mil réis comprou uma porção de brinquedos para o menino miserável. Era um dia de sonho. Um dia de conto de fadas.
— Compre mais! Você não tem irmãos?
— Tenho.
— Pois leve brinquedos para eles!
O menino miserável sorria. O outro pagava, sorrindo também, imensamente feliz por estar fazendo a felicidade do companheiro.
— Que lindo Natal nós vamos passar! Como a vida é bonita! Como Deus se lembrou de mim e dos meus irmãozinhos infelizes!
* * *
Esse foi o fato que aconteceu anteontem. É uma história real que os jornais noticiaram.
Mas a vida não é, exatamente, um conto de fadas. Foi por isso que, quando os dois meninos saíam de uma confeitaria, um “grilo” prendeu-os e levou-os à Central, onde um delegado carrancudo lhes passou terrível reprimenda.
No dia seguinte foram ambos entregues aos pais, e o menino bom, de calça arreada, levou uma surra de criar bicho!
Coisas da vida... O crime de ser bom...
“Gleichschaltung”...
“Gleichschaltung” é um neologismo criado pelos hitleristas, sem equivalente em nenhuma outra língua, para indicar o movimento histórico do nacional-socialismo no sentido de estandardizar a mentalidade alemã na ideologia racista. Ou, como explica o sr. Goebbels, ministro da propaganda, “é a transformação nacional-socialista do Estado, do partido e de todas as associações, o desenho dos primeiros contornos de uma situação que será, um dia, a situação normal da Alemanha quando não houver mais que uma opinião, um só partido e uma só convicção”.
Embora a Alemanha se encontre na Europa, hoje, em condições dramáticas, arrasada materialmente pelo Tratado de Versalhes — o que, até certo ponto, justifica esse impressionante movimento de união interna para a defesa comum contra os perigos que a cercam de todos os lados — ainda assim parece difícil que o nacional-socialismo consiga esse objetivo temerário antes de duas ou três gerações. Mesmo assim, já a Alemanha poderá vangloriar-se de ter realizado uma áfrica, porque nós, nestas terras morenas onde a jandaia canta nas copas da carnaúba, ainda teremos que passar uma vidinha bem apertada durante quatro gerações — segundo a opinião abalizada do sr. Juarez Távora. Todavia, como quatro gerações são gerações de mais, e como o povo brasileiro não terá paciência de esperar tanto tempo para sair do buraco em que o meteram os salvadores da pátria, pensa-se em instituir por estas bandas um governo forte, afim de que não haja um suicídio coletivo de quarenta milhões de encalacrados. E, para que não haja queixas e reclamações da parte dos aflitos, a força desse governo que nos prometem consistirá em realizar a “gleichschaltung” cabocla, de jeito que todos os quarenta milhões de encalacrados pensem que não são encalacrados ou, se o pensarem, que não digam nada.
À primeira vista, parece impossível a realização de tão impressionante empreitada. Mas, bem analisadas as condições em que ela se fará, ver-se-á que não há nada tão simples. Tudo dependerá da força desse governo.
É evidente que não me refiro à sua força material ou mesmo política. O de que se faz mister neste angustioso transe, não é um homem que possua, ao alcance de uma ordem, todas as forças de terra e mar. Nem mesmo um homem que tenha ao seu dispor todas as forças políticas de país. O de que se precisa, para a estandardização da opinião e da convicção brasileiras, é de um homem que possua forças ocultas — um hipnotizador, por exemplo. Ora, homens desse gênero não nos faltam. Que se invista, pois, um desses magos, de poderes discricionários, para que ele, lançando do Catete, sobre o vasto território brasileiro, os seus fluidos magnéticos, exclame a todos nós:
— Brasileiros! Nunca vereis país nenhum como este! Olhai que céu, que mar, que rios, que florestas! As quatro gerações foram uma blague do Juarez! Os “déficits” alucinantes são intrigas da oposição! O desbarato de doze milhões de contos é pilhéria do Cincinato! O negócio da banha é calúnia do Hermes Cossio! O país nada em ouro! O comércio navega em ouro! A indústria dorme sobre ouro! O povo come ouro! A Inglaterra deve-nos alguns milhões de esterlinos mas vai pagar-nos! A Norte América deve-nos vários milhões de dólares e já nos está pagando!...
E assim por diante. Sob a ação hipnótica do ditador, todos nós exclamaríamos, em coro:
— Perdoemos as dívidas estrangeiras! Já temos ouro de mais! Não queremos mais nada.
E dessa forma, com um só pensamento, uma só convicção e um só ideal, o Brasil seria o El-Dorado do mundo.
Salvo disposições em contrário — porque os nossos credores são difíceis de hipnotizar...
França, desperta!
O “Deutschland erwache” dos racistas alemães está sendo, neste momento, parodiado dramaticamente na França, com o grito de “França, reveille-toi”!
Esse apelo aflitivo à República adormecida está sendo berrado em todos os tons, devido a uma razão absolutamente imprevista e espantosa: o perigo semita!
Quando Hitler, na sua impiedosa campanha contra os judeus (que tinham o grave defeito de ser internacionalistas e pacifistas num país nacionalista e armamentista) expulsou uma porção deles para o estrangeiro, os franceses, não gostaram da atitude do “fuehrer” e disseram as coisas mais feias deste mundo. Aconteceu, porém, que muitos daqueles judeus foram para a França. Esta, logicamente, os recebeu de braços bem abertos, porque não percebera a extensão do perigo. Mas agora, passados alguns meses, levantam-se vozes aflitas implorando à França que desperte e que trate de defender-se contra a invasão pacífica dos malaventurados filhos de Israel.
Essa explosão de anti-semitismo desvairado, num país como a França onde os semitas se contam aos milhões e onde se levantaram as mais exasperadas apóstrofes contra o racismo germânico, seria paradoxal se, num tempo destes, ainda fosse possível existência de paradoxos. Mas não é.

Senão, vamos ler juntos alguns períodos curiosíssimos.
O jornal “Droit de Vivre” de Paris, abriu uma “enquête”. Sim senhores! Um vasto inquérito para tratar do caso terrível. E o sr. Florian Parmentier disse estas coisas consideráveis:
“A preponderância judaica é um fato. Mas essa preponderância inflige aos indivíduos de outras raças humilhações sem fim. Daí o ódio, quase geral, contra o judeu. Esse ódio não tem nada que ver com o antisemitismo, baixa paixão política. É um instinto de defesa”.
O “Libre Parole”, depois de mostrar que o judeu está pretendendo atirar a França contra a Alemanha, fomentando uma guerra terrível, diz: “É preciso ser cego para não ver que os judeus nos impelem, hoje, para um conflito com aqueles que tiveram a “audácia” de sacudir seu jugo”. E sente, amargamente, a França ser liberal... “Malhereusement la France n’as pas un gouvernement fort”.
Tudo isso é fantástico! Mas tem mais. O “Appell” apela para o “boycott”:
“Não comprem nada aos judeus!”
O escritor Clement Vautel afirma também que os judeus estão fomentando a guerra e que, quando esta explodir, eles exclamarão:
— “Aux armes, Français, allez delivrer nos fréres!”
Mas o mais complicado nisso tudo é que os judeus da França não são apenas os fugitivos da Alemanha. São milhões. E não vegetam melancolicamente nos “ghettos”. Dominam. Tanto que o deputado Fougére enviou à mesa uma indicação sobre o caso, na qual se lêem estas observações estuporantes: “...eles (os judeus), num propósito contrário aos interesses do país e da paz exercem influência sobre a direção da política exterior da França e desorientam a opinião pública com as suas propagandas e campanhas de imprensa”.
O que vem dar razão ao articulista da “Revue Critique”, o qual declarou: “A imprensa que eles dominam, e o cinema que eles controlam, convidam-nos ao sacrifício”.
O “Lu”, de onde extraímos essas notas, não está de acordo com tudo isso e chama essa campanha de “invasão” pacífica do anti-semitismo nazista”.
Eu creio, modestamente, que onde existe um “semitismo” — não como denominação racial que não é, mas como expressão política que é — deve haver, fatalmente, inexoravelmente um “anti-semitismo”. Toda ação provoca reação.
Em todo o caso, o certo é que a campanha contra os judeus, iniciada na França, é um dos acontecimentos mais desnorteantes deste desnorteante ciclo de confusões...
A Alta Silésia, o Sarre e Salomão...
Falando aos jornais, há poucos dias, Mussolini teve oportunidade de declarar que é inteiramente favorável ao rearmamento da Alemanha. Não podendo, ou não querendo dizer que era favorável ao “desarmamento da França”, o “duce” falou por tabela, apenas para contrariar, porque pouco depois declarava à Alemanha que não admitia nenhum golpe contra a independência da Áustria.
É evidente, porém, que o rearmamento da Alemanha constitui, hoje, uma fantasia absolutamente fantástica, uma dessas coisas em que a França não quer pensar, nem mesmo sonhando. E, todavia, a paz mundial só será possível no dia em que houver igualdade de direitos, não só nesse sentido como em vários outros. Ou a Alemanha se rearma, ou as outras potências se desarmam.
A Alemanha, como se sabe, tem todas as razões possíveis e imagináveis para se rebelar contra a situação de inferioridade em que a colocaram, não por ter perdido a guerra, mas pelo fato de abusarem de sua derrota para a espoliarem dramaticamente. Basta, entre outros fatos, citar o caso da Alta Silésia, que é dos mais ilustrativos. No começo de 1921, surgiu esse caso estranho. Os aliados, após uma série de atos que visavam o aniquilamento germânico, lembraram-se de perguntar a quem pertencia a rica província: à Alemanha ou à Polônia? Como não se podia resolver o problema “a la diable”, ficou resolvido que se faria um plebiscito. E o plebiscito se fez, com o seguinte resultado; Alemanha 716.406 votos; Polônia, 471.406 votos. Quando se soube da solução, houve grandes festas em Berlim. Mas essas festas não duraram muito porque o “Quai D’Orsay” resolveu, na sua imensa sabedoria, que a Alta Silésia não seria entregue à Alemanha, mas dividida entre esta e a Polônia. A Comissão de Reparação reeditava, assim, o julgamento do Salomão, esperando que, ou a Alemanha, ou a Polônia, como a mãe bíblica, bradasse desesperada:
— Não cortai meu filho! Entregai-o inteiro a essa mulher!
Mas, como nem a Alemanha, nem a Polônia, se lembrou de lançar esse uivo aflitivo, a Alta Silésia foi cortada, apesar do resultado insofismável do plebiscito, e a Comissão de Reparações, muito satisfeita, foi para os braços morenos e repousantes da Sulamita...
Ora, o que se fez com a Alta Silésia, não foi um caso isolado. Os jornais de hoje, nos seus telegramas de Paris, dizem que a Alemanha se recusou a tomar parte nas discussões em torno da questão do Sarre, acusando a Comissão Administrativa daquele território de incompetente e facciosa. Mas os mesmos telegramas de hoje adiantam que essa Comissão terá, amanhã, o seu mandato renovado e que é sob a sua gestão que se vai realizar um plebiscito para saber-se a quem caberá a posse definitiva do Sarre.
Ora, “gato escaldado tem medo de água fria”. A Alemanha, desde 1921, treme nos alicerces quando ouve falar em plebiscitos. Apesar daquela região estar em poder dos franceses há 16 anos, não perdeu um milímetro das suas características alemãs. Esse plebiscito não pode deixar de ser, pois, inteiramente favorável à Germânia — se ele, de fato, realizar-se.
Em 1926, Briand, após uma conferência com Stressemann, assegurou que esse caso seria resolvido. É o estadista alemão quem o afirma: “O sr. Briand declarou-me, por intermédio do professor Hesnard, que poria fim à ocupação da Renânia, suprimiria o controle militar e devolveria o Sarre à Alemanha”.
Mas os tempos foram passando, Stresemann morreu, morreu Briand e a respeito do Sarre, nem um pio..
Agora, anuncia-se outro plebiscito. A Alemanha, inevitavelmente, vencerá. Apesar disso, ela recusa-se a tomar parte nas negociações porque teme, com motivos de sobra, que o rei Salomão surja de novo para manejar o seu facão temeroso, à espera de que a Alemanha berre:
— Não! Não o matai! Dai-o inteiro a essa mulher!
Porque, se a Alemanha berrasse assim, o Salomão de Genebra não agiria como o Salomão da Bíblia, mas entregaria a criança “a essa mulher” e deixaria a senhora sua mãe a ver navios...
A “próxima” guerra
A propósito de uma “charge” que há dias publiquei na “Folha”, um cidadão retardatário escreve-me uma carta na qual, entre outras asseverações extravagantes, me afirma, com invejável candura, que “falar” em guerra não é ser maluco”.
Eu não sou especialista em assuntos psiquiátricos. E por essa razão considerável não posso tecer aqui considerações científicas, nem desenvolver uma tese de alto estilo a propósito da influência do furor bélico no espírito dos lunáticos. Admito, para argumentar, que a guerra fosse uma coisa muito interessante, há trinta ou quarenta anos atrás. Até os fins do século passado, as guerras tinham beleza trágica, tinham, principalmente, heroísmo. Lutar peito a peito, de homem para homem, em combates francos e leais, era alguma coisa que chegava às raias da epopéia. Era dramático, mas era belo.
Hoje, porém, não há nada disso. A guerra que se desencadear agora não virá aureolada de beleza, nem se caracterizará pelo heroísmo. Os homens, que deveriam enfrentar-se como leões, agirão, prosaicamente, como tatus, enfiados em buracos, num pavor soberano. Não será, uma luta de Homens, com H maiúsculo, mas um morticínio de minhocas. Haverá, porventura, grandiosidade e heroísmo numa coisa dessas?
Porque a verdade é que ninguém escapará à chacina. Constantemente, os jornais europeus se referem aos últimos gases criados pela química, a serviço da guerra, dando detalhes impressionantes sobre os gases mais pesados do que o ar, gases que descerão ao fundo das trincheiras, das galerias e dos porões, para liquidar as minhocas inimigas. E, além dos gases, raios ultra-violetas, raios da morte, raios negros, raios que o partam... E granadas bacteriológicas, que entrarão em cena à última hora... E torpedos imantados... E vapores nitrosos, nuvens de fosgeno... O sujeito que se meter nessa tragédia estará literalmente frito. Pode ser patriota, pode ser valente, pode ser Herói — essa valentia e esse heroísmo não lhe servirão para coisa nenhuma. Diante de uma nuvem de gás que avança à flor do solo, firme e implacável, ele não terá outro recurso senão enfiar-se pela terra à dentro, com máscara e tudo, como um tatu. Sob uma nuvem de cem, quinhentos ou mil aeroplanos que despejam bombas, vá o tal sujeito praticar heroísmos! Ele, instintivamente, apelará para a sabedoria das formigas...
Um publicista inglês, escrevendo para um jornal de Londres, a propósito da “próxima” guerra, afirmou que ela será tão terrível, tão exterminadora, tão definitiva, que “o vencedor, exausto, cairá morto sobre o vencido agonizante”.
Para quem anda com idéias de suicídio, isso tudo é muito interessante...
E quanto ao caráter psiquiátrico dos que gostam disso (com exceção dos industriais de guerra que apenas tratam de cavar a vida à custa da morte dos outros) um jornalista francês publicou há pouco, em “Activités”, um estudo muito interessante, no qual se refere, justamente, a esse aspecto da questão. Ele divide os fomentadores de guerras em duas classes: a dos que falam abertamente nelas, discursando sobre “a honra nacional”, sobre “a glória imortal dos nossos antepassados”, sobre as bandeiras simbólicas, “mais preciosas do que a própria vida” — e a dos que falam em segredo, com muito mistério, justificando-se com a “segurança”, com as “possibilidades de agressão”, com o imperialismo alheio... Aqueles são os que gostam das coisas grandiosas, épicas, românticas, megalômenas... Estes pretendem apenas defender-se, porque juram que os vão atacar. E Philippe Soupault exclama:
“Dois aspectos de alienação: “mania de grandeza” e “mania de perseguição”...
A “Carioca”
Está se dando com a “Carioca” — dança que o filme “Voando para o Rio” revelou ao mundo... e ao Brasil — um caso muito curioso. Quando o mundo todo supõe que essa dança complicada é comum no Brasil, nós por aqui ainda não aprendemos a dançá-la. E o caso torna-se curioso porque em toda a parte está se dançando esse bailado brasileiro”... menos no Brasil.
Ainda agora, o circunspecto “New York Times”, na sua seção dedicada às famílias “The advance home page”, ocupa-se largamente da “Carioca”, afirmando que ela é precedente do Rio, segundo o seu nome indica: “ca-RIO-ca”, explicação que, se não é rigorosamente etimológica, não deixa contudo, de ser interessante. E, para que se comprove bem até que ponto a dança exótica está interessando muita gente boa, o “New York Times”, sob o titulo “Outra dança maluca, chamada Carioca, atinge os pináculos da sociedade”, publica algumas informações sobre essa “another danse craze”, além de uma entrevista com o autor da música e com um par de bailarinos brasileiros que vive em Nova York, Chico Stellato e Sylvia Fina.
Não sei se esses conceituados bailadores são, efetivamente, brasileiros. É possível que sejam e que, fazendo as declarações que fizeram, não tivessem outro intuito senão o de se divertirem à custa dos ingênuos yankees. O caso é que, interrogados por uma repórter, afirmaram que a “Carioca” deve ser dançada ao som da música, naturalmente, e ao som de “gritos selvagens em língua brasileira”. E acrescentaram com muita convicção: “É assim que se usa no Brasil”.
Eu confesso, com absoluta sinceridade, que nunca vi ninguém dançar a “Carioca” nestas terras morenas. Mas, como se fala, ali, em maxixe (“pronounced ma-chee-cha”) é de crer que os tais “gritos selvagens” se refiram a esse irmão do samba. Mas, ainda assim, confesso que nunca ouvi nenhum maxixeiro gritar — a não ser quando lhe pisam nos calos. Nesse, caso o grito é espontâneo, e tanto grita um dançador de maxixe como um dançarino de valsa, polca ou habanera. É pois, um grito universal, porque o calo não tem pátria. E só é selvagem quando o pisão é violento e o pisado, com a dor, perde a compostura e desmancha-se em descomposturas...
Isso, todavia, não tem importância. Aliás não se podia mesmo falar no Brasil, em país estrangeiro, sem que a palavra selvagem andasse junta. Coisas da vida!...
Mas uma das razões por que a “Carioca” anda fazendo furor lá fora, é atribuída ao fato dos bailarinos encostarem as testas para dançar. É isso, aliás, a única coisa que a “Carioca” adaptou do maxixe, dança que, se fosse bailada no filme tal como é, causaria um sucesso dez vezes maior, por ser muito mais... freudiana (perdão, Freud!) do que a desengonçada “rumba” que o meu amigo Louis Brock resolveu criar. Isso, porém, não diminui em nada a amigável iniciativa do simpático diretor da R.K.O., pois a “Carioca” está pondo em evidência, ao menos por algum tempo, o nome dessa terra impossível e incrível que se chama Brasil. Tanto que Dorothy Normann Cropper, vice-presidente do “Dancing Masters of America”, falando ao mesmo “New York Times”, afirma que já ensinou a “dança brasileira” a centenas de alunos seus. E acrescenta: — “A mocidade, principalmente, é louca pela “Carioca”. E, para provar que há razões ponderosas a justificarem essa “loucura”, afirma que tem recebido uma volumosa correspondência de várias partes dos Estados Unidos, da Europa e até da Austrália, de pessoas ansiosas por aprenderem a “Carioca”.
E a repórter, intrigada com a “extravagância” de se juntarem as testas para dançar, pergunta:
— E ainda não houve colisões?
— Não. Até agora ninguém apareceu com a cabeça quebrada.
E assim, graças ao “forehead to forehead” do maxixe o mundo todo está dançando uma “dança brasileira” que os brasileiros não sabem dançar...
Os “profiteurs”
Enquanto nós, na cabrália terra, vamos discutindo, sossegadamente, assuntozinhos pacíficos, tentando exagerar astronomicamente os nossos casinhos bélicos, a Europa se debate em convulsões tremendas, das quais as piores não são as que explodem todos os dias, mas as que se acham em estado latente, numa fermentação terrível que está intoxicando o organismo miserando do velho mundo e que, fatalmente, o conduzirá à morte.
Na Europa, fala-se em guerra, hoje, com a mesma displicência com que nós aqui falamos em programas de rádio ou em sessões de cinema. É o assunto de todos os dias. Já se conhecem de antemão, todos os movimentos estratégicos dos exércitos que vão lutar, já se sabe por onde fugir em caso de morro ou mato, enfim, os preparativos para a “quadrilha final!” estão de tal forma conduzidos que basta apenas um “morra”! uivado por qualquer “pau d’água” em plena rua, para que lá se vá tudo quanto Martha fiou..
Há pessoas ingênuas que, diante dessa alucinante patriomania, indagam a si mesmas, bem baixinho, no silêncio do seu quarto, qual a vantagem de tão estranho caso de belicosidade latente, sem se lembrarem de que existem umas entidades de esdrúxulos cognomes — Schneider-Creusot, Vicker-Armstrong, Krupp, Curtiss Wright Corporation, Newport News Shipbuilding Co. que acham tudo isso muito interessante, eis que elas existem para armar os povos... Apenas para armar — entenda-se bem. Agora, se os povos não podem andar armados sem se meterem em conflitos — porque os povos são crianças mal educadas — a culpa não é delas.
E não é mesmo. O que acontece, é que essas ilustres entidades tratam de negociar suas armas com quem lhes oferece melhores garantias. É um direito que lhes assiste, porque cada um se defende como pode. Tanto que, quando São Paulo desencadeou a revolução de 32, teve que brigar com pica-paus e cabos de vassoura, porque as fábricas de armamentos viram logo que era mais garantido negociar com a ditadura. E foi esse, em verdade, o melhor negócio que as usinas bélicas norte-americanas realizaram depois da guerra européia.
Está claro que não sou eu quem o afirma. É um jornal yankee, “The New Republic”, de Nova York, quem escreve estas linhas:
“Para finalizar, assinalemos que depois de 1919, os melhores negócios registrados pelos nossos fabricantes de armas foram os devidos à sangrenta revolução paulista do Brasil, em 1932. Proclamando o embargo de armas para os revolucionários de São Paulo, o secretário de Estado, Stimson, encorajou abertamente a venda de material de guerra americano ao governo do Rio de Janeiro. E, com efeito, este comprou aos Estados Unidos 111 aviões (representando um valor de 2.282.000 dólares) assim como peças de artilharia, num valor de 263.232 dólares”.
Mas isso são águas passadas. Nós ficamos nus com a mão no bolso e acabou-se a história.
O interessante é que na Europa, hoje, a guerra é o assunto de todos os dias e de todas as horas. Principalmente a guerra aérea, que infunde um tal pavor ao povo que, em Paris, já se constroem casas com porões “à prova de ataques aéreos”. E já existem, por toda a cidade, casas que, com e maior naturalidade, vendem máscaras contra gases asfixiantes. Este comércio chegou mesmo a tal ponto, que um general, indignado, escreveu um artigo tremendo no “L’Intran”, afirmando que essas máscaras não protegem coisa nenhuma, a não ser os bolsos dos seus fabricantes.
As pessoas cautas que haviam feito um largo sortimento dessas máscaras, na previsão de dias que se avizinham a passos rápidos, estão atrapalhadas, chorando o seu rico dinheirinho e fornecendo assunto para qualquer escritor que queira escrever um livro sobre esse trágico carnaval... Imaginem milhares e milhares de famílias, no momento dramático de um ataque aéreo por cem ou duzentos aviões, afivelarem suas máscaras ao rosto, confiantes e impávidas e caírem todas, estorcendo-se nas vascas da intoxicação, numa agonia atroz, porque as máscaras não as protegem, nem as salvam...
Como os seus fabricantes vão rir à custa dos tolos que “compraram um bonde”, ao comprarem as máscaras...
Os alemães e a guerra
Todo o mundo sabe que a mais eficiente arma de guerra não é o canhão, nem o aeroplano, nem o gás fosgênio, nem qualquer outra complicação química ou mecânica. É apenas a mentira.
Quem se mete numa luta, a primeira coisa que tem a fazer é, antes de estender a rede da espionagem, preparar o terreno para os carapetões. Estes, quando bem lançados, a tempo e a hora, agem com muito mais eficiência do que qualquer reserva de exército. Envolvem o inimigo num aranhol tão denso de desconfianças e más vontades, que ele, premido moralmente pelo mundo todo, e ainda por cima desmoralizado, não tem outro remédio senão fazer o que fazem as nações em apuros; entregar os pontos.
Durante a Conflagração Européia, esse processo foi posto em prática, de uma forma admiravelmente organizada, pelos países aliados. A ofensiva que estes países realizaram por meio de carapetões sabiamente manipulados, encheu o mundo de um tal sentimento de ódio contra a Alemanha, que esta, apesar de todos os esforços, acabou mesmo ficando sozinha e defendendo-se com uma bravura tão épica, que nem Remarque, no seu livro amargo, conseguiu destruir.
Nós por aqui, àquela época, quando abríamos um jornal e líamos a torrente telegráfica que transbordava da primeira página dos jornais, só deparávamos descrições arrepiantes de arripiantíssimos canibalismos praticados pelos “hunos modernos” nas aldeias da Bélgica e do norte da França. Mulheres fuziladas, criancinhas decapitadas, velhos queimados vivos — enfim, aquilo por lá parecia o sertão do Cariri sob o jugo de Lampião. Uma coisa de arrepiar cabelos aos próprios carecas.
Depois, terminada a guerra, viu-se que houvera naquilo tudo, apenas excesso de imaginação... e de boa política militar. Mas nós acreditamos. E tanto, que acabamos também declarando guerra à Alemanha, para que o sr. Wenceslau, mineiramente, aproveitasse a ocasião para nos aconselhar “parcimônia nos gastos”.
E o interessante é que nós fizemos a tal parcimônia...
É possível que, no ardor guerreiro e patriótico que os inflamava, e no desespero de quem luta em legítima defesa contra todo o mundo, os alemães houvessem praticado alguns excessos contra o “direito das gentes”. Mas daí ao “canibalismo vandálico” com que os apresentaram ao mundo, a distância não é pequena.
Entretanto, foi isso o que se fez.
Mas nem sempre se fez isso bem feito.

Ainda agora um jornal alemão, o “Fichte-Bund”, de Hamburgo, a propósito das acusações que se levantam por toda a parte contra Hitler, relembra o que aconteceu em 1914 com o caso dos sacerdotes belgas que teriam sido forçados a mandar repicar os sinos quando os alemães entraram em Antuérpia. Relembrando esse episódio sensacional e reportando-se às noticias que correram mundo por conta de quem podia passá-las adiante, o panfleto germânico cita trechos de alguns jornais aliados que noticiaram o fato.
Segundo o “Matin”, que se baseou em informes de um “Kolnische Zeitung” não sei de onde, “o clero de Antuérpia foi obrigado a mandar repicar os sinos depois da rendição da fortaleza”.
Mas o “Times”, de Londres, acrescentou um ponto: “Os eclesiásticos belgas que se recusaram a mandar repicar os sinos, foram expulsos do seu cargo”.
O “Corriere della Sera”, por sua vez, escreveu: “Segundo informações fidedignas do “Times” os desgraçados eclesiásticos que se recusaram a mandar repicar os sinos, foram condenados a trabalhos forçados”.
E o “Matin” voltou a contar a história, mas agora assim: “Conforme o “Corriere della Sera” chegou a saber de Colônia via Londres, confirma-se a notícia de que os bárbaros conquistadores de Antuérpia puniram os desgraçados eclesiásticos, mandando pendurá-los de cabeça para baixo, como badalos vivos, nos sinos”.
Aí está como se escreve História. Repito que estou me reportando a informes do “Fichte-Bund”, de Hamburgo. Eu não vi nada disso, mesmo porque, naquele tempo, eu também andava tremendo de cólera contra os “hunos”...
Em tempo de guerra — e de revoluções — a melhor maneira de se acompanharem os acontecimentos é fazer como eu faço: ler histórias da Carochinha, relatórios da Sociedade Beneficente Flor de Lotus ou estatísticas sobre o aumento da produção e consumo das batatas da Macedônia...
Os bandeirantes renanos
Afinal de contas, tudo o que nós sabíamos a respeito de um dos episódios culminantes da Historia do Brasil, já não passa de lenda! Vivíamos, todos os brasileiros, e principalmente nós, os paulistas, na ilusória suposição de que a grandeza territorial e a unidade brasileira fossem obra dos bandeirantes paulistas, e eis que se constata agora, não sem um laivo de desapontamento, que tudo isso era apenas “uma ilusão e mais nada” — como dizia o poeta.
Todos nós, com efeito, sabíamos que os primeiros homens que se aventuraram a rasgar a “selva selvaggia” sul-americana, investindo para as ínvias brenhas misteriosas e riscando o solo virgem de sulcos que se tornaram, depois caminhos abertos para a civilização, foram os paulistas, nos fins do século XVI e século XVII. Dessas incursões audaciosas, eles recolheram, não somente benefícios materiais, mas alargaram o território pátrio, expulsando os conquistadores espanhóis e forçando o recuo do meridiano.
Era isso, mais ou menos, o que nós sabíamos.
E, entretanto, — tão ilusórios são os conhecimentos humanos! — tudo isso não passava de conto da Carochinha! Os bandeirantes, em verdade, existiram. E mais: praticaram, realmente, as façanhas que se conhecem. Até aí, a História não mente.
Onde, porém, os fatos cedem lugar à fantasia, é quando se diz que aqueles bandeirantes eram paulistas.
Engano, meus amigos! Engano d’alma, ledo e cego, que um ariano não deixa durar muito!
E dir-vos-ei por quê: o “Diário da Noite” publicou ontem, com o devido destaque, a tradução de um artigo do “Beerliner Illustrirte Zeitung”, da autoria do sr. Ubrich Von Riet, e subordinado a este título interrogativo: “Que há ainda a descobrir no Brasil?”
Segundo nos assevera o ilustre publicista germânico o Brasil está esperando ainda uma porção de Cabrais, pois todo este imenso território é apenas um sertão indevassável: “mesmo no centro das cidades encontram-se restos de florestas virgens ainda inexploradas”.
Vê-se que o articulista alemão quis referir-se ao parque Pedro II, ao Jardim da Luz, à praça da República, etc., que são “restos de florestas virgens ainda inexploradas”, isto é, são parques e praças cheios de cobras, jacarés, onças, e onde, à noite, terríveis bandos de queixadas deixam as tocas para invadir o Triângulo ou os bairros mais próximos...
O quadro é dantesco e assustador!
Mas onde o articulista germânico nos liquida sumariamente, é quando diz:
“Foram, pois, em sua maior parte, os estrangeiros e, entre estes, os alemães, que empreenderam as grandes incursões pesquisadoras pelo interior do Brasil, trazendo assim as primeiras notícias da existência daquelas terras”.
Pois é isso, meus amigos. Vocês falam em Fernão Dias, Raposo e Borba Gato... Citam João Amaro e Jorge Velho... Está bem. Eles existiram, mas não eram paulistas. Fernão Dias nasceu em Munich, Borba Gato era patrício de Lutero e, quanto a Antonio Raposo, foi companheiro de Goethe, tendo nascido em Francfort, morado em Lepzig e aí conhecido o poeta sublime. Quando, em Strasburgo, Goethe lançou as bases do universalismo, Antonio Raposo pediu uns cobres emprestados a Catharina de Schoenkopf e, no momento em que seu amigo rompia com mme. de Stein, o futuro bandeirante alemão rompia com Catharina e vinha descobrir o Brasil, em companhia de Borba Gato que era loiro como uma libra esterlina e falava português como o Fritz da anedota.
Vamos, pois, modificar a História. Está tudo errado. Quando se falar em bandeiras e bandeirantes, “Ubrich über alles”!
O perigo amarelo
Conversando, há poucos dias com as heróicas pessoas que enfrentam impavidamente os disparates deste canto de página, contei o que anda fazendo o Japão pelo mundo, nestes últimos tempos, a fim de que saibam que o “doce país das geishas” há muito tempo deixou de o ser.
Os cidadãos românticos que supunham viver os japoneses enfronhados exclusivamente na confecção de caixinhas de laca e ventarolas de papel, devem ter sentido uma certa amargura ao observar que esse povo ingênuo e infantil se acostumou, com muita ingenuidade, a fabricar objetos menos efêmeros, um pouco diferentes das borboletas de papel de seda: canhões de grosso calibre, aviões de bombardeio, bombas de gás fosgênio e outros “brinquedos” do mesmo gênero. Além disso, para que não se dissesse que o Japão é apenas destruidor, aqueles homens começaram a produzir lâmpadas que, espalhadas pelo mundo, estão enchendo de pesadelos as noites dos industriais ingleses e americanos.
Poder-se-ia supor que o “dumping” nipônico ficaria nisso. Mas não ficou.
Entraram, resolutamente, a produzir uma coisa inesperada: a cerveja.
Nunca me constou, nem mesmo em sonhos eu cheguei a sabê-lo, que os japoneses fabricassem cerveja. Nem sequer supus, jamais que o álcool fizesse parte da vida nipônica, pois eu nunca vi um desses esquisitos orientais tomar uma carraspana, um desses tremendos pifões com que nós, ocidentais, comemoramos as nossas alegrias e nos quais pretendemos, de vez em quando, afogar as nossas mágoas.
E, todavia, eis que os japoneses se empenham em fazer cerveja para, com ela, embebedar o Ocidente... Pode ser um novo “dumping”, como pode ser uma réplica aos ocidentais que, há muitos séculos andaram escravizando os mongóis à custa do pileques de ópio...
O certo, porém, é que a cerveja nipônica está atacando a Europa cervejística justamente num dos seus pontos mais fortes: Pilsen.
Pilsen é uma cidade que pertence, hoje, à Checoslováquia. É onde se fabrica uma das melhores cervejas do mundo — segundo afirmam os entendidos que já a emborcaram. Depois de enviarem cem garrafas a um grande importador alemão, que as distribuiu aos amigos e dos quais só recolheu elogios entusiásticos, começaram os nipões a abarrotar o mercado checoslovaco com seus milhões de garrafas que, naturalmente, foram consumidas com avidez. A cerveja é boa e — o que ainda é melhor — custa a metade do preço da cerveja local.
A Checoslováquia, naturalmente, ficou alarmada. Os industriais da bebida loira andam de mãos à cabeça, desesperados arrancando os últimos fios de cabelo que ainda lhes restam. Se não me engano, vão apelar para o governo, exigindo providências enérgicas para debelar o “perigo amarelo”.
Porque, agora, sim! o perigo é realmente amarelo, eis que a cerveja nipônica é de uma cor maravilhosa que parece topázio líquido — como diriam os poetas.
Para os cervejeiros eslovacos, porém, essa cor não tem a menor poesia, a não ser quando a tomam em sentido simbólico para traduzir o infinito desespero que lhes vai na alma...
Os homens supersticiosos
Leio numa revista americana que o “Clube de Combate às Superstições”, de Chicago, vai ser inaugurado dentro de poucos dias.
Esse é, se não me engano, o segundo clube desse gênero que se funda nos Estados Unidos, pois há tempos comentei, nestas colunas, a fundação de uma sociedade semelhante em Chicago. Não sei se esta foi avante, pois não ouço falar dela há muito tempo. Todavia, basta a existência de uma num país para que as pessoas inimigas de crendices complicadas fiquem satisfeitas.
Eu creio que as superstições são pequenas inutilidades que o homem inventa para complicar a própria vida. Para muita gente, as superstições são verdadeiros trambolhos psíquicos atravessados no caminho de sua vida. Para outras, são apenas passatempos. Para mim não são nem uma coisa nem outra, pois eu, geralmente, não tenho tempo de lhes dar atenção e passo impavidamente por sob uma escada aberta, pois acho muita dificuldade em passar sob uma fechada.
Há, contudo, muitas pessoas de cultura que vivem eternamente atemorizadas com coisinhas banais e por nada deste mundo seriam capazes de envergar um terno marron, abrir uma guarda-chuva dentro de casa ou acender três cigarros com o mesmo fósforo. Dizem elas que qualquer destas coisas dá um azar terrível — não sei por que estranhas razões. Assim, atarantadas com essas superstições esquisitas, essas pessoas levam uma existência áspera e atribulada, fugindo a uma porção de coisas inofensivas, virando esquinas, aterradas, se dão de cara com um padre, pulando imprudentemente para o meio da rua se deparam uma escada aberta na calçada, fazendo figas, apertando chaves... Uma vida complicada, cheia de tropeços que elas próprias criaram!
Eu conheço um cidadão desse gênero, com o qual tenho me recusado heroicamente a andar. O infeliz vive escravizado pela superstição: vai indo muito bem, na maior despreocupação possível quando, subitamente, pára, dá dois passos para trás, um para a esquerda para depois prosseguir. É que ele acabou de ver um “jettatore”. E a gente tem que parar também e esperar que o estranho homem realize os seus “passes” diante dos transeuntes boquiabertos. Mais adiante, ei-lo que pula para o meio da rua: é uma escada aberta. Depois, quer a todo transe virar uma esquina. Quer, não. Ele nos deixa e vira a esquina, realizando voltas exaustivas, para fugir de um padre barbado que surgiu ali adiante, com seu vasto guarda-chuva negro sob o braço.
Esse homem complicado é incapaz de fazer a barba às sextas-feiras, não viaja nos dias 13, não entra em nenhum lugar com o pé esquerdo, não aperta a mão de pessoas que usam terno marron, faz acrobacias terríveis para não esbarrar, na rua, em cavalheiros que usam frack ou que fumam charutos de canudinho... Tudo isso, diz ele, dá um azar terrível.
Eu creio, porém, que o azar maior é um cidadão ter a paciência de colecionar na cachola tão vasto cabedal de complicações para atrapalhar a própria vida. Não sei quem será o pândego que inventa essas coisas, mas esse sujeito deve divertir-se imensamente, pois os supersticiosos, quando se obsecam por uma “jettatura”, vão aos maiores extremos, como aquele que, sentindo-se doente foi a um médico e ouviu deste:
— O senhor está sofrendo de “surmenage”. Vou receitar-lhe fósforo.
O homenzinho pulou:
— Hein? Fósforo?
E muito pálido, quase a tremer:
— Doutor! Se é mesmo preciso, vá lá! Receite! Mas, pelo amor de Deus, receite fósforo de pau, porque eu tenho uma bruta cisma com o fósforo de cera!
Ilusão e realidade
Neste cantinho despreocupado em que venho, quase diariamente, pondo à prova a infinita paciência dos meus bravos leitores, escrevinhei, há uns oitos meses, umas linhas amargas sobre o que se poderia chamar a perversão da ingenuidade infantil.
Aludindo ao que se está praticando em certos países do mundo, com o inconsciente objetivo de dar às crianças uma “educação moderna”, arrancando-lhes do espírito todas as ilusões e desencantando-as brutalmente, tive a subida honra de pedir a esses excelentes orientadores políticos que fizessem o favor de limpar as mãos na parede.
Eles não limparam. E prosseguiram, fascisticamente, a meter as inocentes crianças em complicações políticas, tendo chegado ao extremo, como sucede na Alemanha, de fabricar bonecas com a figura de Hitler, esperando naturalmente que semelhante processo desperte idéias cívicas e patrióticas nesses espíritos imaculados.
Tem-se alegado, para isso, que a mãe não sabe educar os filhos, pois enfia-lhes na cachola fantasias e lendas absurdas, que contribuirão para dar aos futuros homens uma idéia falsa do mundo e da vida. E vai daí, agarra-se no gerotinho e metem-se-lhe na cabeça outras fantasias mais inconcebíveis ainda, em forma de “educação moderna”, como se esses pedacinhos de gente estivessem aptos para julgar os atos daqueles que os dirigem e que, tendo perdido a admiração dos marmanjos, pretendem conquistar a adoração dos fedelhos.
Se pedissem a minha “abalizada opinião” sobre o assunto, eu diria que isso que se está praticando por aí é um crime. Nem foi de outra maneira que o compreendeu um pai francês que, há pouco tempo, levou aos tribunais um professor de aritmética.
Por quê?
Apenas porque o referido professor, com a cabeça entupida de “modernas concepções da psico-pedagogia social”, dirigiu-se aos seus alunos, na véspera de Natal e fez-lhes uma complicadíssima preleção sobre a data, explicando-lhes que o Papai Noel era uma bobagem, que essa história de um velhote descer pela chaminé era uma estupidez e que os três Reis Magos, que deviam aparecer na noite de 6 de janeiro, eram apenas três conversas fiadas. E, não satisfeito com semelhante investida contra a Fantasia, enveredou pelo terreno literário desancando impiedosamente as fadas de Andersen, os anões dos Grimm e as bruxas de Perrault. Tudo mentira, tudo bobagens. Que não acreditassem nunca nesses disparates!
Quando a garotinha chegou em casa com essas novidades alarmantes, o pai urrou de indignação. E não ficou no urro: correu aos tribunais e denunciou o mestre por um delito que não sei se consta dos códigos e a que se poderia chamar o crime de arrebatar, às crianças, o direito que elas têm à ilusão.
Porque eu considero crime não só perverter física ou moralmente uma criança; a perversão espiritual é um delito que devia ser punido pela sociedade por meio de um artigo no Código Penal. Todos nós sabemos que a quadra mais feliz da nossa existência é a que vai da infância aos umbrais da puberdade. É o ciclo da ilusão, da irrealidade, da fantasia; é o tempo em que, vivendo já neste mundo, parece vivermos num mundo diferente — bom, porque não existe, porque nunca existirá. Por que, pois, pretender arrebatar às crianças o seu tempo melhor, arrojando-as violenta e estupidamente na estúpida realidade deste mundo?
Deixemo-las que se iludam até onde puderem. Se conseguirem viver encantadas até além da puberdade, tanto melhor para elas. Quanto a nós, que já não podemos sonhar, nem crer na irrealidade, prossigamos na nossa vidinha apertada, pedindo aos deuses que nos conservem o restinho de ilusão que trazemos na alma e que ainda nos faz acreditar nos políticos e confiar nas mulheres...

A criança de rabo
Em outros tempos, nos tempos pré-históricos em que eu era criança, apareceu um dia, já não me lembro onde, um menino com rabo.
Recordo-me desse fato pelos comentários que, então, ouvi. E, entre esses comentários afirmava-se, com muita convicção que “aquilo era o fim do mundo”.
Hoje, muitos anos depois, não sei qual a correlação que pode haver entre uma criança que nasce com rabo e o termo da humanidade. Suponho, porém, que aquelas assustadas pessoas que viam no fenômeno um aviso dos céus, se baseavam em convicções religiosas, desdenhando a teratologia para se agarrarem à demonologia.
Com efeito. A iconografia do Diabo é, nesse particular, perfeitamente uniforme e invariável. Pode-se afirmar que noventa e nove por cento dos artistas que, desde os séculos mais remotos, desenharam a figura do Diabo, tiveram o cuidado especial de representá-lo sempre com um rabo. Muitos o despojaram dos chifres; mas do rabo, nunca. Este, embora sob forma as mais diversas, era o elemento primordial, a nota característica do tinhoso. Satanás sem rabo foi, durante muitos séculos, um fenômeno que assustava as pessoas ingênuas, tanto como assusta, hoje, um menino que aparece na terra com aquele estranho apêndice. Essas pessoas, que acreditam na existência do Diabo, acreditam também na existência de uma outra personalidade igualmente temível: o Anti-Cristo. Este é um indesejável cavalheiro que, segundo narram as pessoas entendidas, virá ao mundo nas vésperas do fim deste. E, exatamente como o Diabo, o Anti-Cristo também possui, pendurado no cóccix, um rabo sinistro, negro e liso como uma cobra. Daí, naturalmente, o irreprimível temor de toda aquela gente que, na minha longínqua infância, teve conhecimento de que, em certo lugar nascera um menino enfeitado com um rabo.
Não sei se esse episódio foi apenas um boato, porque, infelizmente, o mundo não se acabou.
Agora, porém, o “American Weekly” de Detroit, narra um caso semelhante: na Maternidade de Londres, há pouco mais de três meses, nasceu uma criança com um rabinho preto, um rabinho esquisito, enrolado como o de um porco. Os médicos, naturalmente, agarraram no “caso” — que, neste caso, era o menino — e trataram de deslindar o mistério, submetendo-o a toda sorte de análises e pesquisas. O garoto, afora o rabo, era perfeitamente normal. Razão por que os seus pais pediram aos cientistas que amputassem aquela incômoda excrescência. A princípio, os cirurgiões se negaram a operar o garoto, alegando que este devia crescer juntamente com o rabo, para ver o que aconteceria. Disseram, mais ou menos:
— Vamos deixar como está, para ver como fica.
Mas o pai não gostou da deliberação getuliana da ciência londrina. Exigiu a operação. E no “Metropolitan Hospital” a operação se fez: Ao cabo de meia hora, o garoto estava livre do rabo.
Não sei se aquela história de Anti-Cristo será baseada em razões místicas mais fortes que as razões científicas. Mas, no caso afirmativo, creio que fizeram muito mal privando o garoto do seu apêndice diabólico. Não seria essa criança o Anti-Cristo prometido? Se o era, deixou infelizmente de o ser, desde o momento em que lhe arrebataram o rabinho. E se deixou de ser o Anti-Cristo isso quer dizer que não é desta vez, ainda, que o mundo vai se acabar. Teremos que esperar mais dez, mais vinte ou trinta anos, o que, francamente, é uma verdadeira estopada...
Além disso, esse garoto veio pôr abaixo a famosa teoria darwiniana, pois quando se esperava encontrá-lo com um vasto rabo de macaco, acharam-n’o com um pífio rabinho de porco. Se os supersticiosos perderam, com isso, um Anti-Cristo, os antropólogos ganharam um “caso” digno de estudo, caso que eu lhes ofereço com esta tese:
“O homem descende do macaco ou do porco?”
Eu, desde já, voto no rabinho retorcido porque esse rabinho, francamente, veio apenas para atrapalhar...
Coisas da vida
O famoso espírito conservador dos ingleses parece que está escorregando por um declive que ninguém sebe aonde vai parar. É verdade que, mesmo saindo da rota milenar de profundo respeito ao “statu quo” parlamentarista, os senhores ingleses vão pisando com muita cautela e não admitem que qualquer borra-botas surja para ditar-lhes doutrinas ou apontar-lhes rumos.
O caso do fascismo inglês não deixa, a esse respeito, de ser muito característico. Na Itália e na Alemanha, os “condottieri” esquerdistas saíram do nada, vindo das camadas inferiores da sociedade e arrastando, assim, as multidões insatisfeitas. Na Inglaterra, porém isso seria inconcebível. Para que o fascismo, aí, conseguisse arregimentar adeptos, foi necessário que aparecesse um “sir” disposto à luta. O chefe britânico dos “blue shirts”, “sir” Oswald Mosley, é, antes do tudo, um britânico aristocrata, elegante e bonito, que faz os seus discursos com a mão na cintura, em gestos “blasés”, como se estivesse dizendo galanteios a damas elegantes. Daí o seu sucesso incomparável, sucesso que ele quase não procura, mas que aceita displicentemente, com infinito bom-humor.
Todavia, apesar disso, os ingleses querem saber o que há do outro lado. Parece que não acreditam no realismo com o mesmo entusiasmo do antanho. É isso, pelo menos, o que se deduz de uma estatística recentemente publicada e através da qual se vem a saber que um dos maiores sucessos de livraria na Inglaterra, atualmente, é “O Capital”, de Karl Marx, a obra basilar de quanta bagunça está havendo por aí.
Dickens e Walter Scott continuam, ainda, em primeiro lugar. Mas Thackeray, Shakespeare, Stevensen, Lewis Carrol, Bleckmore, enfim, todos esses autores famosos que batiam recordes de livraria, foram derrotados pelo pai do marxismo.
Semelhante fato na Inglaterra, num tempo destes, é de arrepiar os cabelos da gente.
* * *
É que a miséria tomou conta do mundo. E se é verdade que há miseráveis resignados — como é o caso dos crentes e dos místicos — é verdade também que a maioria deles não quer esperar o reino do céu e vai tratando de conquistar o reino da terra.
Outros há, contudo, que, não querendo lutar, desertam. Tal foi o caso de um casal de velhos em Levallois-Perret, na França, que se suicidou, asfixiando-se com gás. Motivo: a miséria.
“Le Matin” noticiando o fato, e comentando-o, disse isto:
“Todavia, os dois velhos inscritos no “Bureau” de beneficência, recebiam 20 francos por mês”.
E, com efeito, era verdade: eles eram auxiliados com 20 francos, mensalmente. O “Le Matin” com aquele “todavia” ficou boquiaberto de pasmo — e com razão.
Os senhores sabem o que são 20 francos? São dez francos mais dez francos! Uma quantia fabulosa que, lá na França, deve valer o que vale para nós l0 ou 15 mil réis!
Vejam os senhores: esses dois velhos recebiam 15 mil por mês e suicidaram-se, alegando miséria! É o cúmulo!
O jornal “Intervention” é que tem razão, exclamando:
“Os pobres, decididamente, não são razoáveis...”
Nós e eles
O Brasil não é apenas uma terra ambicionada por pobres emigrados europeus; é também um território onde se chocam as competições das grandes potências.
Peço ao meu heróico leitor o obséquio de não se assustar com essa afirmação solene, porque quem a faz não sou eu; é um jornal polaco, o “Glos Poranny”, citado pelo “Lu”. E, para prover o que diz, o diário de Lodz cita dois exemplos que ele julga definitivos.
O primeiro exemplo foi o caso dos assírios. A Sociedade das Nações, agindo em nome da Grã Bretanha, propôs ao Brasil que acolhesse 20.000 assírios. O Brasil, segundo afirma o “Glos Poranny”, já tinha dado a sua autorização e os emigrantes estavam preparados para partir, quando a imprensa brasileira se levantou contra a invasão branca.
Até aqui o jornal polonês está certo. Onde, porém, erra é quando afirma que, na imprensa, “todos os argumentos foram expostos sem que a palavra “Inglaterra” fosse jamais pronunciada”. E acrescenta:
“As questões de raça, de nacionalidade, etc. foram evocadas nessa ocasião. Mas evitava-se pôr em causa o general inglês que ali chegara expressamente para preparar essa obra típica de colonização”.
Aqui foi que o apressado jornalista comeu gambá errado — com perdão da palavra. O nome da Inglaterra foi citado e recitado inúmeras vezes no correr dessa questão, em vários jornais, e aqui mesmo, neste cantinho grave, a loira Albion compareceu para ser inquerida a respeito, tendo-se-lhe indagado se pensava que “isto aqui” era a casa da mãe Joana.
Mas vamos ao segundo “exemplo”, eis que o primeiro se desfez nas fímbrias do horizonte, como o caso se desfizera com a prudente retirada estratégica realizada pelo citado general e pelo honrado chefe do governo permanente.
Diz o “Glos Porenny”:
“No Brasil, há alguns anos apenas, o governo combatia seriamente a imigração japonesa e o “perigo amarelo” foi muitas vezes evocado. Agora, porém, as coisas mudaram radicalmente. Em Tóquio existe um “Instituto do Amazonas” que prepara técnicos da agricultura para a emigração para o Brasil. Dois milhões da japoneses trabalham já em território amazônico e o fluxo de emigrantes continua sem cessar. Os japoneses, atualmente, aperfeiçoam-se na cultura do café e começam a invadir o Estado de São Paulo. A imprensa não protesta mais. Ao contrário, entoa hinos à glória dos japoneses, que têm uma grande missão a cumprir no Brasil. Exalçam-se as belezas da imigração nipônica, o pacifismo e a honra do Japão. A embaixada do Japão tem o “guichet” aberto para todos os autores desse gênero de prosa. Não foi à-toa que o presidente do Conselho nipônico declarou que “o Brasil é mais importante qua a Manchúria”.
Assim falou o “Glos Poranny”. Mas é oportuno indagar: Falou direito?
“Hoc hopus, hic labor est...” como diria o padre Bacalhau. Que a imprensa não protestou contra a imigração nipônica é uma história mal contada. Muitos jornais, evidentemente, a louvaram, e tanto que um ilustre constituinte subiu à tribuna para declarar que eles estavam subornados. Mas isso é lá com os pereiras. O certo, porém, o real, o evidente, o inegável, o iniludível, o insofismável, é que o governo, por isto ou por aquilo, restringiu ferozmente essa imigração, anulando-a quase.
Onde, porém, o irrequieto jornal mete os pés pelas mãos, é quando afirma:
“Os operários (no Brasil) vêem seus salários diminuir. Para um dia de dez horas de trabalho, eles ganhavam recentemente um pouco mais de dois francos. E os que podem ganhar esses dois francos ainda se consideram felizes, porque a maioria não tem trabalho”.
Leram? Gostaram? Essa dos operários, no Brasil, ganharem pouco mais de 2$000 por dia, é de se lhe tirar o chapéu. E note-se que esses ainda têm sorte, porque a maioria — sim senhores, a maioria! — está sem trabalho, naturalmente pedindo esmola, toda frajola, de camisola...
“Ele há cada um”! Por que é que o “Glos Poranny”, ao envez de escrevinhar bobagens sobre o que ignora, não vai ver se nós estamos ali na esquina, de guarda-chuva aberto em baixo do braço?
O crânio do rei Makaua
Segundo noticia o “Neues Wiener Journal”, estão ocorrendo na Europa, nestes últimos dias, fatos estranhos oriundos de uma estranha caveira que ninguém sabe por onde anda.
Há pouco tempo, na Câmara dos Comuns, um deputado extravagante interpelou a mesa nos seguintes termos:
— “E posso, porventura, perguntar ao ilustre ministro onde está a execução do artigo 246 do Tratado de Versalhes?”
O deputado original aproveitava a presença, na Casa, do ministro Baldwin, para envolvê-lo, perversamente, numa interrogação desnorteante. Baldwin, perplexo a princípio, readquiriu logo a sua presença de espírito e respondeu:
— Vamos, novamente, por intermédio do nosso embaixador em Berlim, convidar o governo do Reich a ativar as suas pesquisas para a descoberta do crânio de Makaua.
E o caso, ainda uma vez, parou aí.
“Ainda uma vez”, porque o extravagante caso do crânio de Makaua é um dos mais estuporantes que têm surgido nestes últimos tempos, no estuporante cenário da política européia, tendo dado margem a interpelações idênticas, na Câmara dos Comuns, em 1920, em 1922, em 1926 e em 1930.
Um crânio, como o afirma o “Neues Wiener Journal”, não se presta apenas, para que em torno dele se façam considerações filosóficas, como aconteceu com Hamlet. O crânio do Makaua, por exemplo, ainda pode produzir tragédias impressionantes. Senão vejamos:
Aí pelas alturas do ano de 1500 (os dados cronológicos não são muito precisos nesse ponto) havia na África, não se sabe ao certo em que lugar, um sultão ou um rei chamado Makaua. Quando esse excelente soberano morreu, os seus súditos, imensamente contristados, tomaram o seu crânio e deixaram-no na choupana real, como uma relíquia de inestimável valor moral.
Os anos correram, passaram os séculos e, um dia...
O crânio sagrado desapareceu!
E veio a Conflagração Européia.
Nessa altura — é o que dizem as más línguas — apareceu na África um inglês diabólico e afirmou aos negros que o supurado crânio de Makaua fora roubado por um emissário do kaiser que queria proclamar-se Imperador da África. E que, se os súditos do sempre chorado Makaua quisessem auxiliar os ingleses a guerrear a Alemanha, eles poderiam retomar a preciosa relíquia — o que traria uma era de grande prosperidade para todo o Continente Negro.
Inúmeros negros dispuseram-se, pois a entrar no barulho. E a guerra terminou. Terminou mas, inexplicavelmente, o diabo do crânio não apareceu! Os pretos começaram então, com uma insistência de verdadeiros fanáticos, a azucrinar a paciência dos ingleses do uma forma tão impressionante, que Chamberlain se viu na dura contingência de fazer inserir, no Tratado do Versalhes, um artigo em que se obrigava a Alemanha “a enviar para a África Oriental, no prazo de seis meses, o crânio do rei Makaua”.
Logo em seguida à asinatura do Tratado, os alemães, escrupulosamente pontuais, encarregaram três peritos em antropologia africana de procurar nos museus de Reich, a famigerada caveira. Depois de inúmeras pesquisas e extenuantes estudos, os três desesperados cientistas confessaram a inutilidade de tudo, pois o crânio não apareceu, sendo que um deles, mais animoso, aventou a hipótese da não existência dessa caveira, nem na Alemanha, nem mesmo na África.
O certo, contudo, é que, exista ou não exista, o crânio do rei Makaua está pondo a diplomacia anglo-germânica numa roda viva. Tanto que, durante uma entrevista realizada, há tempo, entre Chamberlain e Stresemann, o estadista inglês afirmou que era preciso, “a qualquer preço” encontrar a caveira. Até agora, porém, o caso ainda não encontrou solução, principalmente porque a Alemanha, com a seriedade com que encara todas as questões científicas, não se decidiu ainda a arranjar um crânio qualquer e mandá-lo ao “Foreign Office” jurando, por todos os deuses da Antropologia, que esse é o vero crânio do rei Makaua.
Quem, num caso desses, iria provar o contrário?
O próprio Makaua, se resuscitasse — mesmo sem crânio, seria capaz de jurar pela autenticidade de sua caveira.
Como se vê, a história desse crânio é de fazer um estadista perder a cabeça...

Morrer por morrer...
Um adivinho, falando à “Folha da Noite” há poucos dias, declarou que dentro de muito pouco tempo, o mundo vai se meter numa nova guerra — esta, porém de uma grandiosidade espetacular e fulminante.
Creio que não é preciso ser profeta nem autoridade em ciências misteriosas para chegar a essa conclusão. Todos nós que não enxergamos nada nas trevas do futuro, já sabíamos disso há muito tempo, desde o tempo em que, terminada a Conflagração de 1914, toda a gente exclamou que aquela fora a última guerra.
Última guerra, por quê?
Creio que, mesmo no caso de explodir uma bagunça épica que exterminasse tudo, os próprios esqueletos se levantariam do fundo das covas para brigar. Isso, aliás, não é nenhuma novidade, embora pareça absurdo. O general P. Goes, numa de suas abundantes entrevistas, teve a gentileza de contar-nos que, há muitos milênios, os espíritos, chefiados por Lusbel, se revoltaram contra Deus, num charivari tremendo que encheu de temores as tranqüilas regiões siderais. E há, mesmo, almas do outro mundo que aparecem nas sessões espíritas para pregar sustos nos mortais, uivando palavrões e espatifando móveis.
Mas o que nos interessa não é o descontentamento dos mortos. Estes — coitados! — já não fazem mal a ninguém.
O pior é a loucura dos vivos. Estes é que andam por aí numa tarefa sinistra, inventando coisas terríveis para seu próprio extermínio, principalmente nos domínios da química e, com toda a certeza, nos domínios da bacteriologia.
Um jornal americano, referindo-se a esses acontecimentos de arrepiar os cabelos, narrou, há pouco, o que se deu no dia 31 de maio de 1915, durante a Conflagração Européia: uma divisão siberiana do exército russo, com o efetivo de nove mil homens, foi inteiramente dizimada — não pelas baionetas, nem pelos fuzis, nem pelas granadas — mas pelo cloro. Dos nove milhares de homens atacados pelo gás, não ficou nenhum para contar a história.
Se isso ocorria há quase vinte anos atrás, não é difícil imaginar o que acontecerá daqui a algum tempo. Enquanto as usinas inventam e aperfeiçoam aparelhos complicados de matar o próximo, os grandes laboratórios químicos, montados para fabricar remédios, fabricam venenos. O cloro, base de quase todos os gases asfixiantes, é produto indispensável às necessidades pacíficas de humanidade. Dificílimo, portanto, extinguir-lhe o comércio. O fosgeno e o oxicloruro são indispensáveis à indústria de tintas e aos produtos farmacêuticos... mas é com eles, também, que se fazem bombas terríveis. De modo que, não havendo possibilidade de eliminar o comércio dessas drogas, elas continuarão a servir para se fabricarem remédios, tintas para pintar paisagens e bombas para mandar a gente para o outro mundo.
E o pior é que, dessa próxima guerra ninguém escapará porque as gigantescas esquadras de aviação vão se encarregar de levar essas bombas a toda a parte, na vanguarda, na retaguarda, nos campos de cultura, nas cidades, dentro das casas, no fundo dos porões. Como disse um cronista francês, “a aviação suprimirá as frentes de guerra e colocará toda a nação em linha de fogo”.
E para que se tenha uma idéia mais exata do que vai ser essa luta medonha, basta dizer que ela não será uma guerra. Isso de guerra é velharia. A do futuro vai se chamar, segundo nos assevera um jornalista inglês, “um duelo eletro-aero-químico”.
Não é bonito? “Duelo eletro-aero-químico”!
Exatamente como aquele sujeito que estava agonizando no leito, mas que ficou mais aliviado quando soube que ia morrer de uma “pneumo-tórax catalíptica” (porque seria uma vergonha morrer de indigestão ou de nó na tripa), nós também podemos ficar tranqüilos e satisfeitos porque iremos morrer num duelo eletro-aero-químico!
Já é um consolo...
Vício e Virtude
Não sei — mas não é difícil imaginar — o que aconteceu ontem nos Estados Unidos, durante os festejos comemorativos da revogação prática da lei Volstead.
Durante quase quinze anos a Norte América viveu, pelo menos oficialmente, e aparentemente, uma vida de virtudes celestiais. O álcool foi, durante esses largos anos, o inimigo feroz a que não se dava quartel e sobre o qual se desencadeavam todas as repressões possíveis e imagináveis. Impossibilitado de se embriagar, ou até mesmo de ingerir um inocente aperitivo, o povo americano passou a ser — “malgré lui ...“ — o povo mais virtuoso da terra.
O certo, porém, é que até a virtude tem os seus ônus. E os que decorreram dessa temperança angelical foram tão grandes que o Tesouro yankee, para auxiliar a existência da virtude, se viu transfeito em vítima heróica, suportando sangrias épicas para que o Estado pudesse combater o vício.
Porque a verdade, infelizmente, era muito outra. O povo yankee nunca se conformou com a sua dignificadora, mas desagradável, situação de abstêmio. Pode ser muito bonito, e muito grato aos Céus, banir-se o vício da face da terra. Mas é evidente que, sem o vício, a terra não seria terra, mas sim um paraíso — o que, logicamente, seria um desvirtuamento de funções. Se o mundo existe (como dizem os espiritualistas, que são entendidos nessas graves questões) para que a humanidade purgue os seus pecados na sua efêmera travessia por este vale de lágrimas, não se compreenderia um mundo sem vícios, sem pecados e sem crimes. O homem, tentando desvirtuar as finalidades da terra, praticava um atentado contra a vontade soberana de Criador.
Foi então que, para reintegrar o mundo nas suas legítimas finalidades, de modo a que ele cumprisse a sua verdadeira missão no universo, surgiram os “bootleggers”, com seu séqüito de “gangsters”. Suponho — contrariando uma opinião errônea que se tornou geral — que esses contraventores não vieram à liça para fazer fortunas. Não! Eles antes de mais nada, visavam apenas colocar o mundo no seu verdadeiro lugar, solicitando ao Vício, ao Pecado e ao Crime que voltassem a exercer na terra o seu mister soberano, dando ao mundo o seu legítimo caráter de mundo e não permitindo que o transformassem num paraíso.
E surgiram os “bars” clandestinos, as destilarias subterrâneas, e os célebres “speakeasies”, onde se falava baixinho mas onde se bebia em altas doses.

Enquanto aconteciam essas coisas consideráveis, o Tesouro, já com um prejuízo de 700 milhões de dólares, via-se na dura contingência de cavar, fosse onde fosse, outros tantos milhões de dólares para perseguir aqueles que, até com sacríficio da vida, desejavam reintegrar o mundo no seu papel imundo — o único que lhe compete desempenhar no orbe. E, como se tudo isso ainda fosse pouco, as distilarias, cervejarias, bars e botequins despejaram na rua, quando foram fechados, dois milhões de “chômeurs” muito virtuosos, — muito puros, cheios de santidade anti-alcoólica, mas, infelizmente, com estômagos ferozes que exigiam almoço e jantar. Não bebiam. Não comiam. Levavam a mais ascética das vidas e estavam no pontinho exato de entrarem no reino dos céus. Quem se recusaria a ir para o céu? Eles, desfilando em legiões pelas ruas e pelas estradas, não exigiam mais nada. Queriam, apenas, entrar no paraíso de barriga cheia, palitando os dentes e fumando um charuto. Mas, como não havia comida, como não havia nem sequer um palito, e como o Tesouro já andava pelas imediações da insolvência, não se encontrou outra saída senão revogar a “lei seca” e inundar o país de álcool.
Ontem foi o dia da desforra. O Vício foi solto e a Virtude encerrada.
Mas os americanos vão ver como o Vício é muito mais camarada que a Virtude...
Coisas do século
São Paulo goza, aliás merecidamente, da fama de ser uma cidade de iniciativas e, principalmente, de iniciativas negocistas. A luta pela vida assume, aqui, nesta urbe ciclópica, os seus aspectos mais expressivos porque quando se fala em luta, não se lança mão de um eufemismo ou de uma figura de retórica. É luta, mesmo.
Como nem todo o mundo pode arranjar empregos, vão-se inventando meios de vida honestos — vendendo cachorros no triângulo, ou organizando álbuns comemorativos, ou abrindo academias de dança, de box e de elegâncias, ou promovendo manifestações — enfim, ninguém gosta de ficar parado, banzando por aí, à espera de uma chuva de arroz. Se, em outros tempos, era costume cair maná do céu, como aconteceu àqueles felizes israelitas do Velho Testamento, hoje o mais que pode cair é chuva — e isso mesmo com muita parcimônia.
Há por aí muitos modos de viver honestamente, embora muita gente procure outros modos mais fáceis e mais rendosos — quando não acontece a polícia comparecer e desmanchar, impiedosamente, o “trabalho” alheio. Que toda essa gente ganha a vida bem, prova-o o fato de existirem por aí inúmeros acadêmicos... de corte e centenas de universitários... de box. Conheço um rapaz que, à falta da outra profissão para se apresentar em público, mandou imprimir seus cartões de visita, com esta indicação:
“Fulano do Tal, Bacharel em Ciências Terpsicóricas”.
E ele o era, em verdade, pois havia cursado uma Academia de Danças e conquistado gloriosamente, o seu diploma. Mas as pessoas ingênuas supõem, à vista do cartão que o sr. Fulano de Tal, “bacharel em ciências terpsicóricas” deve ser alguma coisa muito séria na vida, uma espécie de deputado à Assembléia Constituinte. Outro, com igual inteligência, mandou colocar na porta de sua casa uma placa assim:
“Bacharel Micquelino Veneta — diplomado pela Academia de Corte S. Januário”.
E o certo é que esse alfaiate possui uma clientela seleta e remuneradora, porque o nosso amigo Micquelino não é apenas um alfaiate — é um bacharel em alfaiataria. Ele vive tão bem como um seu amigo barbeiro que, nos seus cartões, faz questão de pôr, em letras bem visíveis:
“Nicola Nicodemus, artista tonsorial e depilador capilar”.
Mas, afinal de contas, não era disso que eu queria falar. Eu vinha tecendo graves considerações sobre as inúmeras profissões de emergência com que muita gente vai enfrentando a luta pela vida. Mas é evidente que não chegamos ainda à suma perfeição nesse assunto, como chegaram os Estados Unidos. Se nós por aqui vendemos até água, a água que é pública, como aconteceu, há dias, em Santos, na Norte América os jornais vivem cheios de anúncios religiosos. É claro que esses anúncios não aparecem com escândalo oferecendo alívio espiritual e salvação de pecados, a troco de alguns dólares. São discretos, sintéticos, mas convincentes.
No “Daily Mirror” de Nova York, encontro alguns:
“Dr. Alex MacIvor — Tyndal de Londres, Inglaterra — O cientista mundialmente famoso e autoridade em pesquisas psíquicas, falará sobre “O espiritualismo avisa o mundo”. Domingo, 12 de novembro, às 8 e meia, 136, West Street, 2.° andar”.
Outro:
“Missionário da Divina Providência — Mr. Moran, 2d Avenue, 2382. Domingo”.
E mais outro:
“Igreja Espiritualista Divina — Agnes Devine — 82d Street, 201 — Quintas, sábados e domingos”.
E por aí além. Não sei se essas igrejas e esses sacerdotes ganham alguma coisa com isso. Todavia, não deixa de ser curioso o fato de se fazerem nos jornais reclames desses serviços divinos.
Será que a humanidade anda tão materialista que é preciso anunciar cultos evangélicos e sermões religiosos, como quem anuncia sessões de cinema?
O evadido da liberdade
Quanto mais os sociólogos, os estadistas e os economistas, debruçados sobre toneladas de papel, inventam soluções para melhorar a desesperante condição da vida dos homens neste século dramático, mais os pobres homens se debatem em problemas insolúveis, angustiosos e trágicos.
Parece haver, nessa luta inglória entre a precária inteligência humana e as forças misteriosas do Destino, um intuito preconcebido de Quem de Direito, para deixar bem nítida e bem visível, a precariedade irremediável da sabedoria dos homens. Escrevem-se avalanches de livros, assinam-se toneladas de decretos, realizam-se infindáveis conferências, manufaturam-se dilúvios de Tratados, levantam-se estatísticas, alvitram-se soluções, preconizam-se reformas, — e, depois de todo esse esforço sobre-humano, a humanidade continua a se debater nos mesmos angustiantes problemas. A vida, que devia ser o prazer supremo do homem na face da terra, transformou-se, de há uns tempos para cá, numa coisa alucinante em que nem é bom pensar. Traições, falsidades, angústia, desespero, dor e, principalmente, miséria. Miséria implacável que se assenhoreou do mundo e que desafia, entre gargalhadas, a pretensiosa sabedoria dos governos, sejam estes liberais, fascistas ou marxistas. Todos os remédios contra ela são excelentes no papel. Postos em prática, porém, não são mais do que enervantes fracassos...
Ora, uma vez que a verdade é essa, já que o mundo se transformou nesse pandemônio dramático em que a luta pela vida assume aspectos mais heróicos e mais trágicos do que qualquer guerra de verdade, é natural que os cidadãos mais felizes sejam aqueles que, por qualquer circunstância, foram sonegados à sociedade — para o bem, dizem, dessa sociedade, mas realmente, para o benefício deles próprios.
Folheando um dos últimos números da “Nacion” de Buenos Aires, encontrei aí um caso que ilustra perfeitamente as minhas complicadas considerações. O caso, em suas linhas gerais, é este:
Um cidadão de Cordoba, chamado Ricardo Calvimonte Ferreira, estava na cadeia cumprindo uma pena qualquer. Devido, porém, ao seu excelente comportamento e a reiteradas manifestações de arrependimento por ele feitas, o juiz, dr. Wenceslau Achával, resolveu atender a um pedido que esse sentenciado lhe dirigira, no sentido de lhe concederem liberdade condicional. Calvimonte Ferreira foi posto em liberdade, munido do competente “sursis”.
Chegando aqui fora, Calvimonte, no maravilhoso deslumbramento que lhe causou a vida fora das grades, contemplando o céu muito azul, as árvores muito verdes e o sol muito brilhante, não percebeu, de pronto, a cilada em que caíra, ou melhor, a armadilha que ele próprio se armara. Somente alguns dias depois, quando sentiu a necessidade de lutar pela vida, de trabalhar, de ter contato com os outros homens nesta batalha feroz de todos os dias foi que Calvimonte, caindo em si, e raciocinando bem, teve saudades da cadeia. E correu ao juiz, pedindo-lhe, entre lágrimas, que lhe abrisse as portas do xilindró. E o juiz, achando sábias e justas as razões desse fugitivo da liberdade, expediu uma ordem para que o soltassem, declarando, após inúmeros “considerandas”:
“Revogar a liberdade condicional concedida ao sentenciado Ricardo Calvimonte Ferreira, pois ele se encontra na miséria, na impossibilidade de encontrar trabalho e, segundo declarou a este Tribunal, na iminência de cometer um novo crime para poder manter a sua subsistência”.
E o sapientíssimo Calvimonte voltou para o xilipe, onde deve encontrar-se, a esta hora, imensamente feliz por ter conseguido realizar esta façanha incrível: evadir-se da liberdade.
Sim, porque é preciso ter muito de sábio e muito de herói para conseguir-se fugir deste cárcere alucinante que se chama solenemente a Vida.
“Port-Tarrascon”
A comicidade das tragédias...
O leitor conhece, com certeza, aquele extraordinário “Tartarin de Tarrascon” de Daudet. Este livro, que já foi traduzido em todas as línguas apesar do seu argumento nitidamente regional, é uma das aventuras mais profundamente humanas que já se escreveram no mundo. Se a sua primeira parte é, apenas, a caricatura de um personagem, a segunda é o que se pode chamar, sem exagero, uma obra-prima de “humour”.
“Port-Tarrascon” é o drama da ingenuidade.
Iludidos por um tal duque de Mons — que não era duque, nem era de Mons — os tarrasconeses resolveram cotizar-se, certo dia, para comprar uma ilha maravilhosa no arquipélago malaio. O instrumento entusiasta, mas inconsciente, dessa “chantage” sem precedentes, foi Tartarin, que encaminhou as negociações com tal perícia que, dentro de pouco tempo, Tarrascon em peso resolveu mudar-se para essa ilha encantada do Pacífico.
E foi o que se fez. Dois navios se incumbiram de realizar essa emigração. E parece ocioso dizer que essa população rumava para esse porto longínquo com o entusiasmo e as esperanças com que o povo hebreu, há milênios, marchou para a Terra Prometida.
Uma leva chegou antes. Outra, depois. E, quando chegaram, desencadeou-se sobre todo aquele povo, que vendera seus bens e abandonara suas terras, a mais cruciante desilusão que pode desabar sobre os homens. A terra maravilhosa com sua cidade progressista, o seu porto, os seus monumentos, o seu comércio, a sua lavoura, a sua indústria e o seu clima paradisíaco — era apenas uma ilha agreste, pantanosa e híspida, povoada por selvagens papuas que já haviam trucidado a primeira leva de emigrantes. A emigração festiva e esperançada estacou, pávida e horrorizada, ante essa acabrunhante realidade. Atirados, como destroços de um naufrágio, nessa ilhota lutulenta e hostil, os tarrasconeses só tiveram olhos para ver, através a cortina de suas lágrimas, esse melancólico desmoronar de sonhos num recanto ignoto do oceano.
Não conheço, em literatura, nada tão profundamente dramático e amargurante. Homens, mulheres e crianças, abandonando definitivamente sua terra e desfazendo-se dos seus bens para correr em busca de uma cidade que lhes pertencia, porque eles a tinham comprado — e encontrando, apenas, uma ilhota áspera, coberta por uma vegetação de palude, povoada por uma fauna repelente, varrida por anfropófagos ávidos e castigada pelas chuvas que não tinham fim. É amargurante e trágico.
E, todavia, não há ninguém, por mais sensível que seja ao sofrimento alheio capaz de ler as peripécias extravagantes dessa aventura melancólica sem estourar de riso. Toda a tragédia moral dessa população aparvalhada diante da ilha, é abafada pelo grotesco infinito que reponta da infinita ingenuidade meridional dos tarrasconeses. O leitor tem vontade de chorar mas, instintivamente, sem saber porque, desata em gargalhadas.
Mistérios da vida ou milagres do “humor”?
* * *
O Brasil, nestes últimos três anos, está vivendo instantes de intensa dramaticidade. O destino de quarenta milhões de seres está sendo jogado na mais impressionante partida de que há memória nos nossos anais históricos. Há três anos que vimos lendo essa aventura amargurante, há três anos que vimos acompanhando os lances dolorosos desse drama sem par, dia por dia, numa sucessão de episódios cruciantes que deveriam encher do lágrimas os nossos olhos pávidos.
Entretanto, inexplicavelmente, sem saber porque, nós todos, tendo vontade de chorar, rebentamos em gargalhadas épicas!
Nós também, em 1930, compramos um “Port-Tarrascon”...
Os canhões do Papa
A porta abriu-se. E entrou um cavalheiro magro, arrastando uma perna reumática. Sentou-se ao meu lado: colocou sobre a mesa o chapéu e o guarda-chuva, tirou os óculos do nariz adunco, enfiou-o no bolso e falou:
— O senhor já viu algum canhão?
— Hein?
— Pergunto se o senhor já viu algum canhão.
— Já. Tenho visto muitos, inclusive alguns do sexo feminino.
— Do sexo feminino? Ué! Esses eu ainda não vi!
— Pois não perdeu nada. Nem queira vê-los.
— Mas, como eu ia dizendo... Já que o senhor conhece canhões, deve também conhecer-lhes a utilidade, não é assim?
— Assim é. Os canhões servem para despejar granadas sobre a humanidade.
— Muito bem. Está entendido, pois, que os canhões são máquinas de destruição, máquinas diabólicas, infernais. É ou não é?
— Parece que é.
— Parece, não! O senhor então duvida do poder maléfico desses terríveis “krupps” e “schneiders” que vomitam ferro e fogo para estraçalhar os homens?
— Eu não estou duvidando...
— Pois, muito bem. Não há quem possa pôr em dúvida essa evidência solar. Um “105” ou um “75” não tem nenhuma utilidade na terra senão aquela que nós já vimos: destruir! Estraçalhar homens, arrasar cidades, levar o desespero a todas as almas e semear o pavor em todos os povos. Ele é o mensageiro sinistro do ódio, criador de desesperos e de angústias, semeador da morte. A boca fumegante de um canhão, estrugindo em rebôos alucinantes e devorando homens com a insaciabilidade torva de um Moloch, faz-nos pensar, instintivamente, em infernos dantescos povoados de demônios desapoderados! Ele é, sem dúvida nenhuma, um servo do Satanás, realizando, para regalo do amo, uma obra tremenda de destruição e de morte! É ou não é?
Fitei, desconfiado, o meu estranho interlocutor. Ele me encarava tenazmente, com a fixidez alarmante de um paranóico. Balbuciei qualquer coisa vaga e imprecisa. Ele, cruzando as pernas prosseguiu:
— E Cristo?
Escancarei os olhos. Estremeci. Ele furou-me com dois olhos terríveis. Repetiu:
— E Cristo?
Pálido e pávido, balbuciei:
— Não compreendo...
— Oh! senhor! Estou lhe perguntando: que é que o senhor pensa de Cristo?
— Eu? Eu... não entendo bem... isto é... Penso que...
— Pensa como eu: que Cristo era contra os canhões!
— Não sei bem... Os Evangelhos não são muito claros nesse ponto...
— É lógico! Naquele tempo não havia canhões... Mas o senhor acha que Cristo aprova esses apavorantes morticínios realizados por essas máquinas infernais?
— Penso que não...
— Claro! Pois se ele disse: “amai-vos uns aos outros”, como poderia concordar com a existência dos canhões? Se ele falou: “crescei e multiplicai-vos”, como poderia permitir o uso dessas máquinas cuja única missão é dividir e diminuir? O senhor não acha que tenho razão?
— Tem. Mas... que relação existe entre uma coisa e outra, isto é, entre Cristo e o canhão?
— Oh! pois o senhor não lê os jornais?
— Confesso que os leio muito pouco.
— Pois os jornais noticiam que, no próximo dia 14 de abril, o mundo cristão vai comemorar o 19.° centenário da morte de Jesus.
— E então?
— Então, o Vaticano resolveu que, nesse dia, para dar-se o devido realce à grande data, as principais cidades do mundo darão uma salva de 19 tiros de canhão. O senhor não acha esquisito comemorar-se a morte d’Aquele que pregou a fraternidade entre os homens, disparando-se tiros de uma máquina infernal, diabólica, destruidora — autêntica mensageira de Satanás?
— Acho.
— Então, toque aqui! Ainda bem que encontrei um sujeito que está de acordo comigo!... “d bye”!
A culpa do “chômage”
O problema da falta de trabalho está criando dramáticas atrapalhações em todo o mundo. O industrialismo do século, realizado pela máquina, atirou os homens para o meio da rua e eles, não tendo outra coisa que fazer, entregam-se a distúrbios. A Europa deve ter, neste momento solene, uma média de 30 milhões de indivíduos de braços cruzados!
Mas isso é na Europa. No Brasil, ainda há pouco tempo, quando o “espírito revolucionário” andava solto por aí, apareceram uns cidadãos terríveis a bradar, com lágrimas nos olhos e soluços na voz, que era preciso salvar o povo da miséria e acabar cem as legiões de desempregados. Todos nós, a esse tempo, passeávamos os olhos ávidos em torno, à procura dessas legiões, e a única coisa que víamos era, apenas, a legião dos “sonhadores” que ficavam — e ainda ficam, e ainda ficarão — à porta das casas de loterias, à espera do resultado do “bicho”.
Ainda há pouco tempo, o Departamento Estadual do Trabalho declarava que o número de desempregados em São Paulo não ia além de duzentos. Apenas duzentos. E, todavia, os demagogos do “espírito revolucionário” andavam enfileirando zeros na cauda dessas duas centenas, de jeito a formar cifras impressionantes que eram agitadas na cara dos basbaques enquanto eles, antes de empregar os fabulosos “chômeurs” paulistas, iam-se empregando a si próprios.
Mas isso já é história antiga.
O que, porém, apesar de antigo, tem sempre um cunho de indiscutível atualidade, é o “chômage” europeu que só poderá encontrar uma solução na guerra que se prepara. Dizem os entendidos em assuntos sociais que as guerras se fazem para dar trabalho aos desempregados, mandando para o outro mundo os excedentes. Assim como se resolvem os problemas criados pela super-produção agrícola, atirando o excesso ao mar ou ao fogo, podem-se resolver os problemas criados pela super-produção humana, atirando os excedentes ao fogo das batalhas e à vala-comum das trincheiras.
O leitor há de achar tudo isso profundamente trágico e desumano. Mas é que o leitor não compreende as altas razões de Estado que criam essas soluções patrióticas. Um estadista diante de uma legião de “chômeurs”, só tem duas saídas: ou dar trabalho a essa gente ou mandar fuzilá-la, para evitar complicações futuras. Mas, como não há trabalho, e como o fuzilamento em praça pública, dá muito na vista, o mais acertado é arranjar uma guerrazinha. Esta resolve tudo em dois tempos.
Mas os pacifistas não pensam assim. O Papa, por exemplo, falando, há dias, a 450 desocupados britânicos, que foram em peregrinação até Roma, declarou-lhes:
“Se a Divina Providência vos privou de trabalho, fê-lo para o vosso bem. Estando sem trabalho agora, aprecia-lo-eis melhor quando voltardes a obtê-lo”.
Sua Santidade, como se vê, é sábio e consolador. Para o Papa, os ex-trabalhadores devem fazer como certos casais que discutem, brigam e separam-se, só pelo prazer de fazer as pazes depois. A solidão em que ambos ficam, enche-os de amarguras e de saudades. E a reconciliação, depois, surge como segundas núpcias, a que não faltam os dias deliciosos de uma deliciosa lua de mel em “reprise”.
Assim devem ser os desempregados: estão vivendo de saudades e de esperanças, o que não deixa de ser uma delícia sentimental. Mesmo porque já dizia o poeta:
“Como é bom ter perdido
Uma antiga meiguice,
Para poder depois recordar...”
O pior é que, atirando a culpa do “chômage” para as costas da Divina Providência, Sua Santidade deixa Deus numa situação complicadíssima...
Os homens fazem as burradas e a Divina Providência é quem paga o pato!
O “negócio da China” do Japão
Aquele drama estuporante de que falei ontem, a propósito da superpopulação que cria as guerras militares, como as superproduções criam as guerras econômicas, encontra, às vezes, soluções que parecem boas mas que, quase sempre, terminam mal. Ao contrário de Deus, que escreve direito por linhas tortas, o homem se compraz em escrever torto por linhas direitas. Quando este ser trapalhão supõe, com a maior candura deste mundo, que está palminhando uma trilha firme, pode-se ter a certeza de que, dentro em pouco, ele chega a uma conclusão inesperada e rude: estrepa-se!
Não porque ele tenha andado mal. Mas é que, pelas imediações, há interesses alheios de tocaia, prontos para criarem “casos” complicados e armarem distúrbios épicos.
Há uns meses atrás, um diplomata japonês, “passeando” pelo Ocidente, e entrevistado pelo “Boersen Zeitung” de Berlim, declarou que a crise econômica que asfixia o Japão neste momento solene, é devida, exclusivamente, à superpopulação e que a única solução para tão dramática conjuntura seria a conquista de novos territórios.
Ele não declarou de que forma se processaria essa conquista. Limitou-se a detalhar a situação agrária do seu país, onde proprietários rurais e camponeses pobres vivem em permanente conflito, exatamente porque as terras são poucas e os pretendentes são muitos. Daí, pois, a necessidade imediata de um transbordamento.
Essas coisas consideráveis passaram-se há uns poucos meses atrás. E agora, não sei se por artes daquele mesmo diplomata, realiza-se a tal conquista que, felizmente, foi feita sem efusão de sangue.
A Abissínia, o último império independente da África, assinou um convênio (ou coisa parecida) com o Japão, concedendo a este o direito de encaminhar para o seu território correntes emigratórias e produtos industriais. O “ras” Taffari, imperador da Etiópia, pôs à disposição da missão japonesa que ali esteve tratando do assunto, nada menos do que 1.600.000 acres de terras excelentes para a cultura do algodão.
Até aí nada de mais. A Abissínia, que é dona do seu nariz e das suas terras, julga, com esse convênio, ter “metido uma lança em África”, o que é duvidoso; o certo porém é que o Japão faz um negócio da China. Negócio tão invejável, que a Europa se julgou do dever de estranhar essa operação por intermédio de alguns jornais. O “Daily Herald”, de Londres, tratando do caso, escreve a certa altura:
“Essa notícia não deixará de inquietar a Grã Bretanha, a França, a Itália. A Abissínia desempenha o papel de Estado-tampão entre vastos interesses controlados por essas três potências”.
Como se vê, o negócio do Japão já está inquietando o imperialismo da Europa e não será motivo de estranheza se esse negócio for o prólogo de um golpezinho matreiro das potências para “protegerem” a “pobre Abissínia” contra o imperialismo do Oriente.(1)
E voltam à baila as declarações do diplomata japonês a respeito da crise, da superpopulação e da conquista de territórios, comentadas por um jornal europeu, com estas palavras interessantes:
“O raciocínio, então, é o seguinte: a superpopulação produz a crise; a crise produz a expansão; a expansão produz a guerra”.
E digam que este mundo não é uma delícia à beira mar plantada!
A Abissínia e a Austrália
Escrevinhando, ontem, sobre o “negócio da China” que o Japão fez com a Abissínia, disse que essa operação de alta sabedoria fora encarada na Europa com a mais indisfarçável inquietação.
A nós, brasileiros, que vivemos numa terra onde pode faltar tudo, menos terras, o caso se apresenta com todas as características de uma autêntica extravagância. Mas quem conhece a situação da Europa, com terras exíguas e esgotadas, e com uma população que aumenta vertiginosamente, o episódio assume feições inquietantes e sombrias. Os estadistas europeus vivem, hoje, como na canção, “dançando com lágrimas nos olhos”, sem saber onde enfiar as legiões de desempregados que entulham as ruas, promovem sarilhos e tiram o sono aos governantes. Daí o furor expansionista que atacou o velho mundo, sendo que os estadistas, hoje, não têm senão esta preocupação cabulosa: armar o povo, para avançar nas terras do vizinho. Mas, como todos eles precisam das terras do vizinho, o que sucede é essa situação patética em que todos eles se encontram, como metidos em becos sem saída.
É natural, pois, que, tendo o Japão feito uma conquista daquelas, pacificamente, sossegadamente, sem a menor discussão, a Europa tenha caído em transe cataléptico, estuporada de legítimo assombro ante a facilidade com que os nipões conseguiram aquela “África”.
Acontece ainda que, por altas razões que todos nós sabemos, as potências européias não gostam muito do Japão. O caso da Manchúria, por exemplo, foi visto nos “meios bem informados” da diplomacia, européia, não como uma finalidade do expansionismo nipônico, mas como “uma etapa do seu vasto plano”, como ainda há pouco efirmava o “Forthnightly Review”, de Londres.
“Nós nos enganaríamos estupidamente — escrevia esse jornal — se, no caso manchu, supuséssemos que o Japão procura defender os seus direitos nesse país. Não! Nós não nos iludimos: o Japão tem a intenção de varrer do Extremo Oriente todos os concorrentes brancos e o primeiro meio para isso, é a destruição do seu comércio”.
Como se vê, o caso é complicado. E o negócio com a Abissínia, por via do qual o Japão ganhou 1.600.000 acres de terra fértil, acabou de encabular a Europa. E vai daí, a Inglaterra conseguiu uma coisa mais ou menos parecida com a Austrália, arranjando 500.000 milhas quadradas no norte australiano, com o privilégio por 100 anos, para instalar ali duas companhias britânicas. Uma coisa banal, como se vê. Mas um jornal francês, noticiando essa operação, fê-lo com este título solene e berrante:
“Uma resposta indireta ao Japão”.
Com isso, a Europa ficou muito satisfeita, exatamente como uma criança que, vendo a criança do vizinho com um vestido novo, corre para dentro de casa e volta, depois, a exibir uma bola de borracha que ganhou na véspera. O Japão “vacou” a Abissínia e ficou muito lampeiro. Mas a Europa conseguiu a Austrália e:
— Eu tenho terras na África e você não tem!
— Mas eu tenho na Austrália e você não tem, tá-hi!
E ainda há quem ache este mundo triste...
Esquerda e direita
Parece que a socialistomania que andou grassando por aqui, entrou no seu período pré-agônico.
Entretanto, o socialismo tem coisas magníficas, pelo menos em teoria. Na prática, não sei o que poderia sair, porque não há nada mais problemático do que uma doutrina que brilha com fulgores ofuscantes. Até hoje ninguém conseguiu pôr em prática, de forma definitiva, as teorias sociais que um rabi chamado Jesus andou pregando na Palestina, há uns tempinhos atrás. Cristo, como os senhores sabem, era comunista. Foi isso, pelo menos, o que afirmou um preclaro deputado à Constituinte, sem se lembrar de que o nazareno rebelde dissera, certa vez, tomando a moeda de um homem que afirmava ser seu o “cobre” e se negava a pagar o dízimo:
— De quem é esta efígie que está na moeda?
— É de César.
— Então... dai a César o que é de César, e o que é de Deus, a Deus.
O homenzinho deu o dinheiro a César — que era supermilionário — e ficou na mais negra “prontidão”. Prova de que Cristo era comunista mas... não era muito...
Na Espanha, como se sabe, realizaram-se, há pouco, concorridíssimas eleições de deputados. E, como se sabe também, as direitas derrotaram estrondosamente as esquerdas. O “espírito revolucionário” levou uma esfrega épica do espírito conservador, apesar daquele estar de posse do governo, com a sua “máquina eleitoral” admiravelmente montada.
E que deu o socialismo à Espanha, durante o tempo em que lá imperou?
É curioso, a esse respeito, observar os cartazes de propaganda que forraram as paredes do país ibérico nas vésperas das eleições. Entre esses cartazes há um que não deixa de ser interessante: o que foi espalhado pela “Accion Popular” do Partido Republicano Conservador. Esse cartaz responde em parte à pergunta que fiz ali atrás e diz assim:
“Dois anos de governo da esquerda e dos socialistas quanto à ordem pública:
180 incêndios de templos e conventos;
2.650 bombas e petardos;
643 assaltos e motins;
638 feridos;
335 mortos;
além de multas e encarceramentos.
As despesas com a força pública foi aumentada em cerca de CEM MILHÕES pelos governos da esquerda”.
Como se vê, não foi um governo: foi um policiamento. E, entre as centenas de candidatos, um houve, independente, que não se perdeu em devaneios líricos ou sociológicos, para engazopar os eleitores. Pregou nas paredes um vasto cartaz com o seu nome, enfileirou uma porção de benefícios que já prestou e concluiu com estas palavras:
“MENOS CRÍTICA, MAIS FATOS!” “UMA COISA É FAZER DISCURSOS E OUTRA É DAR TRIGO!”
Mas não foi eleito. O povo gosta de trigo, mas também gosta de discursos...
O Japão de Pierre Loti
O “perigo amarelo” foi, durante muitos anos, um abantesma temeroso que encheu de pesadelos as noites da Europa. Mas esse “perigo amarelo” não se referia ao Japão. O caso era com a China. Os europeus, vendo aquele mundo de gente que se armava lá nos confins da Ásia, tremiam nos alicerces, prevendo invasões devastadoras, antevendo hordas sanguisedentas despejar-se, em avalanches arrasadoras, como os hunos do Átila ou os bandos de Gengis Khan, sobre a inerme civilização ocidental.
O Japão, a esse tempo, não assustava ninguém. Embora houvesse derrotado a Rússia, o Japão continuava sendo, para todos os efeitos, o país das geishas e dos crisântemos. Todo o mundo acreditava em Pierre Loti. E, quando se discutiam assuntos comerciais ou assuntos militares, o nome do Japão não aparecia, certos que estavam todos de que, daquele arquipélago longínquo, não adviria mal nenhum. O que havia por lá era apenas um povo pinturesco, inspirador de músicos e de literatos, um povo que vivia entre cerejeiras em flor, fazendo curvaturas amáveis e abanando-se com leques de papel de seda ou caçando borboletas. Tenho diante de mim um número da “Lectures pour tous” do ano de 1908 no qual se fala, com indisfarçável temor, no famigerado “perigo amarelo”.

O Japão já havia derrotado a Rússia, mas o tal perigo era ainda o chinês. Isso era bastante original porque, nesse mesmo número, havia um artigo sobre o Japão, no qual um turista de curtos vôos fazia literatura suburbana a propósito do “país das geishas”, derramando-se em considerações românticas sobre esse povo esquisito, cuja única ocupação na vida parecia ser a de fabricar caixinhas de laca e brinquedinhos de papel de seda.
Aliás, quem quer que conheça um japonês, não suporá outra coisa. Quando eu observo os nipões, e os vejo muito amáveis, muito cheios de curvaturas, como verdadeiros cartazes da Semana da Boa Vontade (“conserve o seu sorriso”) e falando com aquela entonação que parece fala de crianças, não posso supor que um povo assim seja capaz de levar a vida a sério. E, todavia, eles a encaram com uma tal seriedade que, hoje, apesar da curvatura e do sorriso, estão pregando sustos tremendos na pobre civilização ocidental.
As cerejeiras líricas continuam florindo; as caixinhas de laca ainda existem; os leques de papel, os quimonos de seda, os brinquedinhos de papelão ainda são feitos no Japão. Os homenzinhos sorridentes continuam a ser o mesmo povo que inspirou “Mme. Chrysantéme” e “Madame Butterfly”, isto é, o povo mais ingênuo e mais infantil da face da terra. Todavia, como tudo se aprende neste mundo, os nipões, com o mesmo sorriso encantador com que faziam seus leques e suas caixinhas inúteis, estão construindo couraçados temíveis, armando exércitos poderosos, e fabricando gases asfixiantes e bombas microbianas. A Europa então, começa a tremer. Mas, enquanto a guerra não vem, o Japão está na ofensiva industrial porque aprendeu com os ocidentais a manejar o “dumping”. Todas as nações estão sendo invadidas pelas fabricações japonesas que, já agora, não são apenas leques e crisântemos de papel, mas tudo quanto a indústria moderna tem produzido, e que eles oferecem a preços quase vis, semeando o pânico nas organizações industriais da Europa e da América.
Os cavalheiros românticos sofrem amargamente diante desse espetáculo, pois vai desaparecendo, aos poucos, o único recanto da terra onde ainda havia um pouco de poesia e de tradição. Eu confesso que sou um desses cavalheiros. O Japão moderno, que fabrica aviões arrepiantes e produz pintores futuristas, pode ser interessante para os japoneses. Mas eu não gosto. O Japão dos meus sonhos ainda é aquele de Pierre Loti...
Mas esse... não existe mais! Tanto não existe que ainda ontem, eu ouvi um cantor japonês, num disco, cantar um “fox trot”, ao som de um “jazz” infernal!
Isso, positivamente, é o fim do mundo...
O Herói Nacional
Como vocês sabem, houve em Roma, pouco antes de Cristo, um imperador que era o tipo do maluco: Caio César Augusto Germânico, mais conhecido por Calígula.
Esse cavalheiro, absolutamente estourado, era amigo de farras sensacionais, mas amigo, também, de crueldades inomináveis, gozando com o sofrimento alheio e sendo capaz de dar a vida por um espetáculo requintadamente bárbaro. A sua passagem pela vida assinalou-se por uma série de loucuras, cada uma pior do que a outra e, se a certa altura, não liquidassem sumariamente esse paranóico, ele teria imitado Nero incendiando Roma.
Mas o que tornou, principalmente, notável, esse imperial “Lampião”, foi a sua egolatria mórbida e a sua volúpia sádica de humilhar o povo. E, assim, tendo se canonizado a si próprio, declarando-se Deus, mandou construir um palácio para o seu cavalo “Incitatus”, fê-lo cônsul e obrigou o povo a render homenagens ao animal. E os romanos — coitados! — não tiveram outro remédio senão aplaudir e curvar-se diante do conceituado quadrúpede.
Isso, porém, aconteceu em Roma, há mais de mil anos. E nós, hoje, nestes tempos democráticos em que os governantes podem ser cavalos, mas em que os cavalos, absolutamente, não governam, ficamos, como o poeta, “pálidos de espanto”, diante desse povo altivo e bravo que, por força das circunstâncias, se via obrigado a reverenciar e a aplaudir um animal.
Todavia, convém não esquecer que aquelas reverências, aquelas homenagens e aqueles aplausos não eram espontâneos. Os romanos curvavam-se diante do bicho porque, se o não fizessem, iriam para os “sete palmos”, sumariamente.
Entretanto, hoje, neste século absurdo, acontecem coisas absolutamente inexplicáveis. Vamos ler este telegrama que nos veio do Rio anteontem e que foi publicado pela “Folha da Manhã”.
“O famoso tordilho nordestino “Mossoró”, que deve voltar ao Rio em março de 1934, teve uma formidável recepção em Recife, como não teve nenhum estadista pernambucano.
“Ao que sabemos, desde o porto de Recife até Olinda, que tem mais de uma légua de distância, o povo, em aclamações, obrigou os bondes, carros, automóveis e outros veículos a pararem, dando livre trânsito ao famoso tordilho.”
Como se vê não foi preciso existir um Calígula nestas terras morenas, para obrigar o povo a aplaudir o “Incitatus” nordestino. O próprio povo, “exponte sua”, num entusiasmo que atingiu as raias do delírio, ovacionou o ilustre cavalo, interrompendo o trânsito e obrigando os próprios automóveis a se recolherem à sua insignificância. Não sei se o nordeste, nestes últimos anos, se desiludiu tão profundamente dos seus estadistas, que chegou ao ponto de se vingar por esse forma “sui-generis”, rendendo ao colendo quadrúpede todas as homenagens que deveria prestar a um homem. O que sei é que a recepção do cavalo, a “formidável recepção” como diz o telegrama, assumiu o aspecto de um acontecimento nacional.
O cavalo, coitado! não tem culpa nenhuma desses excessos tropicais. Talvez ele mesmo tivesse arregalado os olhos, no mais justo assombro, diante de tanto ruido e tanto entusiasmo...
Há pouco tempo, era o Rio que ovacionava, com delirante entusiasmo um manipanço de papelão que, com o nome de Momo, desembarcou e percorreu a Avenida, sob palmas e flores. Agora são os pernambucanos, que numa recepção triunfal glorificam um cavalo.
Não era à-toa que Bilac dizia, num de seus livros infantis:
“Criança! Não verás país nenhum como este!”.
E não vê mesmo. Porque este país é, positivamente, do outro mundo!
Crônica eqüestre
O leitor que me perdoe a insistência...
Mas acontecem, na vida dos povos, certos episódios de tão intensa e profunda significação, que o cronista faltaria ao seu dever se, por qualquer circunstância, deixasse de registrá-los.
Um desses acontecimentos foi a chegada de “Mossoró” a Recife.
Todos nós já sabemos quem é essa ilustre personagem que atende por nome tão lindamente eufônico. Confesso, trêmulo de vergonha, que, até pouco tempo, ignorava esse nome. Eu já ouvira falar em Rui Barbosa, Oswaldo Cruz, Cotegipe, Pedro Álvares Cabral. Mas juro que não sabia quem era o sr. Mossoró. E foi, portanto, com as faces rubras de vergonha, que vim a saber, anteontem, que o ilustre sr. Mossoró não era senhor, embora tremendamente ilustre: era um cavalo.
Ora, um patriota que não tenho a subida honra de conhecer pessoalmente, escreveu-me ontem uma carta amargurada, na qual, após lamentar a minha ignorância, por eu haver, segundo ele diz, “achincalhado uma glória nacional”, termina afirmando, com absoluta convicção, que há cavalos que merecem poemas, mas que eu, cronista desprezível, não mereço senão desprezo, porque eu, sim! é que sou um cavalo!
O missivista, evidentemente, está enganado, porque eu, pobre de mim! não achincalhei coisa nenhuma desta vida e muito menos o ilustrado quadrúpede. Tanto assim é que, para dar o merecido relevo ao bravo Mossoró, transcrevi o telegrama em que se dava conhecimento ao povo, da chegada triunfal do herói.
E peço licença ao epistológrafo de mau humor para reproduzir aqui uns trechinhos muito interessantes da notícia do “Jornal Pequeno”, de Recife, sobre a recepção feita ao bravo Mossoró.
“Havia pessoas de todas as classes que se movimentam, também levadas por este sentimento de bairrismo tão nosso, para ver o assombroso cavalo”.
E o “assombroso cavalo” chegou, não abatido, mas, segundo reza a notícia, “com bom aspecto e pisando forte”.
Se se tratasse de um cavalo xucro, é evidente que pisaria de mansinho, nas pontas dos pés, ou melhor das patas. Mas com o heróico Mossoró não aconteceu isso, porque ele desembarcou pisando forte!
Continuemos a leitura:
“Ao ser retirado do “box” partiu da grande massa que estacionava no cais um intenso vozerio vivando o valoroso cavalo nordestino”.
Os senhores pensam que Mossoró estranhou o ruído? É porque os senhores não conhecem o valor do bravo cavalo. Senão, leiamos:
“Calmo, acostumado já aos ambientes movimentados, como o de hoje, deixou Mossoró as docas.. .“
Essa calma, que tão profundamente impressionava o jornalista pernambucano, o valoroso “crack” a manteve, imperturbavelmente, até mesmo em instantes dramáticos como este de que nos dá notícia o jornal:
“Entre as numerosas pessoas que estiveram hoje no cais do porto viam-se numerosas senhoras da nossa alta sociedade. Atracado o “Aranguá”, algumas delas dirigiram-se até o convés, onde estava o “box” de Mossoró, acariciando e afagando o grande “crack”, que parecia compreender, pela sua mansidão e calma, todo aquele regozijo”.
Ora, diante de fatos tão consideráveis, é com a maior amargura e a mais justificada tristeza que eu constato a ausência de verdade na afirmativa do missivista quando assegura que eu sou um cavalo. Infelizmente, desgraçadamente, sou apenas um homem.
Quem me dera ser cavalo numa terra destas.
O dia de descanso
Os evangelistas andam sempre muito preocupados com o dia da semana consagrado ao descanso. Uns afirmam que, descansando-se no domingo, é que se procede com acerto. Outros, contudo, divergem desse ponto de vista e afirmam, estribados em razões muito respeitáveis, que o dia do descanso é o sábado.
O domingo (“dies solis” latino, “sunday” inglês, “sonntag” alemão) é o dia que os antigos consagravam ao culto do sol. Isso não é novidade para ninguém, porque anda por aí, em todos os almanaques de fim de ano. Assírios, babilônios, egípcios, persas, gregos e romanos do tempo da zaragaia, precisando adorar alguma coisa, adoravam o Sol, que era o “expoente máximo” das coisas misteriosas. E consagrou-se o domingo como o dia da adoração, isto é, o dia da vadiação.
Mas isso era, evidentemente, um culto pagão. A Bíblia não falava em domingo, mas em sábado — que era o sétimo dia da semana. Mas Constantino que fora um general entendido em cortejar a popularidade, mal se pilhou no trono romano resolveu oficializar o culto pagão e, num édito famoso, ordenou a observância solene do domingo.
Asseguram os sabatistas e outros sectários do culto sabatino, que isso constituiu um ato atrabiliário desse general matreiro que não podia, com um decreto, revogar as leis de Deus. Se estas indicavam o sábado como dia de culto, não parecia lícito um militar agir niponicamente para declarar sem efeito uma legislação divina.
O que se percebe é que, desde aquele tempo, a perseguição aos judeus já não era brincadeira. No ano 264, por ocasião do concílio de Ladicéia, foi promulgado um decreto, ato, ou coisa parecida, afirmando que “os cristãos não podiam judaizar-se descansando no sábado”. E, como não havia outro remédio, todo o mundo passou a descansar no domingo.
Eu creio que o meu heróico leitor não tem nada que ver com isso. Nem eu. Mas é sempre interessante a gente recordar coisas antigas, para saber que a mania dos generais reformarem legislações vigentes, é coisa que vem desde o tempo em que se amarravam lingüiças com cachorro. Se é verdade que as leis divinas mandam a humanidade descansar no sábado, que era o sétimo dia, não é menos verdade que nós descansamos no domingo, que é o primeiro.
Nós, é um modo de dizer. Há muita gente que não descansa nem num, nem noutro dia. E há outra muita gente que descansa nos dois dias. Os norte-americanos e ingleses, que são muito ciosos do seu evangelismo, arranjaram o “week-end”, para que o povo descanse no domingo, mas aproveite também o sábado, ou melhor, a metade do sábado. Já é meio caminho andado para a obediência total às leis divinas.
Eu, pessoalmente, não me interesso pelo caso. Todavia, se alguém pedisse a minha opinião, eu diria que não tenho culto especial pelo “venerabili die soli”. Prefiro trabalhar no domingo e descansar no resto da semana.
Doutrinas econômicas
A propósito de umas considerações complicadas que fiz aqui sobre as estapafúrdias concepções da economia moderna, um meu “constante leitor” acaba de enviar-me um folheto interessante:
Antes, porém de explicarmos por que razão é interessante esse pequeno opúsculo, façamos uma digressão rapidíssima sobre esse negócio eternamente encabulante das barreiras alfandegárias. O folheto em questão trata do caso do papel e, como todos nós estamos cansados de saber, esse caso está desempenhando um papel extravagante na política econômica da República nova. Argúi-se, e com toneladas de razão, que não se justifica a monstruosidade de envolver-se num protecionismo nefasto a indústria nacional, com o único objetivo de, encarecendo o papel estrangeiro, obrigar-se o povo a não ler. A indústria sedizente nacional, não só de papel como de todas as outras coisas, produz artigos que custam, patrioticamente, mais caro que os estrangeiros. Muito mais caros! E para que não haja concorrência entre aqueles e estes, o governo, também patrioticamente, taxa fortemente os artigos alienígenas de modo que os indígenas possam viver. E o zé-povinho que é, em última análise, o bode expiatório de todas as maluquices alheias, vai patrioticamente se sacrificando.
Pois é a propósito de tudo isso que o folheto a que me refiro se estende em considerações de cabo de esquadra, procurando, com uma dialética extravagante e com sofismas estuporantes, justificar as sangrias que se praticam no organismo linfático do pobre povo.
O folheto diz, com a maior calma deste mundo, que o livro nacional é barato, baratíssimo, tanto que nos Estados Unidos se pagam muitos dólares por um “book” qualquer e aqui a coisa não vai a uma dezena de mil réis, com poucas exceções. A gente poderia dizer que um operário “yankee” ganha mais do que um intelectual brasileiro e que mais vale ser porteiro de cemitério em Chicago do que escritor célebre no Brasil. Mas não adianta dizer nada. O pior cego é aquele que não quer ver.
Onde, todavia, o famoso folheto revela uma impressionante coragem de afirmar é quando diz, com a maior candura deste mundo, que o “preço do papel não tem nenhuma influência no preço do livro nacional”.
O cidadão desavisado que ler essa afirmativa, há de supor que o livro nacional é impresso em pano de bilhar ou em folhas de zinco. Mas não é. Embora pareça estranho, o livro nacional é impresso em papel mesmo.
E por que misteriosas razões o preço do papel não influi no preço do livro? Isso é o que não se sabe porque o folheto não explica bem. Até hoje, sempre se soube que o custo da matéria prima é o que exerce influência primordial no custo da obra. Se um corte de casimira custa duzentos mil réis, um terno de roupa, fatalmente, logicamente, inevitavelmente, tem que custar mais de duzentos mil réis.
Mas o folheto assegura que não, que a matéria prima não influi... Como?
Um alfaiate a quem consultei sobre a nova doutrina econômica explicou-me porém, que o folheto é que tem razão.
— O senhor compreenderá facilmente a tese: um corte de casimira custa duzentos mil réis; mas qualquer alfaiate lhe fará um terno de roupa por cento e oitenta mil réis.
— Hein?! Como?
— Muito simples. O alfaiate lhe fará um terno de brim.
E é verdade. Com o livro pode dar-se o mesmo. O papel pode custar caro, mas os livros poderão sair baratos. Basta para isso que, em lugar de imprimi-los em papel, os editores não os imprimam.
— Não os imprimam em papel?
— Não os imprimam em coisa nenhuma. Desde que os livros não sejam impressos, não serão vendidos. E, não sendo vendidos, não custarão nada.
— E a educação do povo?
— Ora, meu caro! Que romantismo! O povo que se fomente...
Mercedes Simone
Um político desiludido, homem de grande cultura, dizia-me, há poucos dias, que abandonara a política porque preferia ser o primeiro cidadão do seu bairro, a ser o penúltimo dos estadistas.
E, com efeito, quem tem valor para ser o primeiro em qualquer coisa, não deve satisfazer-se com ser o segundo em outra coisa qualquer. Eu admiro mais o Friedenreich, que é o primeiro futebolista do Brasil, do que um político que seja o penúltimo do seu partido.
Sendo assim, eu tenho uma indisfarçável admiração por todos quantos, no meio em que se agitam, conseguem avançar e conquistar a vanguarda. Daí a minha admiração por Greta Garbo, Bernard Shaw, Carlito, Hitler, Mussolini, Paul Whiteman, Freud, Einstein, Doyen, Gandhi, La Argentina, Mercedes Simone...
Mercedes Simone é, como ninguém ignora, a mais legítima intérprete do tango argentino. E o tango argentino é, como também ninguém desconhece, a concepção melódica mais expressiva do sentimentalismo humano, de tal arte que, hoje, essa música dolente, amargurada e mórbida, se assenhoreou de todo o mundo.
Nascida ali, em terras platinas, crescida nos antros sinistros de La Boca, essa melodia dramática e empolgante, que chega a transcender os domínios musicais para surgir, muitas vezes, como uma psicose estranha que domina, empolga e amarfanha os espíritos mais infensos ao romanticismo, veio acabar na boca soluçante dessa morena aristocrática que, ontem conseguiu incendiar num entusiasmo sem limites, a tradicional frieza da platéia paulista.
O tango, já impressionante por sua própria natureza, torna-se um perigo trágico nos lábios de Mercedes Simone. Conversando comigo, ontem, no seu apartamento do Esplanada, dizia-me ela:
— Não sei se canto bem ou mal. O que sei é que eu sinto, profundamente sinto, aquilo que canto.
E, justamente porque ela sabe sentir o que canta, exatamente porque pode cantar o que sente, é que o tango, na sua boca, é uma coisa perigosíssima para os homens que, no duro materialismo deste século, procuram esconder as ilusões sentimentais que os nivelam aos mais impenitentes românticos do passado. Diante de Mercedes Simone, todo o materialismo rui; ela, sozinha, encheria um capítulo de Freud, pois os espíritos mais híspidos e austeros ficam curvados ante o “sex-appeal” irresistível daquela melodia patética que aguilhoa como uma nevrose ou amargura como um psicose.
Cantar tangos... Quem não os canta? Em Buenos Aires, mesmo, há intérpretes soberanas dessa música dramática: Ada Fakon, Dora Davies, Azucena Maizani, Libertad Lamarque... Nenhuma, porém, sabe “senti-lo” como Mercedes. E nenhuma, como essa moreninha romântica, sabe transmitir a outrem o sentimentalismo que a domina. Ela chega a ser impiedosa, pois o mais “blasé” dos seus ouvintes rende-se à indisfarçável evidência de que no fundo do mais indiferente, do mais hiperbóreo dos homens, há sempre um resíduo de sentimentalismo que, à chama de uma voz como a do Mercedes, se inflama e se incendeia, pondo-nos arrepios na pele e trazendo-nos lágrimas aos olhos.
Essa mulher é um perigo, porque, diante dela, não há quem não seja apanhado em flagrante delito de romanticismo...
Os presos...
Em Niterói acaba de suceder um fato que, na sua simplicidade, é um autêntico reflexo das coisas consideráveis que estão acontecendo, de há uns tempos a esta parte, nestas terras morenas onde canta o sabiá.
O juiz criminal da comarca da capital fluminense enviou, há poucos dias, ao interventor no Estado, um circunstanciado ofício devidamente datilografado e com a competente margem, comunicando ao sr. Ary Parreiras que suspendeu os serviços de sua vara, deixando em santa paz os criminosos, devido ao fato de não possuir papel, nem penas, nem tinta.
O juiz comunica ainda que a falta dessas coisinhas imprescindíveis para autuar delinqüentes vem sendo observada há muito tempo. Contudo, havia no cartório um desses obscuros patriotas que tudo fazem pela pátria, sem alardes nem atoardas: era o escrivão. Este extraordinário homem vinha, com um espírito de sacrifício nunca assaz louvado, aliviando-se, diariamente, de vários tostões das suas parcas economias e enfrentando as despesas da compra de pena papel e tinta, afim de que os serviços da magistratura fluminense não viessem sofrer uma dolorosa solução de continuidade. Todavia, há sacrifícios que vão além das precárias forças de um pobre mortal, mesmo quando esse abnegado é escrivão e é patriota. Foi o que aconteceu, infelizmente, com o extraordinário servidor da Justiça Pública. Esgotadas suas forças nessa luta ciclópica contra a crise oficial e esgotados, principalmente, os magérrimos tostões com que corria à venda da esquina para adquirir os papéis a as penas, o escrivão recuou, caiu esbarrondado sobre uma cadeira e declarou, ofegante, que não forneceria seus preciosos níqueis, nunca mais, para os serviços do cartório.
Diante da retirada melancólica do seu prestimoso auxiliar, e não podendo, por sua vez, desfalcar-se dos seus preciosos níqueis, o integérrimo órgão do Ministério Público, oficiou, incontinente, ao sr. diretor da Secretaria da Justiça, expondo o drama e solicitando de s. exa., um tinteiro, umas penas e alguns papéis.
O sr. diretor, porém, não se dignou atendê-lo. E, sem papel, sem tinta e sem caneta, o colendo magistrado fez uma última tentativa: escrever a lápis. Mas esbarrou num terrível obstáculo: não havia lápis. Foi então que, desesperado, certo de que seria incapaz de escrever com a ponta do dedo, o juiz fez a única coisa que podia fazer em tão dramática conjuntura: fechou as portas do cartório e foi para casa, deixando aos delinqüentes fluminenses este dilema: ou levam papel, pena e tinta para serem autuados ou a justiça se verá na contingência de, sumariamente pô-los no olho da rua.
Ora, num tempo destes, quando a vida aqui fora está assumindo proporções cataclísmicas e onde muita gente não sabe quando conseguirá jantar, a cadeia ainda é um magnífico refúgio para os pobres diabos que não têm emprego, nem amigos. Esses pobres diabos, principalmente, é que ficaram alarmados com os graves acontecimentos a que deu causa a falta de papel e tinta no tribunal fluminense. Se o juiz, como se tem visto, resolveu não autuar os delinqüentes, como poderão estes entrar para a cadeia e passar ali alguns anos fáceis e despreocupados, livres das noites ao relento e dos dias sem pão?
O caso é grave, como se vê, e os futuros hóspedes das cadeias fluminenses devem de estar, a esta hora, fazendo subscrições aflitivas para a compra de papel e tinta necessários para que seus processos deslizem pelos “canais competentes”, abrindo-lhes, a seguir, as portas sonhadas do casarão do descanso.
Porque o fato inegável é este: muitos pobres diabos só têm um sonho na vida. Comendo o pão que o diabo amassou, e comendo-o de vez em quando, em doses mínimas, a cadeia é lugar com que eles sonham, a Canaã dos fracassados. Ali, pelo menos, há casa, comida e sossego. Que mais se pode almejar num tempo destes?
Em Minas, numa cidadezinha longínqua, houve certa vez um pequeno acidente: o teto da cadeia abriu-se. E, como era verão, começou a chover lá dentro.
Os presos, indignados, reclamaram. Que era uma desumanidade, um desleixo, uma pouca vergonha, deixar delinqüentes bem comportados expostos aos azares das intempéries.
O carcereiro alarmou-se com o buraco, pensando ingenuamente, que os detentos fugiriam todos. E correu ao diretor, dando-lhe parte da avaria e da reclamação dos presos. O diretor urrou de indignação. Correu para lá. E, diante dos quinze segregados, berrou:
— Então vocês ainda se dão ao luxo de reclamar, hein? Pois fiquem sabendo: se quiserem telhado, tratem de consertá-lo! Corja de vagabundos! Consertem o telhado ou eu ponho vocês todos, já e já, no olho da rua!
E os “presos”, resignadamente, consertaram o telhado. Feito o que, voltaram aos seus colchões e ressonaram beatificamente...
Os hospitais e a música
— O senhor sabe que isto é um colosso!
— Sei. Não é novidade.
— Todavia, se me permite a liberdade de um reparo, eu dir-lhe-ei que há, por aí, muitas coisas inexplicáveis. O senhor não acha?
— Naturalmente. Os fenômenos espíritas, os...
— Oh! mas o senhor é transcendental: foi logo ao extremo! Eu não me refiro a manifestações sobrenaturais que escapam à curta compreensão da inteligência humana. Refiro-me a fatos terrenos, de fácil constatação.
— Por exemplo?
— A assistência hospitalar do Estado. O senhor acha que ela preenche seus fins?
— Não estou ao par da matéria. Esforço-me, mesmo, para conhecer os hospitais o menos que posso.
— É natural e humano. Mas observe como em todo o interior do Estado, o serviço hospitalar é o mais precário possível. O senhor, naturalmente, ignora esse fato.
— Completamente.
— Pois eu também o ignorava. Todavia, se o senhor, neste ano da graça de 1933, escrever às prefeituras do interior, pedindo-lhes informações de como empregam o dinheiro arrecadado durante o ano, tomará conhecimento dos fatos mais extravagantes. Quase todas elas não sabem o que fazer com as verbas orçamentárias que lhes entopem os cofres no fim do ano.
— O senhor não está exagerando?
— Hom’essa! Então o senhor supõe que eu viria aqui para contar-lhe histórias da Carochinha? Eu sou um cidadão incapaz de um exagero. Mas houve alguém que, desejando organizar uma estatística completa do serviço hospitalar no Estado, escreveu a todas as prefeituras do interior, pedindo-lhes informes necessários: qual a população do município, quanto arrecada por ano, quantos hospitais possui, quantos asilos, quantos sanatórios e, principalmente, de que forma tem sido empregado o dinheiro do povo. Pois meu caro senhor e amigo, nem queira saber o que saiu daí! Há municípios, com populações enormes que só têm um hospital. Outros, com populações não menos enormes, não têm hospital, nem asilo, nem coisa nenhuma deste mundo. Arrecadam cem ou duzentos contos do povo, mas quando este fica doente, morre por falta de tratamento ou tem de ir hospitalizar-se num município vizinho.
— Quando o município vizinho tem hospital.
— Quando o tem! Muitas vezes dá-se o caso de o ter, mas o doente, não tendo dinheiro para ir de auto, vai a pé. Isto é, não vai. Pretende ir, mas fica no caminho, para voltar mais tarde, transformado em defunto. Há um município que arrecada quase cem contos por ano e, desse dinheiro, gasta apenas um conto e duzentos com o grupo Escolar. Hospitais não existem; nem asilos. Não gasta um níquel além daquele conto e pouco. Interrogado se despendia alguma coisa com a higiene, limitou-se a responder: “nada”. E, como esse, há quase uma centena de municípios. Quanto gasta com hospitais? — “Nada. Não há hospitais” Quanto gasta com a assistência infantil? — “Nada”. Quanto gasta com subvenções a instituições de caridade? — “Nada”. Quanto gasta com a higiene? — “Nada”.
— E para que cargas d’água essas prefeituras precisam de dinheiro?
— Quem o pode saber? Houve um município, porém, que, interrogado sobre a aplicação que dava aos dinheiros públicos, alinhou também aquela série de “nadas” quando se referiu à instrução, à higiene e à assistência hospital, mas confessou, no fim, que a única verba que despendia era a de 100 mil réis mensais para a banda de música.
— É um prefeito inteligente.
— Eu também acho. Esse, se não dá hospitais ao povo, se não cuida da higiene, se não trata da assistência infantil, se finalmente, não garante a vida dos enfermos, ao menos está habilitado a fornecer música para o enterro.
— Já é uma vantagem...
Unidade nacional
A mania centralista que empolgou a mioleira de muitos patriotas, manifesta-se de vez em quando, mas, felizmente, sem conseqüências. Os honrados e ingênuos cidadãos que, com tão ruidoso entusiasmo, a preconizam, ainda não perceberam que o Brasil é um mundo fisicamente desintegrado — porque é mais fácil um excursionista ir à Bessarábia ou à Cochinchina, do que fazer uma viagem a Goiás ou ao Amazonas. É essa uma das razões por que o turismo nacional ainda está no domínio das aventuras e o motivo pelo qual não pode haver centralização administrativa numa terra que ainda se encontra em tão dramática conjuntura.
Há, como já disse, ingênuos patriotas que alimentam a lírica ilusão de que o governo central pode administrar o país inteiro — como se o governo central no Brasil fosse iluminado pela Santíssima Trindade e possuísse o dom da ubiqüidade. Mas não pode. E não pode por várias razões consideráveis, a primeira das quais é a desintegração geográfica nacional e a segunda são as complicadas aventuras da politicagem meridional. Faltam ao governo federal duas coisas essencialíssimas para e realização da façanha centralizadora: dinheiro para unir o Brasil — mas unir de verdade, com estradas de ferro e de rodagem, a não com discurseiras e patriotadas verbais — e tempo para desvencilhar-se da politicagem e dos “amigos”. Essa história de “unidade nacional” só será resolvida com realizações práticas, quando se tiver dinheiro bastante para ligar todos esses pedaços de territórios numa grande rede rodoviária e ferroviária; aí, então, será perfeitamente cabível a verborragia patrioteira.
Isso, todavia é um sonho de verão, mormente neste período ciclônico em que o Tesouro está reduzido à expressão mais simples, embora se procure “salvar o país da desagregação” — como dizem os patriotas, com verborragias inoperantes e inconseqüentes.
São Paulo, Estado que atingiu a um alto grau de civilização, olha com ironia para esses entusiasmos centralistas, pois sabe muito bem que o governo central, em via de regra, não faz nada desta vida em favor dos Estados. Aqui, pelo menos, há razões de sobra para se duvidar das amabilidades federais pois tudo quanto existe de grande, de útil, de eficiente neste pedaço de terra, é devido exclusivamente ao esforço e à tenacidade bandeirantes. Serviço federal em São Paulo é o que nós sabemos: só são perfeitas as repartições arrecadadoras do dinheiro paulista.
Um exemplo: um dia, o governo Epitácio comprou o prédio da Delegacia Fiscal. Um prédio muito bonito, muito adequado aos fins a que se destinava. Comprou, mas a repartição não podia funcionar. E não podia funcionar por uma razão ponderosíssima: o prédio era apenas prédio, isto é, soalhos, paredes e tetos. Os heróicos funcionários, que precisavam, urgentemente, desempenhar as suas nobres funções, não podiam fazê-lo porque não havia mesas, nem cadeiras, nem armários, nem arquivos, nem papéis, nem tintas, nem canetas, nem penas... O mais que aqueles abnegados servidores poderiam fazer, seria escrevinhar na parede, com pedaços de carvão. Mas isso não parecia correto. Razão por que, durante alguns meses de ansiosa expectativa, a repartição não funcionou. E foi preciso, para resolver o complicado “impasse” que o governo do Estado, misericordiosamente, abastecesse o próprio federal.
Isso, todavia, ainda é pouco diante de um outro caso singular, comprobatório da ineficiência central nas terras de Piratininga. Amanhã, se não chover, contarei uma história muito interessante que, como de costume, entrará por um ouvido, sairá por outro, e quem quiser que conte outra...
Uma história singular
Como nós íamos dizendo, os serviços federais nos Estados somente são perfeitos quando se tratam de repartições arrecadadoras. São Paulo sabe disso muito bem — e é essa uma das razões porque repele toda idéia de centralização administrativa.
O regime burocrático, que é um mal brasileiro irremediável pela tartaruguice que o caracteriza, assume, em certos momentos, aspectos inesperados que levam o povo — ou ao desespero das imprecações ou à irreverência das gargalhadas.
O caso que prometi contar passou-se há algum tempo. Mas é típico. Pode ser tomado, mesmo, come um paradigma de outros casos semelhantes.
Era assim: inúmeras pessoas, principalmente de firmas comerciais, tinham negócios, ou tinham amigos, em Santo Anastácio — cidade que fica no Estado de São Paulo na fronteira de Mato Grosso. E, naturalmente, aquelas pessoas escreviam cartas e enviavam-nas para aquela cidade. O Correio tomava essas missivas, metia-as num vagão da Sorocabana e levava-as até Presidente Epitácio. Aí paravam. De Presidente Epitácio a Santo Anastácio, a distância é de 63 quilômetros. Mas, como não havia estafeta de uma para a outra localidade, as cartas, não podiam seguir.
O leitor há de perguntar por que estranhas razões não havia estafeta nessa altura... E eu lhes direi, no entanto, que o ignoro completamente. Não havia. E, como não havia, as cartas não seguiam, isto é, seguiam mas para outro rumo, pelos “canais competentes”, de jeito a que não se quebrasse a deliciosa harmonia burocrática.
Assim, chegadas que eram a Presidente Epitácio, aquelas mal-aventuradas missivas sofriam uma baldeação e voltavam para Botucatu, fazendo mais um percurso de 532 quilômetros.
De Botucatu, após uma nova baldeação, elas seguiam para Três Lagoas, em Mato Grosso, vencendo outra etapa, esta de 60 quilômetros. Em Três Lagoas desembarcavam e ficavam à espera de condução por via fluvial. Tanto podiam esperar um dia, como esperar um mês, pois o transporte, ali, só era realizado mensalmente. Em todo o caso, um belo dia, aparecia a carangueijola fluvial, arrebanhava a correspondência e, após fazer mais uma dolorosa etapa de 140 quilômetros, ia finalmente, deixá-la em Santo Anastácio ponto final da angustiante e interminável peregrinação.
Como o leitor deve ter observado, a correspondência que devia fazer um percursozinho de 63 quilômetros, em pouco mais de uma hora, era compelida, por circunstâncias inexplicáveis, a fazer uma travessia de 1.273 quilômetros, gastando nisso quase dois meses!
É claro que o comércio não gostava desse turismo postal. E, procurando uma solução para a tragédia das cartas, achou que o melhor meio seria enviá-las por estrada de ferro, como encomenda. A solução era magnífica, pois, em menos de duas horas, as cartas chegariam ao seu destino. Mas foi nesse instante épico que a burocracia federal apareceu de novo, para dizer aos correspøndentes que as cartas não podiam seguir como encomendas, por constituir, tal fato, uma violação dos sagrados princípios e prerrogativas do serviço postal. E, assim, durante muito tempo, as epístolas comerciais paulistas que se dirigiam a Santo Anastácio, continuaram na sua estafante e angustiada peregrinação de 1.273 quilômetros, enquanto não se arranjava um estafeta para dar um pulinho de Presidente Epitácio até aquele lugar...
Uma delícia...
Coisas do Brasil...
Não, meus amigos, este país é, positivamente, do outro mundo! As geografias afirmam que ele se acha situado na América do Sul, num planeta chamado Terra, mas isso deve ser pilhéria de mau gosto.
Principalmente agora, depois que a “arrancada regeneradora” varreu o país, para “sanear” os nossos costumes, eu estou cada vez mais inabalável na serena convicção de que nós vivemos na Lua, em Marte, no Sol...
Na Terra é que não pode ser.
E isso, por várias razões consideráveis que o meu heróico leitor conhece de sobra e que seria ocioso, portanto relembrar novamente.
Mas, como a fertilidade tropical é um fato que ninguém contesta, os episódios extravagantes surgem todos os dias. Ninguém pode se espantar com as coisas excêntricas que acontecem porque, mal a gente depara um, não tem tempo de arregalar os olhos e escancarar a boca porque, logo em seguida, surge outro. Nós vivemos, nesta República pinturesca, num perpétuo “motu-contínuo do disparates”. Eu dou graças aos céus, por ter encontrado, enfim, qualquer coisa que me faça rir. Esta, sim, é a República dos meus sonhos...
* * *
Ainda ontem aconteceu um episódio assim: Um deputado chegou à Constituinte, tomou fôlego, pediu a palavra e falou.
Falou exuberantemente, cheio de patriotismo, de indignação e de suor. Contou esse egrégio congressista que, tendo percorrido o seu Estado, há poucos dias, de um extremo a outro, pudera constatar a revolta que lavrava no seio do povo, devido ao golpe que se preparava para a inversão dos trabalhos da Assembléia e conseqüente eleição do presidente da República.
Rubro de cólera, com os lábios a tremer de sacratíssima fúria, o colendo congressista contou que, em certo lugar, um eleitor, mais furioso e mais patriota que os demais, estava na iminência de rasgar o seu título quando ele, orador, interveio dramaticamente, exclamando como no 3.° ato de um drama patriótico:
— Não! Não façais isso! Os constituintes não votarão a inversão dos trabalhos, eu vô-lo juro! Isso seria uma indignidade!
O eleitor patriota, com lágrimas nos olhos, caiu nos braços do orador:
— Não rasgarei meu título senhor! Nós confiamos em vós!
E estava o esfogueteado orador nesse ponto do seu discurso, quando o líder de sua bancada aparteou-o:
— Não se esqueça que v. exa. tem compromissos partidários...
O orador não se perturbou. Empinou o busto altivo, ergueu a fronte inspirada, estendeu um braço viril e bradou:
— Estou defendendo o ponto de vista do nosso partido que, de certo, é contrário à inversão. Mas se o partido resolver apoiar essa inversão, eu..
(Aqui, o meu heróico leitor já está fremindo de entusiasmo cívico e com as mãos espalmadas prontas para aplaudir. A Assembléia, e o citado líder, pelo menos, ficaram com os nervos tinindo, nessa altura!)
— ... mas se o partido resolver apoiar essa inversão, eu, como político disciplinado, acompanharei o meu partido!
* * *
Eu só queria ver, depois disso, a cara daquele originalíssimo eleitor que queria estraçalhar o seu título...
E ainda existem por aí uns cidadãos cegos e surdos que vivem a falar mal da República velha...
Drama galináceo
Há poucos dias aconteceu no Rio de Janeiro, como os meus heróicos leitores devem estar informados, um fato absolutamente sensacional e imprevisto.
Esse fato, em suas linhas gerais, aconteceu assim: o coronel Pedro Ernesto baixou um decreto exigindo que todas as aves que estivessem à venda na muito leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro fossem seladas com 50 réis. E, como conseqüência imediata e intransigível daquela desnorteante exigência, os fiscais de Prefeitura carioca despejaram-se por toda a urbe, de um extremo a outro, vasculhando aviários, quitandas e galinheiros, e grudando nas pernas trêmulas dos assustados galináceos, um selo de imposto de consumo. As pobres aves, corridas de vergonha com aqueles pequenos, mas aviltantes quadriláteros de papel, grudados com cuspo vil nas suas pernas impolutas, cacarejaram terrivelmente, num protesto sem fim à incongruente exigência municipal. Mas isso de nada lhes valeu, porque somente dois dias depois, quando o exército de fiscais já havia devassado todos os galinheiros, aviários e quitandas da cidade, foi que se deu por finda a tarefa seladora. E tudo ficou por isso mesmo.
Antes, porém, desse acontecimento estranho, outro acontecimento estranhíssimo ocorrera. Segundo relatou o sr. Roberto Marinho, diretor do “O Globo”, na sua carta ao deputado Dodsworth, aquele valente vespertino fora impedido, pela censura, de publicar uma notícia policial a propósito de um roubo de galinhas de que fora vítima um ministro.
Não sei se, nesta altura, o meu heróico leitor, que além de heróico é perspicaz, já fez uma ligação entre os dois extravagantes acontecimentos. Se não o fez, eu peço licença para fazê-lo, evidenciando assim aos meus leitores mais uma das minhas especialidades: de Sherlock amador que, por meio de deduções e de ligações bem urdidas, reconstrói os episódios mais desnorteantes e desvenda os mais dramáticos mistérios.
Assim, pois, segundo os meus processos dedutivos, a história das galinhas deve ser assim:
O sr. ministro tinha uma invejável criação de galináceos de raça, em que avultavam as “dark-cornish”, os “plymouth-rocks”, os “rhode-islands” e outras aristocratas de pena e crista. Mas veio um ladrão, alta noite, embuçado no seu negro manto e, num gesto sacrílego, enfiou num grande saco os elegantes galináceos do sr. ministro e, sorrateiro como chegara, partiu, deixando o galinheiro deserto.
No dia seguinte o sr. ministro comunicou a dolorosa ocorrência ao sr. delegado do distrito, pois temia que àquela hora dentes vorazes e bocas impuras estivessem esmigalhando e saboreando a carne tenra e fidalga das suas galinhas aristocráticas. A polícia mobilizou-se e os jornais, sofregamente, iam publicar a notícia terrível quando a censura, com seu tremendo lápis azul, condenou o caso das galinhas à cesta dos papéis inúteis.
Por que?
Por uma razão muito simples. Se os jornais noticiassem o fato angustioso, o ladrão trataria de comer, imediatamente, todas as galinhas. Mas, não havendo notícia nos jornais, o pirata, na suposição de que o sr. ministro não dera importância ao caso, trataria de vender os galináceos e pôr uma farta pecúnia nos bolsos ávidos.
E foi o que houve. Os jornais nem puderam contar a história. A polícia tratou de agir. Mas, como a polícia era pouca, apelou-se para o sr. Prefeito. Este sabiamente, inventou a história dos selos — magnífico pretexto para que os fiscais devassassem todos os galinheiros, aviários e quitandas, à procura dos nobres galináceos ministeriais, examinando-lhes as pernas, que é o lugar onde melhor aparecem as veias e onde se pode ver se um galo ou uma franguinha tem sangue azul.
É essa a dedução que eu consegui tirar dos dois estranhos acontecimentos. Creio que não se poderá exigir melhor reconstituição histórica de um simples Sherlock amador.
Riqueza!
Nós todos, numa comovedora unanimidade, estamos cansados de saber que o Brasil é o país mais privilegiado do mundo. A fertilidade do seu solo, a benignidade do seu clima, o colorido do seu céu, o fulgor das suas estrelas, a policromia de suas aves, a sabedoria dos seus governantes — tudo isso já foi cantado em prosa e em verso por seus literatos e seus poetas.
“Criança! Não verás país nenhum como este! Olha que céu, que mar, que rios, que florestas!”
O nosso céu é mesmo diferente de todos os outros céus. Segundo afirmava Gonçalves Dias, grande astrônomo da poesia indígena, “nosso céu tem mais estrelas”. E tem mesmo. Se o leitor não se deu ainda ao trabalho de contá-las, faça-o. E constatará inflado de orgulho, que as nossas estrelas são em muito maior número que as estrelas dos outros — embora elas não nos sirvam para coisa nenhuma desta vida, porque, num tempo deste, é preferível um litro de gasolina a todas as constelações siderais. Há rapazolas que asseguram, com mel na voz e languidez nos olhos, às suas terníssimas namoradas, que são capazes de ir ao infinito e de lá trazerem uma estrela, para enfeitarem, com ela, os seus cabelos negros... A verdade, porém, é que eles não vão ao infinito, e o mais que trazem à amada, de vez em quando, é um prosaico saquinho de bombons.
Todavia, se o lindo azul dos nossos céus e o fulgor diamantino das nossa estrelas não nos prestam o menor serviço — a não ser para as rimas dos poetas e para os devaneios dos namorados — temos a riqueza da terra, que é uma das coisas mais assombrosas do universo.
Já o primeiro escriba da nossa história, o espantadiço Pero Vaz Caminha, escrevendo ao seu Rei e Senhor, afirmava que a terra aqui era tão boa que, “em se plantando”, tudo ela daria. E dá.
Jéca Tatu, grande entendedor dessas coisas, compartilhava a mesma opinião do epistológrafo luso, quando manteve, certa vez, o seguinte diálogo com um cidadão que pretendia comprar umas terras na alta Sorocabana.
— Diga-me uma coisa: estas terras aqui parecem ser boas, não?
— É...
— Aqui dá café?
— Quá! Num dá!
— E algodão?
— Num dá também.
— Hom’essa! E cereais? Feijão, arroz...
— Num dá, não.
— Isso é o diabo! E você já plantou alguma dessas coisas?
— Ora, seu doutô! Prantando, dá!
E dá mesmo. Tudo. O essencial é semear para colher, porque “a terra é dadivosa e boa” e recompensa qualquer esforço... “em se plantando”.
Todavia há uma coisa que não precisa plantar-se. São as florestas. Árvores gigantescas que fornecem variedades infinitas de madeiras, enchem esse mundo misterioso dos sertões brasileiros, estendendo-se por léguas e léguas de terra, descendo pelos vales, entupindo as grotas, galgando serranias, derramando-se pelas encostas... Há madeiras de todos os jeitos, formas, cores, consistências... Madeiras para todos os usos e para todos os gostos... O essencial, aí, não é plantar — mas escolher.
Isso é que nos dizem sempre os patriotas.
Mas — ai de nós! — isso não é verdade. Nós não temos nada desta vida, a não ser o azul cerúleo do firmamento, o brilho adamantino dos astros e o verde rutilante do mar. Temos poesia, apenas...; Temos aves canoras, (“as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá... “Nossas várzeas têm mais flores”, “nossa vida mais amores”). Temos a Guanabara, “jóia engastada por Deus no colo da Pátria”, temos a cabocla cor de jambo, com olhos que valem mais que todos os poemas do universo... Temos paisagem, poesia, pitoresco...
A Comissão Revisora de Tarifas discutiu, ontem, um caso que ilustra a poesia nacional. Foi o caso das fábricas de lápis que importam madeira norte americana. Ficou-se sabendo, com o mais justificado espanto, que todas as formidáveis, ciclópicas florestas nacionais só têm uma utilidade: fornecer paisagem e inspirar poesias. Quando se quer fabricar um lápis, é necessário correr-se ao estrangeiro e comprar madeira. Não sei se a madeira nacional não presta ou se os fabricantes de lápis não querem desarrumar a paisagem brasileira, derrubando árvores.
O certo é que a madeira do lápis vem de fora. A madeira e a grafite.
Em todo o caso, ainda há compensações. Porque, nos lápis que se fabricam por aqui, apenas a madeira, a grafite e o verniz são estrangeiros. O resto, felizmente, é nacional.
Getúlio usurpador!
O sr. Maurício de Medeiros, na sua crônica de ontem, para a “Gazeta” teve a simplicidade de espantar-se com as notícias que leu a propósito da chegada do eminente senhor Oswaldo Aranha a Nova York. O busca-pé da revolução desembarcou na cidade dos arranha-céus, com o mesmo “sans façon” petulante e palavroso com que costuma desembarcar em Porto Alegre, fazendo visagens e dizendo asneiras.
O sr. Maurício de Medeiros ficou chocado com a cena patusca da chegada, descrita em tom pilhérico pelos repórteres nova-yorkinos.
Eu contudo, não me admirei. Ficaria, espantado, de boca bem aberta e olhos arregalados no mais pasmado dos assombros, se o sr. Aranha chegasse a Nova York como um diplomata e não como um artista de cinema. Chegando como chegou, confessando sua ignorância aos jornalistas e escandindo aquele “vunderfull” arrepiante, o sr. Aranha esteve à altura do seu próprio espírito e nem sequer chegou a bater o seu próprio recorde de incontinência de gastos e de linguagem.
Ainda há pouco tempo, o jornalista argentino Jorge Luque Lobos, enviado especial de uma grande revista portenha, esteve no Rio e resolveu entrevistar o sr. Oswaldo Aranha. Foi à casa do “el novio de la revolucion” — que é como o periodista buenairense chama o sr. Oswaldo, apesar do sr. Oswaldo ser, hoje, um dos maridos felizes da revolução — e aí, num palácio situado quase no cume do Corcovado, um pouco abaixo do monumento ao Cristo Redentor, o sr. Aranha desandou a falar sobre rádio — porque o sr. Oswaldo fala sobre tudo o que quiserem...
O que ambos falaram a propósito de rádio não nos interessa agora. O interessante foi que o loqüacíssimo sr. Oswaldo, “en la serenidad de su mansion proxima a las nubes”, desencadeou a língua e desandou a falar sobre a revolução de 30. E diz o jornalista platino:
“Evocando aqueles trágicos momentos, en los quales las manos del lider se crispaban convulsas sobre dos granadas, repite una frase suya, admirable e unica: — Los hombres tienen destino o carécen de el. Los primeros pueden hacer todo lo que quieram para eludirlo, pero no lo conseguirán. Los segundos enloqueceran por tenerlo e no llegarán a ninguna parte”.
O jornalista contempla o sr. Aranha, pasmo. Aquilo era uma alusão transparente ao sr. Getúlio que escamoteara a presidência da República ao sr. Oswaldo.
Sim senhores! Eu não estou inventado. É o jornalista argentino quem o diz, e di-lo com a autoridade de quem confessou o “noivo de revolução”. Se não acreditam ouçam:
“Su destino fabuloso lo lanzaba a la presidencia de la República a los treinta y seis años y Getulio Vargas, menos inteligente, pero más astuto, puso la piedra en el camino”.
Leram bem? Pois, aí está. É isso mesmo. Mas pensam que o sr. Oswaldo ficou quieto? Qual nada! Vingou-se largamente do senhor Vargas, dizendo estas coisas piramidais a um jornalista estrangeiro, para serem publicadas, com grande destaque, numa revista que é lida em toda a América Latina:
— “Con Getulio — nos dice Aranha — discutimos siempre. El me atribuye una tremenda impulsividad. Suele decirme:
— Mira, Oswaldo, de cien casos que se te presentan a resolución, tu resolverás los cien imediatamente e errarás en noventa.
— “Ajá! respondo. Creo acertada tu observación, poro te diré; esos mismos cien casos se te apresentan a ti, Gotulio e no resolves ninguno. Dejas que el tiempo lo haga, todo. Con lo qual yo, que erré en noventa, te llevo vantaja, porque tu yerras más tarde en los cien... — Ni uno menos”.
A seguir, Oswaldo conta que, aclamado pelo povo do Rio, para presidente da República, Getúlio deixou passar o tempo e acabou empolgando a presidência. E o jornalista argentino conclui:
“Pero, desde un recodo del Corcovado, restalla la frase de Oswaldo Aranha: “Se podrá hacer todo lo que se quiera para eludir al destino de un hombre, poro no se conseguirá”. Y eso es la pesadilla de Getulio Vargas, cuyo paso por las calles de Rio de Janeiro sólo despierta el eco de los clarines de los guardias rojos. Lo he presenciado”.
Vocês não acham tudo isso fantástico, inconcebível? Getúlio, matreiramente, escamoteando a presidência das mãos de Oswaldo, e o povo do Rio, emocionado, a hostilizar Getúlio porque quer Oswaldo! Ainda uma vez lhes afirmo que não estou inventando. Essas coisas consideráveis foram publicadas no número 73 de “Sintonia”, de Buenos Aires, em data de 15 de setembro de 1934, em quatro páginas impressas em rotogravura e ilustradas com vários retratos do sr. Aranha, do sr. Getúlio e duas vistas panorâmicas do Rio de Janeiro.
Diante de tudo isso, o “vunderfull” é pinto!
Subscrição
Quando Bilac dizia, num de seus livros infantis,
“criança! não verás país nenhum como este!”
sabia, perfeitamente, que isto é mesmo um país das Arábias e só encontra símile no mundo da Lua. Tudo quanto é absolutamente impossível de acontecer em qualquer recanto da terra, acontece aqui — com a maior naturalidade deste mundo.
Ninguém se espanta mais. Nós já estamos tão habituados às pitorescas tarrasconadas deste país essencialmente extravagante, que ninguém mais acha graça nisso tudo. Pelo contrário, todos nós olhamos para essas pantomimas com a sisudez e a gravidade de quem assiste a uma conferência científica. E é isso, justamente, que torna a “realidade brasileira” mais intensamente grotesca.
Quando terminou a Revolução paulista de 1932, um jornal do Rio Grande do Norte, “A República”, de Natal, publicou no seu número de 13 de outubro daquele ano, um artigo que eu peço vênia, licença e permissão para reproduzir neste cantinho doutrinário. O artigo é muito comovente e diz assim:
“O NORTE EM SOCORRO DE S. PAULO
Subscrição da “A República” em favor do povo paulista
O norte que, com as armas valorosas dos seus filhos, se levantou como um bloco de granito para sufocar o levante criminoso de São Paulo, assiste agora, com o maior sentimento de tristeza, a situação em que se debate o grande Estado sulista, dentro da própria miséria cavada pela ambição dos seus filhos que levarem o país à mais inglória luta fratricida.
Agora mesmo o general Álvaro Tourinho, presidente da Cruz Vermelha, lançou um apelo veemente aos interventores de todos os Estados no sentido de acorrer o povo brasileiro, sempre generoso e grande no seu civismo, em socorro da população paulista vitimada pela guerra inominável por ela própria desencadeada.
O povo nortista, que combateu a São Paulo rebelado contra as instituições republicanas, abre-se agora num movimento que cada vez mais o exalta, para mostrar que jamais menosprezou aquele povo irmão, trabalhador e culto, quando nas suas jornadas em busca de engrandecimento da pátria.
A “A República”, expressão do sentimento potiguar alista-se entre os que mais sinceramente vão trabalhar para o êxito desse grande movimento, e abre pelas suas colunas, uma subscrição pública em favor de São Paulo.
A diretoria do conjunto “Alma do Norte”, comunicou-nos que, desejando participar desse movimento em prol do povo paulista, levará a efeito no próximo dia 24 de outubro, um grande festival no Teatro Carlos Gomes, cuja renda bruta será entregue à redação desta folha.
Esse gesto dos nossos conterrâneos que compõem aquele conjunto artístico, merece um registro especial porque muito bem representa os nobres sentimentos da mocidade potiguar”.
Como se vê, eram nobilíssimos e comovedores os intuitos filantrópicos do bravo povo nordestino que, como se vê, foram mais uma vez iludidos pelos “regeneradores” dos nossos costumes.
Acontece, porém, que neste país tudo acaba em anedota, exatamente como na França “tout finit par chanson”... É claro que eu não vou contar anedotas ao meu heróico leitor pois não desejo afugentá-lo destas linhas. Mas, conforme tive oportunidade de explicar há poucos dias, a renda da taxa de Educação arrecadada em São Paulo, na importância de mil e quinhentos contos, foi, em grande parte, dar um passeio pelas paragens nortistas e não voltou mais. E o produto da filantrópica subscrição potiguar, em benefício dos paulistas, até agora não chegou a estas paragens.
Por onde andará esse dinheiro todo? O que saiu dos bolsos dos nordestinos e o que se evaporou do Tesouro paulista?
É bom providenciarem sobre o caso e mandarem urgentemente alguns cobres para cá, porque nós já estamos de tanga!
Paralelismo
Um jornal parisiense publicou, há dois meses um curiosíssimo artigo da autoria de Jean Ducrot, com este título sugestivo: “Stavisky et ses amis”. Nessas observações, o articulista francês estuda e famoso “caso” demorando-se na análise psicológica, não do pirata judeu, mas dos seus amigos... Porque, como não se ignora, piratarias dessa ordem só podem ser levadas a efeito com o auxílio desinteressado e magnânimo de camaradas.
Ora, o staviskysmo nacional também está se apresentando com aspectos idênticos. Nas minhas graves e ponderadas notas de ontem, tive a subida honra de transcrever aqui um trecho da carta que o honrado sr. ministro da Fazenda dirigiu ao honrado sr. interventor gaúcho, e na qual aquele aconselhava a este: “Tudo isso deverás combinar com o nosso amigo Meristany”, etc.
Não sei se a combinação foi feita — o que, aliás, não nos interessa. Todavia, o “Globo” de ontem, tratando desse burlesco “affaire”, reproduz uma carta que o supracitado Maristany enviara a Hermes Cossio, na qual se encontra este “morceau du roi”: “Ontem estive com o nosso amigo e digo-te que estou encaminhando novo e melhor negócio”. E o “Globo”, candidamente, faz esta interrogação ingênua: “Quem será esse “nosso amigo” de Maristany e de Cossio?”
Pergunta absolutamente despropositada porque, afinal de contas, nós não temos nada que ver com isso, nem o simpático vespertino carioca, nem eu. Os amigos são para as ocasiões. O que se pretende aqui, nestas graves considerações de alta sabedoria psicológica, é registrar apenas o paralelismo que se encontra entre o staviskysmo francês e o nacional — coisa que muito nos orgulha porque, como se está vendo, o Brasil progride cada vez mais, a ponto de criar “affaires” tão importantes como os estrangeiros. A nossa terra é tão dadivosa e boa que, em se plantando, nela tudo dá. Mas Pero Vaz Caminha se enganava apenas num detalhe: a nossa terra tudo dá, mesmo que não se plante. É a terra das gerações espontâneas.
Os casos nascem sem se saber como e os “grandes financistas” aparecem, com idoneidade inatacável e amigos dedicadíssimos. O que vem provar que, na França como no Brasil, está sem efeito o rifão que reza: “amigos, amigos, negócios à parte...“
Mas não é apenas nesse ponto que os dois casos se assemelham. Quando, na França, se procurou saber, após a morte de Stavisky, a quanto montavam os seus bens particulares, e se realizou uma devassa em sua casa, foram encontrados apenas 14 francos e uma boneca esfrangalhada. Os 640 milhões estavam reduzidos a menos de vinte mil réis.
Aqui, também, segundo noticiam os jornais de hoje, os peritos que avaliaram os bens do casal Cossio, que está se desquitando, estimaram-no em um conto de réis apenas.
O rombo de cinqüenta e tantos mil contos ficou reduzido, não se sabe por que estranhas manigâncias, a dez centenas de mil réis.
Como se vê, em tudo os dois casos se assemelham. Razão de sobra, pois, para que nós todos nos enfunemos de legítimo orgulho, contrapondo, aos bônus de Bayonne, as cambiais do Rio Grande e colocando, diante de Sacha Stavisky e seus amigos as figuras grandíloquas de Hermes Cossio e seus camaradas.
Se, desta vez, a Europa ainda não se curvou ante o Brasil, podemos afirmar, de cabeça erguida, que o Brasil também não se curvou diante da Europa. Estamos taco a taco.
Os equívocos
O ilustre general P. Góes falando a um jornal a propósito do incidente havido com o interventor Pedro Ernesto, declarou que o que ocorrera fora apenas “um equívoco”. Como “equívoco” fora o que sucedera anteriormente com o general Flores da Cunha e com várias outras personalidades. E assim concluiu o bravo general:
— Tudo o que acontece não tem passado de equívocos...
E, em verdade vos digo, leitores amigos, que quando o senhor general afirma que na República Nova não há incidentes, nem crises, mas apenas equívocos, é porque o senhor general sabe muito bem que lobo não come lobo e que sururus em família não se chamam conflitos, mas apenas desavenças domésticas que terminam quando chegam visitas.
Desde aquele momento solene em que o governo central tentou um golpezinho em Minas, para apear do poder o senhor Olegário Maciel, e desde o momento igualmente solene em que o supra-citado senhor Olegário Maciel resolveu não ser apeado do poder — a República Nova descobriu uma fórmula cômoda e simplista para fugir às responsabilidades: fora um “lamentável equívoco”.
Não se soube ao certo — e possivelmente nunca se saberá — em que consistiu aquele engano deplorável, isto é se se pretendia depor o sr. Olegário ou se o caso era outro. Não se sabe de quem foi o equívoco, se do senhor Olegário que pensou que iam depô-lo quando se tratava de uma manifestação de apreço, ou se dos emissários do centro que, indo realizar a manifestação de apreço, tentaram depô-lo. É possível que, nesse encontro, no momento em que alguém tivesse levantado um braço enérgico para iniciar um discurso de saudação, alguém tivesse suposto que esse braço fosse arrojar uma bomba. E daí, naturalmente, o equivoco.
Mas tudo isso, afinal, já se passou. Como também se passou o incidente com o general Flores da Cunha, outro “lamentável equívoco”, pois o general não pretendia manter a ordem fora das suas fronteiras como a princípio supôs o seu colega P. Góes. O que ele pretendia era manter a ordem por fora, do lado de dentro, desde que a desordem interna se projetasse exteriormente na fronteira de dentro pelo lado de fora.
Esta explicação está um pouco incompreensível e eu, que a escrevi, não sei bem o que quis dizer. Mas foi assim, exatamente, que se passaram os fatos, dando origem, como se viu ao “lamentável equívoco” número dois.
Mas, como com muita finura observou o general P. Góes, não foram esses os únicos equívocos da revolução. E não foram mesmo. O caso do câmbio negro, a “alta operação financeira” da banha, a camaradagem revolucionária da Caixa Econômica, o arranha-céu da seca do Ceará e outros almoços semelhantes, tudo isso são equívocos. Os bravos cidadãos que se metem nessas empreitadas cívicas, não o fazem por mal — isto é, não agem com intuitos menos confessáveis. Vão sempre com a melhor das intenções. Mas enganam-se! E aí é que é o diabo!
Ainda há pouco, o sr. Juarez Távora declarou que todo o dinheiro do Brasil fora gasto. Não havia um níquel sequer, nem para comprar uma empadinha de segunda mão. Mas, como frisou, esse dinheiro fora gasto na “defesa do patrimônio nacional”. Como se vê, gastaram-no com a melhor das intenções. Mas, como o patrimônio nacional, apesar disso, continuou sem defesa, constatou-se logo que houvera outro equívoco.
Que culpa têm eles? Nenhuma.
Sucede com esses prestantes cidadãos o mesmo que sucedeu com um sujeito que, entrando em casa, deparou a esposa nos braços de um desconhecido. Puxou o revólver e matou-os. Em seguida, observando melhor, notou que se enganara de quarto e matara um casal honradíssimo. Pelo que, o distraído cidadão tirou o chapéu, curvou-se diante dos cadáveres e balbuciou:
— Desculpem... Foi um equívoco...
E fora mesmo, coitado!
Os maus alunos
Ainda bem que, para felicidade geral de todos nós, o advento do regime constitucional não paralisou a língua dos próceres do espírito revolucionário. Esses excelentes cidadãos continuam, galhardamente, a deitar falação e a ilustrar o nosso espírito tão ansioso de saber.
Ainda anteontem, o honrado senhor José Américo teve a gentileza de conversar com um jornalista, dizendo coisas de alta e profunda sabedoria, graças às quais fiquei sabendo que eu tinha várias toneladas de razão quando, há mais de três anos, escrevinhei aqui umas graves considerações sobre a ineficiência da gente nova nos serviços públicos. Nessa época, andavam por aí alguns cavalheiros misteriosos desancando os velhos e afirmando, com absoluta convicção, que a época era dos novos. “Gente nova!” era o grito de guerra que, então, se ouvia.
Foi nesse instante épico que eu apareci, tímido e só, pedindo vênia, licença e permissão para, com a minha débil voz, discordar da tese. Os negócios públicos não são, afinal de contas, barraquinhas de quermesse onde os cavalheiros de boa vontade vão fazer experiências de tiro ao alvo, para ver se acertam. É de mister que os dirijam homens que encaneceram nesses serviços e não romancistas e granadeiros que, cheios de boas intenções, são vazios de entendimento nesses complicados misteres.
É evidente, porém, que banquei o S. João e preguei no deserto. Mas é evidente, também, que eu, como no samba, “estava cheio de razão”. E tanto estava que o honrado senhor José Américo, um dos poucos estadistas indígenas que têm sinceridade bastante para dizer o que pensam, disse a um repórter as seguintes palavras:
— Se nada fiz como ministro, muito aprendi em tal posto.
Essas palavras, traduzidas em vulgacho, querem dizer exatamente aquilo que eu dizia há três anos atrás, isto é, que gente nova em república velha, acaba sempre nisso que aí está. É verdade que, para não dar muito na vista, os regeneradores resolveram pregar nas costas do regime uma vasta taboleta com estes dizeres: “República Nova”.
Isso, todavia, em nada alterou a situação porque não houve Voronoff de espírito revolucionário que conseguisse remoçar a madama. Pode dizer-se, mesmo, que, em quatro anos de experiências, a República envelheceu mais do que nos quarenta anteriores. E envelheceu, justamente, de tanto ensinar a brava rapaziada que surgira, de repente, não se sabe de onde, mas que estava disposta a “ir até o fim”, custasse o que custasse.
Pois o fim aí está: o senhor José Américo a declarar, com os olhos postos no céu, que “não fez nada mas que aprendeu muito”. É verdade que, como dizia “O Paiz”, aprendeu muito “à custa da nação sacrificada no seu patrimônio pela debilidade extrema da cultura do então ministro em matéria administrativa”. E, todavia, não fez nada. Outros há que não fizeram igualmente nada mas que não aprenderam coisa nenhuma. Tanto que vão continuar a aprendizagem por mais quatro anos... se Deus quiser e o mau tempo permitir.
Ainda no sábado, outro ilustre chefe revolucionário, aparteando na Câmara das Deputados um colega que atacava um novo imposto, exclamou:
— “Ora, os proprietários que se defendam em cima dos inquilinos!”
“Em cima dos inquilinos”! Um deputado da República dos Estados Unidos do Brasil!
Oh! Deuses todo-poderosos! Não haverá um dilúvio ou uma peste bubônica para salvar a pátria?...
Idéias de um homem prático
De repente, o ônibus parou. Duas senhoras e um cavalheiro que se achavam à sua espera, precipitaram-se para a portinhola. O motorista exclamou:
— Só há dois lugares!
— O cavalheiro, que era gordo, vestia roupa de brim e trazia uma pasta, tomou a dianteira das damas e aboletou-se num dos lugares vagos. As damas estacaram, atônitas. Entreolharam-se, indecisas. E uma delas exclamou:
— Um lugar só não chega para nós duas!
Encarou o cavalheiro gordo e concluiu:
— Nós esperaremos outro ônibus.
E voltaram para a calçada, enquanto o auto seguia e os passageiros alvejavam o homem gordo com olhares fuzilantes.
Mas o homem gordo não corou. Nem empalideceu. Placidamente, como se nada houvesse acontecido, abriu o seu jornal e, dispunha-se a lê-lo, quando deu comigo ao seu lado.
Então, sorriu. Dobrou o jornal, enfiou-o na pasta e exclamou:
— Pelo seu olhar, percebo que não teve, como os outros meus companheiros de viagem, a intenção sinistra de linchar-me por eu não ter cedido o meu lugar a uma daquelas senhoras. Não é exato?
— É isso mesmo.
— Vejo, pois, que estou conversando com um cidadão razoável, capaz de compreender os graves problemas sociais do nosso século, sem grande esforço de inteligência. Permita-me, pois que eu me apresente.
Puxou do fundo do bolso um cartão, dobrou-o numa das pontas e entregou-m’o.
— Chamo-me Pyrilampo de Souza Carvalhosa e sou funcionário bancário. Pai de família, eleitor e pobre. Se eu fosse rico não viria morar nestas bandas inóspitas, nem andaria de ônibus. Ora, como eu tenho apenas hora e meia para vir almoçar e regressar, em seguida, ao trabalho, venho e volto nestes calhambeques ambulantes e balouçantes, porque eles têm a vantagem de ser mais rápidos que os bondes. É ou não é?
— É sim senhor.
— Pois, muito bem. Eu gasto vinte minutos para vir e vinte para voltar. Com trinta minutos do almoço, lá se vão setenta dos noventa minutos que eu tenho para desempenhar-me da tarefa do repasto. Restam-me vinte minutos, que se escoam em eu ir do escritório ao ponto do bonde, em esperar o ônibus, em lavar as mãos em casa, etc. etc.
— Nos “etcetras”, principalmente, é que se gasta mais tempo.
— Pois, muito bem. Como eu ia lhe dizendo, quando chego ali à esquina para tomar o ônibus, já não tenho um minuto a perder. Preciso de qualquer forma, tomar o primeiro carro que chega. E, como o primeiro carro que chega, geralmente vem cheio, eu ando um vasto quarteirão para ir esperá-lo lá em baixo na outra esquina, ao sol estorricante ou à chuva inclemente. Foi, aliás o que se deu ainda há pouco, quando aquelas duas lindas senhoras tentaram arrebatar-me o lugar. O senhor acha que elas tinham o direito de tomar-me a dianteira?
— Eram duas belas senhoras...
— ... que iam flanar pelo Triângulo, despreocupadamente, trocando pernas até a hora do chá no Mappin. Tanto podiam tomar aquele ônibus como qualquer outro cinco minutos ou cinco horas depois. Podiam, até, não tomar nenhum e voltarem para suas casas. Não sucederia nada de mal por isso. Mas eu não podia! Se perdesse aquele carro, sé tomaria outro dez minutos depois. E chegaria ao escritório com dez minutos de atraso. E sabe o senhor o que significa um cidadão chegar ao serviço dez minutos atrasado?
— Não sei...
— Significa uma descompostura e um corte no ordenado! Aí está! Se quisesse ser gentil, galante, cavalheiresco, teria cedido o meu lugar àquela dama e minha família pagaria o pato no fim do mês, com o meu ordenado reduzido. Se eu fosse gentil, galante e cavalheiresco 10 vezes por mês, acabaria devendo ao padeiro e ao leiteiro. Quanto mais vezes eu fosse gentil, galante e cavalheiresco, mais eu iria encalacrando minha família. Ao fim de certo tempo, as damas me apontariam na rua como um “cavalheiro gentilíssimo”, mas eu teria de andar virando esquinas para fugir dos meus credores que, se me apanhassem, acabariam desancando-me a cacete! Ora, como eu prefiro estar bem com o alfaiate, o padeiro, o vendeiro e o senhorio, em lugar de ser admirado pelas damas — pois eu sou marido fiel e inexpugnável — não cedo meu lugar às senhoras. Pelo contrário, acho que todas as senhoras que vêm trocar pernas no Triângulo deviam ceder seus lugares aos homens trabalhadores e honrados como eu! É ou não é?
— Parece...
— Pois, meu caro! Faça o mesmo. E aqui estamos. Até amanhã!
Igualdade dos sexos
O senhor Pyrilampo de Souza Carvalhosa que, ontem, trocou algumas palavras comigo, durante a viagem de um ônibus, encontrou-se comigo hoje, novamente. E, como que reatando o fio de um longo romance, acendeu um cigarro, cruzou as pernas e tirando uma baforada como os personagem de Montepin, exclamou:
— Pois como eu ia lhe dizendo, acho que as senhoras que vêm passear no Triângulo, deviam ceder seus lugares, nos bondes e nos ônibus, aos cidadãos laboriosos e honrados como eu. E como o senhor, é claro.
— Pode excluir-me, sem cerimônia. Eu não sou cidadão, nem laborioso.
— Modéstia, meu amigo! Mas eu não vejo razões para a existência, em nosso meio social, de um estado de coisas que aberra de toda a sensatez humana. Eu tenho um amigo que é cobrador de uma repartição aí. Esse pobre diabo é um rapaz educado, muito respeitador, mas vive eternamente numa atmosfera de antipatias porque não pode demonstrar publicamente a sua galantaria e o seu cavalheirismo.
— Mas essas duas qualidades manifestam-se espontaneamente, embora não se queira.
— É o que o senhor supõe. É, aliás, o que todo o mundo pensa. Mas não é assim, meu amigo. Esse pobre rapaz, por exemplo, é um sujeito que sai de casa pela manhã e, com uma abundante pasta sob o braço, desanda a percorrer todas as casas de um bairro, a pé sob o sol pavoroso deste verão senegalesco!
— O senhor já esteve no Senegal?
— Não! Mas não há verão ardente nesta terra que não seja, para todos os efeitos, um verão senegalesco. Pois é sob um sol assim, de um dia assim, de um verão assim, que esse pobre diabo percorre ruas e ruas, suando como um chuveiro. Ao meio dia, quando ele se dirige para casa, afim de almoçar, está absolutamente, integralmente, completamente “knock-out” !
— Está o que?
— Knock-out! Isto é, mais morto do que vivo, incapaz de ficar de pé. É, pois, nesse estado lamentável, que ele toma um bonde, após uma luta terrível com outros bípedes que também querem viajar sentados. Consegue um lugar. Senta-se. O bonde parte. Mas na esquina seguinte, pára e entra uma senhorita, lépida e ágil, rosada e risonha. Entra, olha em torno e, não vendo um lugar vago, fica de pé, plantada cruelmente diante daquele pobre diabo que, mesmo sentado, continua em estado comatoso. A situação, como vê o senhor, é dramática e angustiosa. O pobre rapaz, não querendo passar por estúpido e grosseirão, pensa em levantar-se e ceder o lugar à mocinha. Mas pensa também que, se o fizer, praticará um ato de boa sociedade, mas terá que seguir em pé, pondo a rude prova as suas pernas miserandas e quase inúteis. O duelo que se realiza no cérebro desse rapaz, entre as duas opiniões, é aniquilante, é angustioso.
— Coitado!
— Uma vez, há quase dois anos, quando se realizou o primeiro desses duelos, o rapaz cedeu o seu lugar a uma graciosa senhorita e, desvanecido, esperou a graça infinita de um leve sorriso da moça. Era, ao menos, uma compensação. Não era?
— Valia o sacrifício.
— Pois a moça sentou-se e nem sequer se dignou agradecer o obséquio. Não dirigiu ao “cavalheiro” nem uma palavra. Nem sequer um olhar. Era como se aquele pobre diabo tivesse feito a sua obrigação. O infeliz, nesse dia, quando chegou em casa para almoçar, parecia que tinha pernas de chumbo, mas de um chumbo novo que doía como se tivesse nervos e músculos. Desde aí nunca mais ele cedeu o lugar a uma senhora. O senhor não acha que ele fez muito bem?
— Não sei, não...
— Não sabe... É porque o senhor nunca andou, sem parar, das 8 às 11 da manhã, sob um sol...
— ... senegalesco.
— Se andasse, meu caro, e se tivesse um horário apertado como eu tenho... adeus, cavalheirismo! adeus, galantaria! Mas tudo isso tem de mudar! Eu vou acabar feminista, porque a igualdade dos sexos é uma necessidade social imediata! E essa igualdade só será conquistada quando nós virmos as damas viajando no estribo dos bondes!...
Os camelos
Um cidadão imaginoso, impressionado seriamente com a situação calamitosa do nordeste brasileiro, encerrou-se num gabinete e pensou. Pensou durante muitos dias, com vastos mapas estendidos à frente, e com grandes livros espalhados em torno.
Depois de ter pensado profundamente no angustioso problema nordestino, o eminente pensador chegou à conclusão de que esse problema é meteorológico e não político. Não se poderia resolvê-lo nem com interventores, nem com ideologias sociológicas, nem com doutrinas políticas, nem com postulados filosóficos, nem mesmo com dinheiro. O terrível inimigo do nordeste é apenas um: o sol. E, daí, o dilema dilacerante: ou o nordeste mata o sol ou o sol mata o nordeste.
Parecia que, diante dessa conclusão dramática, o eminente pensador recuaria, aterrado.
Não foi isso, porém, o que se deu.
O preclaro pensador correu os olhos pelo mapa e observou que, nos lugares onde o sol realiza suas aventuras estorricantes, existe um animal esquisito chamado camelo. Em todos os lugares, menos no nordeste. E o colendo pensador concluiu, então, que a ausência desse complicado ruminante nas caatingas nordestinas, era o mal que arruinava o Brasil. E, tomando da pena, escreveu ao sr. ministro da Agricultura um vasto relatório das suas torturadas elocubrações, pedindo ao governo, urgentemente, que tratasse de importar camelos para que estes, aclimatando-se no nordeste, salvassem a pátria.
O sr. ministro da Agricultura, a princípio, não soube como resolver o caso estranho. Mas depois do algumas horas de profunda reflexão, e tendo chegado à conclusão de que os camelos não são produtos agrícolas, enviou o profuso relatório ao chefe do governo provisório, para que este, habituado como está a lidar com uma fauna original, opinasse sobre a importação dos esquisitos animais.
E o sr. Getúlio vai estudar.
Não sei de que forma o jocundo ditador vai resolver o caso original. Suponho, todavia, que opinará favoravelmente às pretensões do eminente pensador do camelo.
Por que?
Por várias razões consideráveis, sendo que uma delas, a principal, é de que o camelo é um animal que só tem uma utilidade: não prestar para nada desta vida, a não ser para carregar cidadãos entre as gibas.
As pessoas leigas em assuntos zoológicos hão de supor que isso em nada poderá melhorar as tristes condições mesológicas do nordestino. Não arrefecerá o furor incendiário do sol, não refrescará a caatinga estorricada, não dará humus ao solo incandescente, não fará as plantas vicejarem, nem as árvores frondejarem nessa geena dantesca, nem os fiozinhos de água se fazerem rios transbordantes, nem o céu terrivelmente azul se manchar de nuvens para desabarem em dilúvios bíblicos...
Mas é que os senhores nunca viram um camelo!
O preclaro pensador que se lembrou do camelo, pensou muito, antes de levar ao governo a idéia-mãe da importação sui-gêneris. Nós todos sabemos de fatos sensacionais ocorridos nesta terra originalíssima, desde aquele boi que falou em Pernambuco até o recente tocador de violoncelo que se propõe chamar tempestades por meio de ondas hertzianas. Tudo pode acontecer no Brasil, pois os fatos mais absurdos, mais inesperados, mais impossíveis de acontecer, acontecem!
Ora, sendo assim, por que razão os camelos não poderiam transformar os desertos nordestinos em édens maravilhosos, com florestas, rios, cachoeiras e chuvas de pedra duas vezes por dia?
Que venham logo esses camelos! Além deles constituírem um excelente palpite (não deixem de comprar um “gasparino” hoje...}, virão dar mais cor local a esta terra, porque nós somos, há muito tempo, um país das Arábias...
Coisas sérias da assembléia
A sessão de sábado, na Assembléia Constituinte foi, indiscutivelmente, das mais proveitosas para os altos destinos da nacionalidade. É estranhável, portanto, é singularmente inexplicável que os comentaristas políticos não tivessem se demorado, mais largamente, nas apreciações que teceram em torno dos fatos eminentes que aconteceram naquele augusto recinto.
Esses fatos consideráveis foram dois — o que já enobrece vastamente a egrégia Assembléia. E esses dois episódios singulares — singulares pela elevação doutrinária que os caracterizou — nós os devemos a dois ilustres constituintes cujos nomes eu peço vênia para citar com toda a estima e consideração; os senhores Irineu Joffely e Odon Bezerra, ambos representantes da Paraíba, a “Bélgica brasileira”, como dizia antigamente o meu insatisfeito amigo Zoroastro Gouveia.
O sr. Irineu Joffely, pedindo a palavra, naquela sessão memorável, para defender o senhor ministro da Viação, empenhou-se a certa altura, num debate doutrinário-fisiológico com o seu inquieto colega Ruy Santiago, produzindo uma oração que Ruy Barbosa endossaria se o seu homônimo Santiago permitisse. Assim, depois de estudar, com grande elevação, os graves problemas nacionais sintetizados no ministério que o senhor José Américo vai administrando como Deus é servido, o senhor Joffely ouviu do seu contendor Santiago este aparte digestivo:
— Muitos discutem pensando mais no estômago...”
Ora, o sr. Joffely não gostou dessa intromissão esôfago-duodenal na contenda e redarguiu:
— Pelo contrário, eu não tenho bom estômago.
O sr. Santiago, porém, insistia em afirmar que o seu colega tinha um estômago perfeito, absolutamente anti-dispéptico. Mas o senhor Joffely, modestamente, garantia que não, que o seu estômago estava minado pelas hiper-cloridrias, gastrites, gastralgias... E afirmou:
— Creio não haver dificuldade para se apurar qual de nós dois tem melhor estômago. Pode-se ver-se isso pela nutrição.
Ao que atalhou o senhor Fernando Magalhães, que é obstetra mas entende de clínica geral:
— É bom chamar-se um radiologista.
Não sei se a Assembléia concordou em que se fizesse um exame de fezes, como pedia o senhor Joffely, ou uma radiografia, como sugeriu o senhor Magalhães. Se não fez nem uma coisa, nem outra, andou muito mal porque, afinal de contas, o povo está pagando os senhores constituintes exatamente para que eles, votando a Constituição, não arrasem a preciosa saúde, tão útil à nacionalidade neste momento histórico. Dir-se-ia que a pátria amada não tem nada que ver com o aparelho digestivo dos seus filhos diletos — o que é uma opinião absolutamente errônea. Desde que a Constituição está votada, é hora de saber-se quem é que come mais, pois o povo prefere votar nos que comem me[nos; a]* história de comidas é muito mais importante do que a questão das autonomias estaduais ou da discriminação de rendas.
A gente admite que comam, mas, pelo amor de Deus, não tenham indigestões. Porque, neste caso, somos nós que pagamos o médico e a farmácia...
* * *
O segundo fato notável da sessão de sábado foi-nos fornecido pelo senhor Odon Bezerra que, defendendo também o sr. ministro da Viação, houve por bem declarar que o “senhor José Américo é um homem honesto, o que constitui uma exceção no país”.
Não haverá no mundo uma polícia para prender o Brasil?
A Hora do Vício
O sr. José Américo, ilustre ministro da Viação, falou ontem a um jornalista, a propósito da Hora de Verão. E, nessa notável palestra, o sr. José Américo teceu considerações de alta sabedoria astronômica e sociológica, chegando a conclusões que merecem um registro à parte e um comentário especial.
S. exa. declara, “ab initio”, que resolveu adotar a Hora de Verão “inspirado nos benefícios de ordem social com que já se apuravam as suas vantagens em centros como a França”.
Há de parecer a nós, leigos em questões de tão elevada transcendência, que o sr. ministro procura divertir-se à custa de nossa ignorância, avançando afirmações desnorteantes, como aquela de que a adoção da Hora de Verão foi inspirada em benefícios de ordem social. Todavia, se tomarmos conhecimento das declarações posteriores, constataremos que o sr. ministro é quem tem razão.
Com efeito. O sr. ministro declara que foi levado a adotar a famosa hora, porque “apreciou a argumentação brilhante de Poincaré demonstrando eloqüentemente quanto, para uma cidade de luxo e de vícios como Paris, se ia ao encontro da própria higiene e saúde da população, reduzindo-se a noite em benefício do dia”.
Vê-se, pois, que o sr. José Américo pretendeu diminuir a noite, aumentando o dia. E para que? Para que a população das cidades de luxo e de vícios, fosse ao encontro da saúde e da higiene.
Sei que o meu heróico leitor está aí, diante destas linhas, com a testa vincada de rugas e os olhos razoa[ve]lmente escancarados na ânsia de compreender bem o que o sr. José Américo declarou e eu trasladei, fielmente, para aqui.
Todavia, não há nada mais claro, mais meridianamente solar do que tudo aquilo. Senão, vejamos:
Adiantando-se uma hora nos relógios brasileiros, o dia fica 60 minutos maior e a noite, por conseguinte, fica sessenta minutos menor. Ora, é sabido que o vício costuma aparecer à noite. Nas cidades como Paris, (que serviu de modelo para o Brasil) mal anoitece, os vícios se desencadeiam. Cabarés, botequins, cassinos, clubes, “dancings”, lupanares, conventilhos, tudo isso dorme durante o dia para se escancarar à noite e acoitar o vício e o crime. O sr. ministro, certo do que é à noite que hetaíras, michélas, rascoas, barregãs e outras cidadãs da mesma estirpe — desde a cortesã solene até a marafona mais reles — saem de suas tocas para soltar o Pecado dentro da cidade; certo ainda de que só quando o sol desaparece é que os rufiões, os jogadores, os “compadróns”, os toxicômanos os “ventanistas”, os assaltantes e outros cidadãos do mesmo naipe, saem à rua para desencadear o crime, resolveu, da maneira mais prática, solucionar a impressionante questão social. Não podendo — porque isso foge à sua alçada de ministro da Viação — extinguir o Pecado e jugular o Crime, s. exa. resolveu diminuir-lhe as atividades. E decretou que a noite começaria uma hora depois. A população pacata e virtuosa do país poderia assim ficar sossegada por mais sessenta minutos.
Poder-se-á supor que esse atraso de uma hora para as práticas malévolas do vício e do Pecado não traria resultados apreciáveis ao país. Mas é um engano. É o próprio sr. ministro quem o confirma, quando diz: ”Confesso que os resultados sociais apontados mais me impressionaram que as vantagens econômicas”.
A Hora de Verão já esteve em prática no ano passado. O leitor poderá dizer, como eu, que não viu nada de mais; esse ano em nada foi diferente dos anteriores.
Mas é que nós não somos ministros, meus amigos! Pois, só os ministros podem ter ouvido capaz de ouvir e de entender essas complicações.
O jornal e seus anúncios
Uma das nossas estações de rádio inaugurou, ontem, um novo sistema de fazer anúncios. Essa fato, que parece destituído de qualquer valor, tem, para os radiouvintes, uma certa importância, porque o anúncio irradiado está se tornando monótono e soporífero.
A estação a que me refiro, tendo que realizar, ontem, um programa de músicas de Saint-Saëns, fê-lo preceder de uma sucinta biografia do grande compositor. E, nessa biografia, foram intercalados, com algum engenho, vários anúncios que não puderam deixar de ser ouvidos, principalmente pelos que queriam conhecer a vida do artista francês.
Como se vê, enquanto a radiotelefonia, por intermédio de suas “broadcastings”, procura tornar os anúncios sugestivos, dia por dia os jornais continuam a publicar a sua matéria paga exatamente como a publicava[m] há vinte ou há cem anos atrás. Tudo progride, neste mundo, insatisfeito — menos a publicidade jornalística.
Entretanto, o progresso de que lançou mão o rádio poderia ser aplicado nos jornais, com indiscutíveis vantagens para todos. A inserção de matéria ineditorial dentro da colaboração editorial poderia produzir efeitos surpreendentes e fascinantes. Fosse no noticiário policial, na crônica social, no serviço telegráfico ou no próprio artigo de fundo, o anúncio seria fatalmente lido e apreciado...
Vou dar uns exemplos. Uma notícia policial:
“Ontem, às 15 horas, quando passava pela rua S. Bento, onde se acha instalada a grande “Casa dos Chapéus” que vende artigos abaixo do custo, o indivíduo Fulano de Tal foi agredido inopinadamente por um seu desafeto. Após violenta altercação, pois o agressor é neurastênico por nunca ter tomado as “Pílulas da Saúde”, houve troca de bofetadas e, a seguir, ouviu-se o estrondo de um tiro. A vítima, banhada em sangue, correu um pouco e foi cair à porta da “Alfaiataria Xinfrim”, a melhor e mais barateira de São Paulo. Preso o agressor, foi-lhe apreendido um revólver “Skank”, a marca mais afamada e de que são representantes em São Paulo os srs. Chico, Tiburcio & Comp. O ferido, que tinha rubra de sangue a sua linda camisa de seda adquirida, por preço de verdadeira pechincha, na “Casa das Roupas”, à rua São Bento, foi transportado para a Santa Casa, sendo lisonjeiro o seu estado de saúde”.
O que se faz nos “faits divers” pode ser feito em qualquer seção do jornal, até mesmo no artigo de fundo: Por exemplo:
“Temos dito, inúmeras vezes, numa repetição fonográfica que nos fez parecer uma esplêndida vitrola “Hearl” que não existe no mundo, hoje, o problema fascista. O que existe é o problema da crise da liberdade, rudemente golpeada pelos demagogos que, com sua voz estentórica, como se tivessem tomado o magnífico “Xarope Santa Luzia”, vivem a apregoar a falência dos mais lídimos ideais humanos. Não somos dos que pensam assim, confusamente, pois, tendo sempre tomado o milagroso “Elixir Cerebrino”, temos as idéias claras e sãs. A centralização política, tanto quanto a centralização econômica, pode ser o indício de novos rumos sociais e políticos, e nós mesmos já o temos proclamado com a convicção de quem proclama as excelências do “Vinho Reconstituinte Salutar”. Mas negamos aos aproveitadores do idealismo alheio o direito de, em nome de um neo-liberalismo ou de uma neo-democracia, exigirem o sangue dos inocentes, com a ansiedade de uma criança que exige o saboroso e medicinal “Leite Esmaltado Frick”, o melhor do mundo. Não! Nunca! As velhas fórmulas conservadoras hão de ter em nós, hoje como ontem, e amanhã mais do que hoje, os seus defensores mais intemeratos, pois quem como nós, toma às refeições o maravilhoso “Tônico Reconstituinte de Pacová” de “Basilio, Queiróz & Comp.” está apto a demolir as argumentações falaciosas dos inimigos da Ordem e da Lei! Temos dito!”.
Não seria interessante? Seriam dois proveitos num saco só. O jornal doutrinaria, levantando o civismo do povo e recomendaria alguns produtos para levantar-lhe as forças físicas.
Vamos experimentar?
Crimes contra a beleza
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça discutiu, há dias, um caso interessante, que pode ser resumido nesta interrogação: uma navalhada no rosto de uma mulher bonita deve ser considerada como crime de natureza grave?
É evidente que deve, uma vez que o golpe siciliano causou deformação física. Mas, desde que não chegou a causar deformação, o crime deve ser levado à conta de natureza leve.
Mas aqui é que está o busílis jurídico. Que é uma deformação? Apelou-se para os cientistas e estes, com a irrecusável autoridade de quem está na obrigação de conhecer a integridade física dos tecidos faciais e outros tecidos adjacentes, opinaram que só se considera deformante a lesão de que resulte modificação ostensiva da fisionomia, aspecto repulsivo ou ridículo, afeiamento notório. Para e ciência pois, só se considera deformante uma lesão de alto estilo, no gênero daquele que escangalhou com a cara simpática de Gwynplaine, nas páginas clássicas de “Notre Dame” de Hugo.
Eu não sei se essa classificação, essencialmente científica, seja essencialmente certa. O promotor público que levantou o caso, opina de modo inverso, não sei se juridicamente mas, pelo menos, humanamente.
Eu, de mim, que fugi de ser cientista e não tive pendores pelas coisas jurídicas, vejo o caso da navalhada de um ponto de vista mais geral, porque o observo como esteta.
Creio que não é preciso ser-se versado em medicina legal, nem em jurisprudência firmada e confirmada, para estar em chocante desacordo com a ciência médica e com o Ministério Público.
O caso que levantou as controvérsias na Câmara Criminal foi o de um indivíduo que aplicou, com todos os efes e erres das circunstâncias, uma navalhada no rosto de uma dama formosa. Foi pronunciado, naturalmente, como incurso no artigo não sei quanto — ferimento grave. Tempos depois, porém, constatou-se que a lesão “não causara deformidade”, pois a navalhada dera em resultado uma simples cicatriz. E daí o caso ser incluído no rol dos ferimentos leves.
Ora, todos nós sabemos que numa dama formosa não se bate nem com uma flor. O cidadão incriminado, porém, nunca lera Victor Hugo e pespegou no rosto da mulher uma navalhada tremenda. Todavia, por circunstâncias momentâneas, a navalha não agiu com a perícia exigida pelo criminoso e, em lugar de produzir uma lesão longa e profunda, produziu apenas uma pequena cicatriz.
Diz-se que essa cicatriz não deforma o rosto da vítima. Deforma, sim senhores. O rosto de uma mulher bonita não é cara de estudante alemão nem braço de malandro da Gamboa. Este e aquele podem achar muito bonita a exibição de cicatrizes comprovantes de gloriosos duelos e sururus. Mas uma mulher formosa com uma cicatriz no rosto, é uma mulher que vale sempre quarenta por cento menos do que valeria sem o “scarface”, pois quem a vê tem a impressão de que ela é uma mulherzinha terrível, amiga de bagunças encrencadas, embora seja, muitas vezes, a mulher mais inocente deste mundo, vítima apenas dos furores egoístas de algum Otelo de cartolinha.
Este sempre é culpado. Seja lá em qualquer caso, mesmo quando ele deixe no rosto da mulher apenas uma cicatriz, porque a intenção do sujeito que anavalha uma mulher no rosto não é outra senão a de deixar-lhe um sinal, um estigma, um sinete — a marca que a tornará repudiada ou, pelo menos, apontada a dedo como uma mulher que praticou “alguma coisa” de grave...
É o mesmo caso do criminoso que dá um tiro no próximo com a intenção de matá-lo e não o mate. Ferimento leve ou grave, o sujeito incorreu num artigo especial — tentativa de morte.
Para o indivíduo que anavalha uma dama bonita com a intenção irrecusável de deformá-la, e não a deforma, deve haver um artigo novo — tentativa de deformação.
Porque o caso aí não é o de um crime contra a beleza, mas contra a reputação de uma mulher.
Uma dama com o sinal de uma navalhada no rosto mesmo uma simples cicatriz que não lhe altere a fisionomia, nem lhe deturpe a beleza, é sempre uma mulher para a qual a gente olha de esguelha, num misto de piedade e de medo — não vá aquela senhora promover um sururu no meio da rua... Se ela levou uma navalhada é porque deve ser terrível!
O caso da navalhada, pois, deve ser arrancado aos jurista e aos cientistas, a ser entregue aos psicólogos. Estes é que poderão explicar quanto vale uma “intenção”.
Os juristas que expliquem o “animus deformandi...“
Saias abaixo!
O ciclo de inquietação por que vem passando o mundo, de alguns anos a esta parte, e que tem levado os homens insatisfeitos a se entregarem a excessos de toda ordem — dir-se-ia melhor: de toda desordem — levou a Polícia dos países chamados civilizados a se municiarem de novos instrumentos de repressão, afim de que os cautos burgueses e os impressionáveis aristocratas — que os há, ainda, neste mundo de Cristo! — não se vejam despojados, súbita e violentamente, de seus bens mais caros e inexpugnáveis.
Desde o “palo dulce” das tropas de assalto espanholas até as bombas de gás lacrimogêneo da polícia espadalíssima de S. Paulo, vários têm sido, e todos eficazes, os processos sumários para se forçarem multidões recalcitrantes a retiradas estratégicas para o interior dos Cafés, nos momentos em que elas, pleiteando reivindicações absolutamente platônicas, dão para se derramarem em distúrbios nas praças públicas.
Nos Estados Unidos, onde a Liberdade não é propriamente uma figura de retórica nem, apenas, uma estátua rodhiana à beira-mar plantada, a Polícia só intervém quando os comícios, sob o calor da demagogia, degeneram em tumulto. E, como em via de regra, quem descamba para a arruaça são os comunistas, a repressão, em tais casos, é exercida “manu-militare”, a custa de pauladas, tiros e bombardeios — o que, em verdade, constitui uma ação extremamente desagradável que a Polícia exerce, como numa valsa célebre, “com lágrimas nos olhos”, eis que, entre os extremistas, se encontram sempre representantes do sexo chamado “frágil”.
Ora, os norte-americanos sabem muito bem — apesar de não terem lido Victor Hugo — que numa dama não se bate nem com uma flor. Apesar de nem todo o mundo ser poeta lírico — porque há poetas parnasianos e futuristas que desancam mulheres a cacete — a Polícia americana achou que não lhe seria lícito, ou pelo menos, galante, espavorir “misses” a tiros de fuzil na praça pública. E vai daí, encerrou-se no seu austero gabinete e, durante longos dias de penosas elocubrações procurou um modo de dissolver ajuntamentos femininos sem o apelo confrangente aos processos sumários e definitivos até então em uso. E foi assim que chegou à descoberta sensacional que os jornais registraram, num misto de satisfação e escândalo.
O que aconteceu, então, na primeira vez que uma multidão de senhoras se reuniu no Central Park para protestar contra qualquer coisa, foi uma cena tão imprevista e tão desnorteante, que os jornais não souberem como qualificá-la — se cômica, se dramática...
Quando, em torno de uma oradora subversiva e transbordante, se agrupavam algumas centenas de moças e senhoras que, em altos brados, deblateravam contra as instituições, produzindo um barulho de que só seria capaz uma porção de mulheres juntas, surgiu a Polícia... sem “cassetetes”, sem pistolas, sem bombas, sem fuzis. Surgiu e, sem dizer uma palavra, sem balbuciar o mais leve “excuse, madam!”, investiu para o ajuntamento e, com uma fúria de sátiros, pôs-se a arrancar as saias das pudibundas senhoras.
Compreende-se, facilmente, que semelhante investida, levada a efeito por latagões decididos, diante de uma divertida assistência masculina, foi uma espécie de fim do mundo! Nunca se viu, sobre a face da terra, tantas mulheres em disparada, nos trajes mais imprevistos e impróprios para uma corrida em público. Umas em combinações, outras em calças, outras sem calças nem combinações, o que houve foi um corre-corre espavorido de centenas de senhoras que organizaram, assim, mesmo contra a vontade, um excitante espetáculo que a Censura teria declarado “impróprio para menores”.
E o comício terminou em menos de um minuto, sem cabeças quebradas, sem feridos e sem mortos, tendo o sangue deixado de correr nas sarjetas para, apenas, subir às faces das pudibundas senhoras.
Agora, elas correm aos jornais para protestarem contra esse incrível atentado ao pudor. Os marmanjos, porém, acham que elas devem insistir, reincidindo nos comícios — apenas participando-hes o dia, o local e a hora, afim de que eles não percam um espetáculo tão curioso e tão raro...
Voltarão elas ao Central Park?
É o que não se sabe por enquanto...
O que se sabe é que a polícia americana, contrariando Salomão, provou que, sob o sol, ainda pode haver alguma coisa de novo...
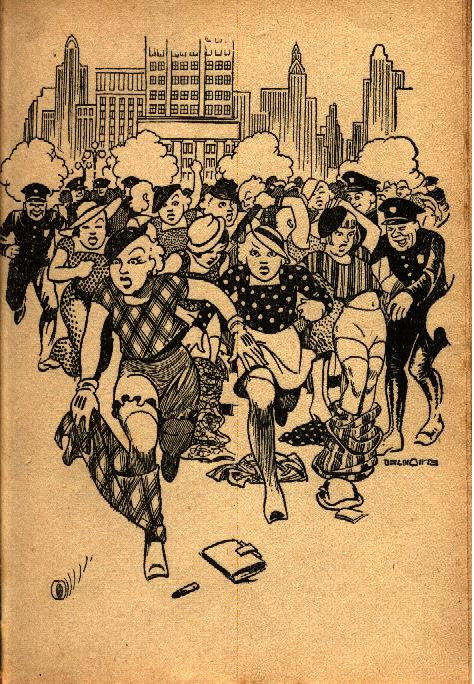
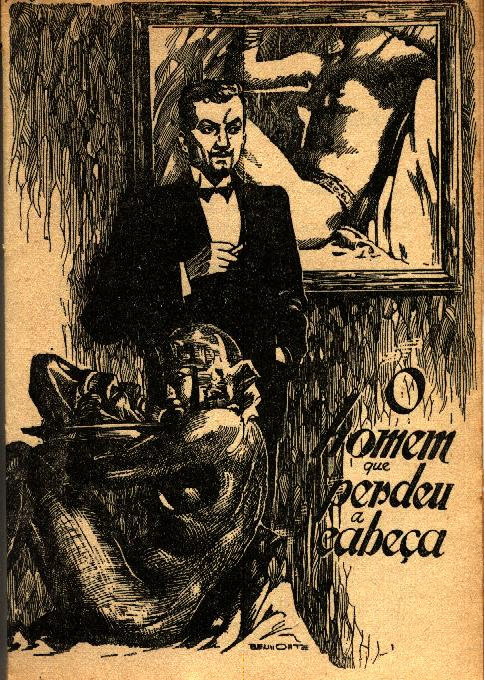
O homem que perdeu a cabeça
Quando penetrei no “hall”, ele me esperava, de pé, atrás de uma “Salomé” de bronze, sob uma tela estranha, com um sorriso mefistofélico nos lábios finos.
— Sente-se.
Sentei-me. E contemplava, num êxtase dominador, a brônzea filha de Herodias, quando ele me subtraiu ao enlevo com esta interrogação amável:
— Gosta?
— Muito! É uma obra-prima. A construção anatômica é perfeita. A cabeça do Batista...
— É a minha cabeça.
Encarei-o, alarmado. Ele, imperturbável, sorria. A sua jocunda face de sátiro estava longe de assemelhar-se à máscara torturada do Jokanaan, cuja cabeça jazia na salva da princesa judaica. Timidamente, arrisquei uma frase:
— O sr. disse que é a sua cabeça...
— Vejo que não acredita. É natural. Eu, no seu caso, também duvidaria, Isso, contudo, não me impede de dizer-lhe que eu sou o homem que perdeu a cabeça.
Riu, gozando a minha estupefação, divertindo-se com o meu enleio. E acrescentou:
— É verdade, meu amigo. Eu perdi a cabeça — duplamente. Quando me lembro disso...
Cortou a evocação para dizer-me, subitamente:
— Mas não se assuste! Foi há muito tempo...
Passeou o olhar, vagamente, pelo espaço, recordando.
— Foi há muitos séculos, há quase dois milênios, numa cidade da Judéia, chamada Makeros... Você não ouviu falar nisso?
— Não tenho idéia... Isto é, o único caso desse gênero que conheço foi o que aconteceu com S. João Batista, em louvor do qual nós acendemos fogueiras, soltamos balões e tomamos pileques todos os anos. Mas, parece que...
— Já sei! Você vai dizer que não encontra analogia entre o episódio do seu conhecimento e o drama de que fui personagem central.
— Sim, com efeito... S. João morreu há tanto tempo...
— E que tem isso? A morte é um “estado filosófico”, como dizia Renan. Aquilo que no meu tempo era apenas um dogma grego, é hoje uma evidência que eu estou demonstrando fisicamente.
— A metempsicose...
— A transmigração das almas, ou lá o que quer que seja.
— Quer dizer que o sr. é o Batista?
— Jokanaan, filho de Zacarias, de Betsaida.
— Ah! então compreendo por que motivo o sr. é riquíssimo. Sabe fazer milagres, acerta no milhar todos os dias...
— Oh! não, não! Que mentalidade fútil a sua, meu amigo. Eu nunca fiz milagres. Fui apenas um visionário que sonhou, um dia, salvar um povo...
— E salvou-o porque Roma deu com os burros n’água!
— Depois da dramática, irremediável Dispersão do meu povo...
— E... continua sendo apóstolo?
O sr. Jokanaan cravou em mim dois olhos arregalados, chispantes de assombro.
— Oh! Você então desconhece a tragédia da minha vida? Eu sou um homem velho de dois mil anos e não poderia evangelizar, hoje, vivendo no fausto em que me envolvo! Sou apenas um homem de sociedade, gozando da estima e consideração dos meus semelhantes. Outr’ora, procurei, como o Cristo, conservar-me sempre à distância da Metafísica e, apesar disso, acabei agressivo e inconveniente. Daí a incrível tragédia da minha vida...
— Dizem que o sr. foi amado por aquela mulher...
Apontei um dedo para a “Salomé”. O sr. Jokanaan sorriu:
— História, meu amigo. Coisas de poetas... Eu fui, realmente, amado, mas não por essa bailarina. Naquele tempo, eu era um belo tipo de homem, dono de uma apreciável cultura filosófica e teológica, apesar da humildade da minha origem. Os meus antecessores, mais doutos, tinham complicado muito o evangelismo, pois, tendo se emaranhado nos labirintos da filosofia grega, fizeram-se arautos da teologia sincrética e da exegese alegórica que impressionavam as massas incultas, mas que não chegavam a incomodar Roma, nem seus devassos procuradores, a não ser em casos excepcionais que, como o meu, também acabaram em tragédia. Resolvi ser mais incisivo e, certa vez, investi furiosamente contra o amor incestuoso de Herodias. Lembro-me bem que lhe berrei estas coisas atrozes, a ela que era a esposa do Tetrarca: — “Ergue-te desse leito, oh! incestuosa filha de Babilônia e vem remir teus pecados antes que caia o fogo dos céus sobre tua casa!” Que horror! Eu tinha perdido a cabeça — em sentido figurado, é claro.
O sr. Jokanaan levou a mão à fronte, arrepiado.
— Eu era assim, absurdo e inconveniente, sem o menor tato social! Afinal, que tinha eu que ver com os amores sórdidos da mulher de Herodes?
— Lá isso é verdade...
— Eu sabia que Herodias não era de brincadeira. Tanto não era que, a pedido dessa detestável senhora, o Tetrarca mandou-me prender. Sofri horrores! E, contudo, insistia, reincidia... Era simplesmente deplorável a minha mania de querer salvar o mundo. Fiz discursos, escrevi cartas...
— O seu “Apocalipse” é um monumento!
— Meu? Até isso me negaram... Começaram atribuindo-lhe falsidades histórico-científicas em conseqüência de descobertas astronômicas e, mais tarde, foi definitivamente negado pelo Enciclopedismo. Sobre essas páginas despenhou-se, durante séculos, uma tão insistente campanha de dúvida e de negação — não só pela heterodoxia mundial como pelos exegetas mais pios — que até eu, às vezes, chego e pensar que não escrevi coisa nenhuma! Você acha que vale a pena a gente andar a vida inteira na miséria mais torva, para ao fim de tão épica empreitada, acabar numa cruz, como o Cristo, ou com a cabeça decepada nas mãos de uma cortesã, como eu acabei?
— Sim... Realmente, é um buraco!
— Se é! O meu povo sofria, acorrentado ao despotismo romano e pagando dízimos arrasantes para manter as incríveis orgias dos poderosos. Mas, que é que eu tinha com isso?
— O sr. também era povo...
— Mas podia deixar de o ser. Se você já leu Renan, deve saber que nós, os apóstolos, éramos doidamente amados pelas mulheres, apesar da miséria negra em que vivíamos, com uma pele de camelo às costas e uns restos de sandálias nos pés. Não somente as cortesãs magníficas, de mitras douradas e túnicas de púrpura, mas até aquelas excelentes senhoras a que os romanos chamavam de “castissimae” e “univirae”. Tenho a certeza de que bastaria uma simples palavra minha, sussurrada de um modo que, naquele tempo, me repugnava ou me confrangia, e eu teria Herodias aos meus pés, apaixonada e rendida. E, conseqüentemente, teria o Tetrarca nas minhas mãos porque “ce qui femme veut, le tetrarche le veut”... Todavia, mau grado eu saber de tudo isso, fui de uma inconveniência absolutamente apostólica, pueril e desastrada; desandei a berrar os maiores desaforos contra a mulherzinha, contra o Antipas, contra a exploração do povo... Burrada que me saiu cara, meu amigo! Perdi a cabeça, inutilmente, porque a Polícia de Costumes continua existindo, assim como existem as Recebedorias de Rendas, as Coletorias, os pro-cônsules, os tetrarcas... Quando eu voltei à vida, pouco depois da decapitação...
— Eu pensava que o sr. tinha ficado no céu.
— Estive lá. Mas fugi... Com as “concepções filosóficas” do mundo moderno, isto aqui em baixo é muito mais interessante. Eu era antigamente, nos meus tempos de missionário, azedo e irreverente, com a minha lamentável mania de querer regenerar o mundo e os homens. Pessimista e malcriado. Agora, porém, eu me orgulho em dizer que aderi, prazeirosamente ao Otimismo. Não o relativista de Fenelon, mas o absoluto do Leibniz. Conheci o dr. Pangloss e, como ele, eu também acho, agora, que este mundo em que vivemos é “o melhor dos mundos possíveis”. Tudo o que de mal acontece aos outros, é necessário, que aconteça. “As desgraças particulares concorrem para o bem geral, de forma que, quanto mais desgraças particulares houver, maior será o bem geral”. Isso está no “Candide” de Voltaire e no meu cérebro também.
— O sr. diz isso porque está bem instalado na vida, morando num palácio...
O estranho homem sorriu com a superioridade de um César:
— Mas eu nem sempre morei aqui... Comecei tentando reviver, neste século frio e fútil, a minha odisséia de apóstolo. Mas chamaram-me de descontente, demagogo e turbulento. Ameaçaram-me de represálias tremendas, caso insistisse. A polícia trazia-me sob uma vigilância pertinaz e inexorável. Meus amigos afirmaram-me que eu estava errado, eis que o mundo em que vivemos é o melhor dos mundos possíveis e que tudo o que os Césares e Tetrarcas fazem, é feito em benefício exclusivo do povo.
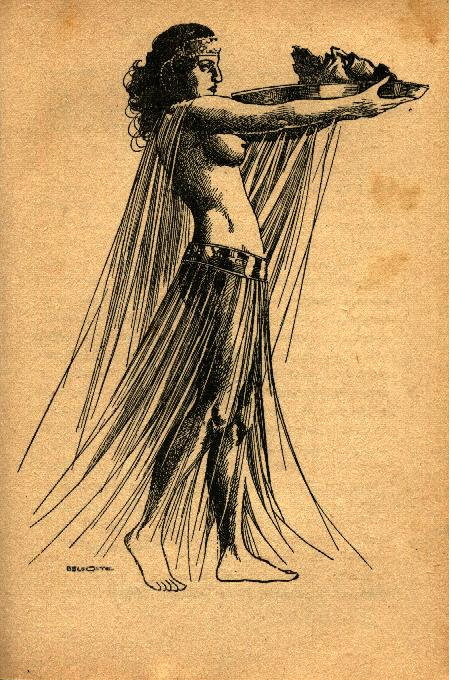
— E o sr. acreditou?
— A princípio, não. Eu estava desambientado, era anacrônico, vivia fora do meu tempo... Mas agora acredito. Sou otimista. Sim, rapaz! Excusa de fitar-me com esses olhos assombrados! O otimismo não é apenas um sistema filosófico, mas uma doutrina social e até, às vezes, um programa político. Não tivesse acreditado e, a esta hora, eu estaria nos porões da vida, comendo o pão que o diabo amassou, com a mesma voracidade com que, outr’ora, comi gafanhotos num deserto da Ásia, quando andei descompondo fariseus e saduceus. Se, naquele mês fatal do ano 44, pouco antes da Páscoa, eu tivesse exalçado as virtudes inconspurcáveis de Herodias e louvado o saber infinito de Herodes, em lugar de anatematizá-los desastradamente — eu seria, no mínimo, dias depois, um figurão do Sanhedrim, julgando e condenando os malvados que crêem na regeneração dos homens e que lutam pela perfeição do mundo...
Ergui-me, frio e arrepiado. O sr. Jokanaan sorria, mefistofélico e enigmático, dentro do seu “smocking”, junto à tela estranha.
— Esse quadro...
Ele riu:
— É Salomé. Comprei-a, há tempos, de um judeu. Mas, como era muito grande, mandei cortar-lhe a cabeça. Não pense que foi vingança! Oh, não! Coincidência...
Estendi ao sr. Jokanaan um braço trêmulo. Ele apertou-me a mão, grave, e pediu-me:
— Não vá contar lá fora que eu lhe disse essas coisas. Há certas verdades que...
Cortei-lhe a frase com esta pergunta romana:
— E... que é a verdade?
— Há dois mil anos, diante de Pilatos, no Sanhedrim, o meu primo Jesus não quis responder. Mas eu lhe digo: a verdade é uma sementeira de frases que fazem nascer inimigos...
Sai. Na rua, respirei desafogado. E exclamei para mim mesmo:
— É um doido...
Dei alguns passos para a esquina, considerando. E achei-me com esta interrogação nos lábios:
— Mas... doido por que?
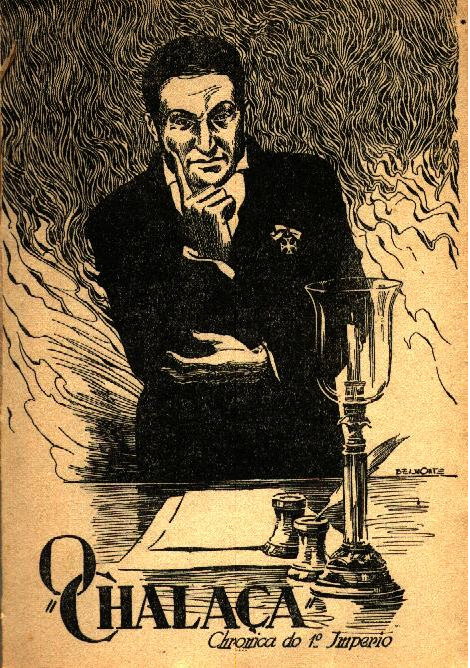
O “Chalaça”
Os sobradões de azulejo e as casuchas de taipa da cidade, dormem. Nas betesgas desertas, imersas no silêncio e na sombra, os velhos lampiões de azeite, tremeluzindo a custo, debuxam largas manchas de luz mortiça. Nos largos beirais das casas trissam morcegos e, ao fundo, a luzinha de um oratório suspenso num cunhal de pedra, agoniza aos poucos, dentro da penumbra morna.
Apenas dois vultos cruzam as vielas lôbregas. Vêm, ambos, envoltos em amplas capas negras, o rosto oculto sob o largo sombrero de feltro. E falam:
— Vossa Alteza vai ver. É uma das mais curiosas tabernas da cidade..
— E é, também, a única que ainda não conheço.
Estugam o passo.
Já, porém, na entrada da rua de Viola, estacam, pávidos, ante o tumultuário clamor que irrompe da estalagem da “Corneta”.
— Que é isso?
— Ora, aí está! Perdemos a nossa noite!
Da hospedaria, erguem-se gritos e ruídos chocantes de vidros que se partem e cadeiras que se quebram. Vultos irrompem lá de dentro, perseguidos por milicianos, e afundam-se nas trevas da noite, em correrias desapoderadas.
É o intendente João José da Cunha que está dando uma batida na estalagem. Está — segundo ele costuma dizer — mantendo a ordem.
— E agora?
— Fujamos, antes que a polícia encontre Vossa Alteza aqui.
Enrolando-se, cautelosamente, na ampla capa negra e enterrando mais o sombrero paulista na cabeça, D. Pedro I dispara, rua abaixo, dentro da noite, seguido de perto pelo camareiro resfolegante.
Longe, na torre dos Capuchos do Castelo, um sino sonolento badala as nove horas.
* * *
Na semana seguinte, D. Pedro insiste:
— Vamos hoje?
— Mas, Alteza, o salão ainda tem visitas. Lord Strangford, pelo menos, ainda não se foi.
— Que importa? Iremos nós.
Tomou a capa e o chapéu vareiro, atravessou o longo corredor, cauto e trêmulo, na enervante e deliciosa emoção de um presidiário que tenta uma evasão difícil, chegou à “sala dos pássaros”, abriu o alçapão, desceu por ele e ganhou a alameda de bambus.
E rumaram para a rua da Viola.
A noite estava enfarruscada e úmida, cortada por um sudeste frio que fazia curvar as chamas moribundas dos lampiões de azeite.
— Se o Cunha não nos atrapalhar ainda desta vez...
— Não creio.
— Mas porque chamas a essa estalajadeira de Maricota Corneta?
— O nome dela é Maria Pulcheria. O marido era corneteiro do antigo corpo de infantaria. Mas morreu.
— E que tem isso que ver com o nome dela?
— Tem, porque o marido, ao morrer, lhe deixou, como herança, a corneta com que dava ordens ao batalhão. De posse da herança, a Maricota, muito saudosa, resolveu perpetuar, de uma forma absolutamente inédita, a memória do esposo. E assim, à hora das refeições, ao enves de chamar os hóspedes para a mesa, com repiques de sineta, a excelente Pulcheria resolveu chamá-los a toque de corneta, heroicamente, como se comandasse batalhões em vésperas de batalhas épicas. Daí o apelido.
— Essa é boa!
Haviam chegado. Empurraram a porta.
Lá de dentro saia um vozear confuso, de permeio com um bafo morno de suor e vinhaça. A clientela de Maricota Pulcheria não primava pelas boas maneiras: era, pelo contrário, da mais baixa estirpe, composta, quase toda, de capoeiras desabusados e rascoas de má fama.
D. Pedro entrou. Atrás dele, o seu camareiro, um latagão robusto que lhe fazia as vezes de capanga nessas sortidas aventurosas.
Sentaram-se a uma das mesas. D. Pedro, embuçado na capa, com a larga aba do sombrero derreada sobre o rosto, lançou um olhar pesquisador em torno: cafusos semi-bêbedos, às voltas com michelas esbagaxadas, em discussões galhofeiras, espoucantes de chalaças torpes; portugas de suíças, metidos em ferragoulos de sarja, marafonas de soprilho, rinchavelhando, às guinadas; negros de zuarte ou droguete, catingando, suados...
A uma das mesas, sentado nela, um negralhão troncudo, ex-escravo do Paço, cantava lundus brejeiros, acompanhando-se ao violão. Ao seu lado, rindo e pilheriando, atirando a esmo graçolas de ilhéu destabocado, um português gordalhufo, de cabelos à “brosse-carrée” e olhinhos piscos de malandro, fazia refrão às sandices rimadas do troveiro, desmandibulando de riso a assistência.
— Aí, Januário! Canta uma, agora, em homenagem a esta cafuza dos diabos!
E o José Januário, ferindo as cordas de aço, grunhia, mais do que cantava, a trova pedida, numa improvisação de repentista exímio, acentuando as rimas e sublinhando a pornorréia indispensável.
Foi quando, olhando para o lado, viu os dois vultos sentados, um dos quais se agasalhava numa grande capa paulista. E não se conteve. Encarando o suposto piratiningano, o cabinda tangeu os bordões e cantou:
Paulista é bicho bisnau;
Não tem fé nem coração.
É gente que se leva a pau
A sopapo ou pescoção.
As gargalhadas estrondaram. Todos os olhos se voltaram para o homem da capa. Rápido, num gesto violento e resoluto, D. Pedro arrancou o chapéu, desfez-se da capa, pôs-se de pé e berrou para o seu capanga, numa voz que não admitia hesitação:
— Meta o pau nesses canalhas!
Houve um corre-corre apavorado. Cadeiras caíam, copos partiam-se, e vozes sussurrantes gaguejavam pelos cantos, pávidas:
— É o Príncipe!
O camareiro, já agora armado, além do cacete, da sua grande força moral sobre a gentalha desnorteada, ergueu a bengala e avançou. O negralhão, num relance, précipite como um diabo de mágica, deu um pinote e desapareceu pelos fundos. Outros, sumiram-se como puderam, saltando mesas, pulando janelas...
Apenas um ficou; o português das suíças. Contra ele investiu o camareiro, brandindo o cacete. O outro esperou-o. E, quando o capanga desceu a bengala, o trocista de há pouco aparou o golpe com o braço e, desconjuntando-se em gingadas de capoeira, riscou à flor do chão, com a perna direita, um “corta-capim” de mestre, que atirou o agressor ao solo. Tomou-lhe o varapau, atirou-o pela janela, apanhou o camareiro pelos cós da calça, ergueu-o sem custo e foi jogá-lo no quintal, pela porta dos fundos.
Feito isso, com a serenidade imperturbável de quem se habituara a feitos semelhantes, voltou-se para o príncipe que tremia de fúria, curvou-se até quase o soalho, com a mão direita sobre o coração numa reverência grotesca, e exclamou:
— Francisco Gomes da Silva tem a honra de apresentar a Vossa Alteza os seus respeitos e os seus serviços.
Endireitou-se. E, sorrindo:
Se Vossa Alteza não quiser aceitar-lhe os serviços, aceite ao menos os respeitos, que não custam nada.
O Príncipe sorriu. O Francisco riu:
— Vejo que Vossa Alteza aprecia os aristocratas da valentia. Cá comigo é assim: em se me subindo o sangue aos miolos, quem estiver à frente, sem sangue azul, que azule, qu’eu vou-lhe às ventas!
D. Pedro, rindo mais, estendeu-lhe a mão:
— Chalaça! Tu és um homem!
— Um homem, propriamente, não. Um simples barbeiro. Mas quando eu era criança minha tia costumava dizer-me: — Menino! Tu, um dia, encontrarás um príncipe encantado que te fará comendador.
O príncipe desmandibulou-se numa transmontiníssima gargalhada:
— Pois, meu caro comendador Chalaça! Vamos para o palácio!
* * *
O “salão” de barbeiro da rua do Piolho fechou-se, e o Chalaça, com seu velho baú de guardados e a sua canastra de roupas, transferiu-se para o Paço de S. Cristovão.
— Não houve boca que não se escancarasse, nem olhos que não se aparvalhassem, no mais indescritível dos espantos. E as cafuzas do fandango, quando passavam pela lojinha fechada, entreolhavam-se misteriosamente, com um vago terror supersticioso e interrogavam-se:
— Será que a tia do “peste” era feiticeira?
Talvez... O certo, porém, é que o Chalaça realizava a escalada triunfal na vida.
* * *
Por essa época, D. Pedro proclamara a independência do Brasil e, forçoso é dizê-lo, a independência do amigo.
Iniciando-se na vida pública como Oficial da Secretaria dos Negócios do Império e com a Comenda da Ordem de Cristo e a condecoração do Ordem do Cruzeiro ao peito, o extraordinário ex-barbeiro, que alimentava aspirações mais altas, prosseguia no seu trabalho de conquistar, do modo mais completo, as boas graças do Imperador.
E conquistou-as, à custa de pilhérias, de intrigas, de inteligência, de lealdade, de dedicação, de honestidade. Era esse homem quem cuidava dos negócios particulares do amo, quem o aproximava de damas formosas, quem lhe comprava as brigas... E assim, funambulesco mas útil, chalaceador mas valente, o ex-artífice tonsorial foi Intendente Geral das Cavalariças, Secretário do Gabinete Imperial, Comandante da Imperial Guarda de Honra, Conselheiro de Estado, Comendador Honorário da Ordem da Torre e Espada, Comendador da Ordem de Cristo e de S. Leopoldo, concessionário da exploração do ouro e Oficial da Ordem do Cruzeiro.
Mas a ascensão gloriosa do rude artista das tonsuras, escandalizava a austeridade da Corte. E desencadeou-se sobre o extravagante Conselheiro, uma perseguição tremenda que culminou nas imposições violentas de Barbacena ao Imperador, quando este, querendo galardoar mais ainda o desengonçado cortesão, tentou lavrar um decreto nomeando-o Marquês.
— Hein! Marquês! O Chalaça!?
— Sim, ele tem sido um servidor dedicadíssimo...
— Pois Vossa Majestade mande lavrar o decreto. Eu, como primeiro ministro, não o referendo!
— Não referenda?
— Não! E mais: se Vossa Majestade quer que eu continue no ministério, tem que salvar a dignidade da Corte: mande despedir esse barbeiro!
D. Pedro não resistiu à pressão. Poucos dias depois, a Côrte exultava com esta notícia: Francisco Gomes da Silva partia do Brasil. Mas a exultação palaciana não durou muito. O ex-barbeiro partia, mas como Ministro Plenipotenciário do Brasil na República de Nápoles.
Partiu. Investiu-se de suas graves funções. E de lá, certo dia, enviou uma carta ao Imperador, fazendo tremendas acusações a Barbacena!
Pedro I chama o marquês. Exige-lhe explicações. Caldeira Brantd aparvalhado, titubeia, hesita, gagueja. O Imperador acusa-o, insulta-o, demite-o.
Lá longe, na maciez de sua Legação, o barbeiro sorria...
E aqui, as rascoas do fandango, emborcando vinhaça na adega da “Corneta”, exclamavam entre frouxos de riso:
Eta barbeiro danado! Cortô o cabelo do Brazir à escovinha!...
ÍNDICE
Este livroMorrer por amor
Uma revolução muito séria
A vingança do homem
Os porcos da Polônia
É proibido casar!
A trombeta de Josafá
Carta aberta
Conto de Natal
“Gleichschaltung’
França, desperta!
A alta Silésia, o Sarre e Salomão
A “próxima” guerra
A “Carioca”
Os “profiteurs
Os alemães e a guerra
Os bandeirantes renanos
O perigo amarelo
Os homens supersticiosos
Ilusão e realidade
A criança de rabo
Coisas de vida
Nós e eles
O crânio do rei Makaua
Morrer por morrer
Vício e Virtude
Coisas do século
O evadido da liberdade
“Port-Tarrascon”
Os canhões do Papa
A culpa do “chômage”
O “negócio da China” do Japão
A Abissínia e a Austrália
Esquerda e direita
O Japão de Pierre Loti
O herói nacional
Crônica eqüestre
O dia de descanso
Doutrinas econômicas
Mercedes Simone
Os presos
Os hospitais e a música
Unidade nacional
Uma história singular
Coisas do Brasil
Drama galináceo
Riqueza!
Getúlio usurpador!
Subscrição
Paralelismo
Os eqívocos
Os maus alunos
Idéias de um homem prático
Igualdade dos sexos
Os camelos
Coisas sérias da Assembléia
A hora do Vício
O jornal o seus anúncios
Crimes contra e beleza
Saias abaixo!
O homem que perdeu a cabeça
O “Chalaça”
Notas
[1] — Esta crônica foi publicada em 27 de outubro do 1933. E agora, dois anos depois, pode-se constatar que o comentarista foi profeta... Apenas, não se trata do Oriente...
[*] — No exemplar em papel, texto "empastelado": comen me- e segue-se história. [Nota do editor]
NOTA DE COPYRIGHT
Esta edição é feita em “fair use”, atribuindo o copyright da obra ao Autor (portanto a seus sucessores) e em benefício de um direito moral do autor infelizmente não contemplado pela Lei 9.610 de 19/02/1998 [Lei dos Direitos Autorais].
Ela não menciona, entre os Direitos Morais do Autor (Artigo 24) o mais importante dentre eles, como qualquer autor sabe: o de ter sua obra divulgada, em vida e, principalmente, após sua morte.
Caso haja, nesta publicação, a violação de qualquer direito patrimonial (o que não acreditamos, visto a obra não ter sido republicada há decênios e a presente edição estar sendo disponibilizada com cessão pública, que aqui fica declarada, de todo e qualquer direito patrimonial sobre ela, só podendo ser disponibilizada gratuitamente), o detentor legítimo de tal direito, ou quem tiver conhecimento de algum, está cordialmente convidado a enviar seu e-mail a livros@ebooksbrasil.org para que o presente título seja prontamente retirado da apreciação pública e possamos informar aos apreciadores da obra de Belmonte onde poderão adquiri-la.
©2001 — eBooksBrasil
Versão para eBook
eBooksBrasil
__________________
Agosto 2001
Proibido todo e qualquer uso comercial.
Se você pagou por esse livro
VOCÊ FOI ROUBADO!
Você tem este e muitos outros títulos
GRÁTIS
direto na fonte:
eBooksBrasil.org
Edições em pdf e eBookLibris
eBooksBrasil.org
__________________
Março 2006
eBookLibris
© 2006eBooksBrasil.org
