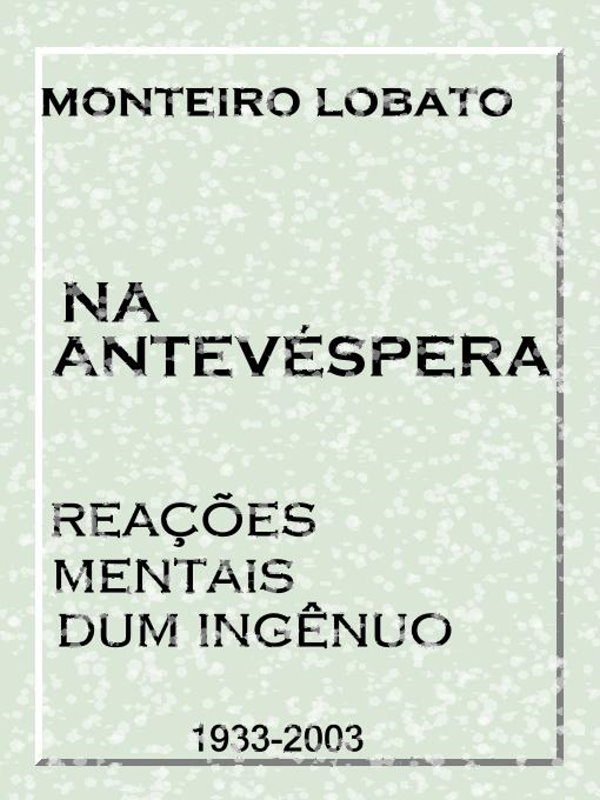
Na Antevéspera
Reações Mentais dum Ingênuo
Monteiro Lobato
Versão para eBook
eBooksBrasil.org
Fonte Digital
Digitalização da 1a. edição em papel
Companhia Editora Nacional
São Paulo
1933
Ver a Nota de Copyright
USO NÃO COMERCIAL * VEDADO USO COMERCIAL
© 2003 — Monteiro Lobato
Nota Editorial
Nota de Copyright
NA ANTEVÉSPERA
Índice da Obra
NOTA EDITORIAL
Diz Monteiro Lobato, no prefácio: “Neste livro está enfeixada uma série de reações ocorridas num período bem atormentado da vida brasileira. Todos sentíamos um terrível e indefinível mal ambiente. Um cheiro de fim. Era a República Velha que agonizava na presidência Bernardes.”
Do Prefácio à última linha deste livro, publicado pela primeira vez em 1933, pelo próprio autor e editor, muito, mas muito mesmo, pode ser útil às presentes gerações. Setenta anos se passaram... mas, com certeza, os brasileiros e brasileiras de hoje reconhecerão nas mazelas de então as de hoje, e vice-versa.
Recomendo, particularmente, a leitura de País de Tavolagem, Bacillus virgula, Novo Gulliver, O nosso dualismo, Catulo — voz da terra, Amigos do Brasil... e todos os demais!
É de Amigos do Brasil que nos vêm estas palavras de esperança, úteis então e hoje:
“Tolice é desesperar. (..) É noite? Não importa. Também de noite se trabalha e não há trabalho mais abençoado do que o que se faz dentro da noite para apressar a vinda do dia claro. E é trabalhar para um dia melhor meter mãos à obra da difusão literária.
Os morcegos passam e os livros ficam.”
Na Antevéspera é uma prova disso. Talvez, hoje, não tenha valor mercantil, talvez por isso não esteja disponível em cola e papel, coisa mais que compreensível em tempos de notoriedade dos dramas córneos de ex-primeira dama americana... Mas idéias, já o dizia Lobato, “são ondas hertzianas. Cada cérebro vale por emissor e receptor, sem antenas visíveis e de infinita potencialidade.” Este livro está cheio delas.
Boa Leitura!
P.S.: Este livro está pronto, como se pode ver, desde 2003. À época, “estava no prelo”, informava o site da editora. Lá se foram cinco anos... continua no prelo. Lobato não merece, nem a cultura brasileira. Com todas as ressalvas aos direitos patrimoniais (ler nota de copyright abaixo), em respeito aos direitos morais do Autor, “NA ANTEVÉSPERA”. E assumo a carapuça do subtítulo: “Reações Mentais dum Ingênuo” — estou em boa companhia.
Teotonio Simões
eBooksBrasil
NOTA DE COPYRIGHT
José Bento de MONTEIRO LOBATO faleceu em 1948. Portanto, rigorosamente, só poderíamos publicar este eBook gratuitamente a partir de 2018... talvez. Mas, também talvez, não sei se estarei ainda vivo para fazê-lo. E é hoje, no presente, para a geração de hoje, que as idéias de Monteiro Lobato, tão bem expressas em Na Antevéspera são necessárias.
Infelizmente, na procura que fizemos pelas livrarias virtuais, esta obra não está disponível. Resolvemos, então, editá-la com esta nota de copyright:Esta edição é feita em “fair use”, em benefício de um direito moral do autor infelizmente não contemplado pela Lei 9.610 de 19/02/1998 [Lei dos Direitos Autorais].
Ela não menciona, entre os Direitos Morais do Autor (Artigo 24) o mais importante dentre eles, como qualquer autor sabe: o de ter sua obra divulgada, em vida e, principalmente, após sua morte.
Caso haja, nesta publicação, a violação de qualquer direito patrimonial (o que não acreditamos, visto a obra não ter sido reeditada recentemente e a presente edição estar sendo disponibilizada com cessão pública, que aqui fica declarada, de todo e qualquer direito patrimonial sobre ela), os detentores legítimos de tal direito, caso se sintam lesados, estão cordialmente convidados a enviar e-mail para livros@ebooksbrasil.org para que o presente título seja prontamente retirado da apreciação pública e possamos informar aos apreciadores da obra de Monteiro Lobato onde poderão adquiri-lo.
MONTEIRO LOBATO
NA
ANTEVÉSPERA
Reações mentais
dum ingênuo
Prefácio
Escrever é anotar reações psíquicas. O escritor funciona qual antena — e disso vem o valor da literatura. Por meio dela fixam-se aspectos da alma dum povo, ou pelo menos momentos da alma desse povo.
Neste livro está enfeixada uma série de reações ocorridas num período bem atormentado da vida brasileira. Todos sentíamos um terrível e indefinível mal ambiente. Um cheiro de fim. Era a República Velha que agonizava na presidência Bernardes.
A revolta surda que em toda gente latejava explode nas reações do escritor sob forma de cólera represa, de sarcasmo, de simpatia pela Rússia de Lenin, de anseio vago por uma revolução que viesse quebrar a sórdida cristalização leda e cega em que vivíamos desde 89.
A espaços, fugas para o passado — para o passado nosso e para o passado da França, visto como para o brasileiro daquele tempo (e talvez ainda para o de hoje) havia o Brasil aqui e a França lá fora. Fugas que nos aliviassem do mau presente.
E a revolução sentida no ar veio — para o que ainda não sabemos. A experiência está a processar-se. Impossível determinar se houve ganho dalguma coisa ou não.
Na aparência desordenada e desunificada deste livro de impressões dadas em jornal — pelo O JORNAL de Assis Chateaubriand e pela A MANHÃ de Mario Rodrigues — há uma estranha unidade, denunciadora do estado de espírito dos tempos.
Na Antevéspera era livro que devia sair em começos da presidência Washington. E que não saiu por uma razão bem de cabo de esquadra: falta de título. Preguiça, desânimo de descobrir um título. Por fim os originais se desgarraram, sumiram-se — e assim sumidos passaram vários anos. Um dia encontrei-os, amarelecidos pelo tempo, atrás dum armário. Reli-os com extrema curiosidade.
— Onde já lá vai tudo isto! foi o o comentário da saudade.
Durante esses anos de interregno o autor viveu fora do país, voltando para vê-lo com o grande sonho da Revolução realizado. E sentiu-se um pouco mais triste do que antes.
Que as revoluções revolvem, sabemos. Mas que não melhoram o material revolvido ficamos sabendo. Creio que hoje há por aqui mais tristeza, mais desespero resignado porque andamos todos a sentir que a grande coisa para a qual sempre apelávamos parece que falhou. E se falhou, para que mais apelar?
Entra, ainda no livro uma coisa que não é daquele tempo. Servirá para mostrar como resistem, subsistem e insistem na República Nova certos mancais técnicos, arquigastos, da República Velha.
Manuelita Rosas
Manuelita Rosas, a filha única de Don Juan Manuel Ortiz de Rosas, esse homem de gênio, o mais belo, o mais forte, o mais hábil do seu tempo na América (para nós ainda hoje apenas o “tirano Rozas”, com “z”, da História do Brasil com “z”, de Lacerda), foi um caso notável de reequilíbrio biológico. De Vries, Mendel e outros entendidos em hereditariedade veriam nele uma resultante lógica do ardente punzó materno e do frio azul paterno, formando o mais suave e tranqüilo lilás, graças a um salto regressivo aos avós, Dona Agustina e Don Léon, tipos de fidalgos do século dezoito.
Para definir o caráter e a finura destes ancestrais basta um trecho de carta do pai ao filho, reeleito para uma função governativa: “Amado filho, é de necessidade que venhas ver tua mãe e trates com teus melhores meios de desimpressioná-la dos efeitos que tem causado em sua imaginação a notícia da tua reeleição para o governo. Seus suspiros contínuos me cortam a alma”...
É um “nec plus ultra” de finura século dezoito, suspirar a velha porque o filho subiu ao governo, e alegar o velho, como razão decisiva, esses suspiros que lhe traspassavam a alma...
Vem assim ao mundo Manuelita como revanche da natureza assustada diante de duas criacões fortes em excesso.
Rosas foi o gênio da premeditação implacável, o calculista frio, a razão que jamais erra, pois não se ilude a respeito de nenhum dos valores psicológicos que compõem uma coletividade.
Em Los Cerrillos teve esse homem a mocidade ocupada numa tarefa que não passou de aprendizagem de governo.
Darwin, que pernoitou nessa estância de setenta léguas quadradas, diz que ao avistar-lhe a sede teve a impressão de uma cidade com a sua fortaleza; notou ainda que os moradores eram de tal modo disciplinados e aguerridos que a estância estava a coberto de todos os ataques dos índios.
Nessa escola, verdadeira miniatura do país, Rosas estudou os homens, compreendeu-os e apreendeu as linhas gerais da técnica de conduzi-los. Impôs-se a todos pela força física, tornando-se o melhor cavaleiro, o melhor amansador de potros das redondezas; vestia e falava à moda gaúcha, de cheripá, jaqueta e poncho, sabendo, entretanto, manter a distância; era o chefe completo pela norma que a natureza indica, a um tempo protetor e verdugo, juiz e pai, distribuidor do bem e do mal. Afável e severíssimo, risonho e terrível, amenizando fulminações de Júpiter com bromas de bufão, criou o fanatismo da sua pessoa e a obediência cega. O cacique Cachuel dizia, exprimindo o modo de pensar comum: “Juan Manuel nunca nos enganou. Eu e toda a minha tribo morreremos por ele. Sua palavra é o mesmo que a palavra de Deus”.
Este estado de espírito, conseguido no feudo à força de compreensão psicológica e de rigor justiceiro, deu-lhe ali o comando único, temporal e espiritual.
O caso de Rosas é virgem na história. Vence por hipertrofia do seu feudo. As terras vão-se-lhe aumentando sempre, pela aquisição de novas estâncias, e com elas vai crescendo o seu prestígio e o número dos súditos agregados. Infatigável, e dotado de uma capacidade de trabalho que só tem parelha na de Bonaparte, Rosas é um proprietário que à custa de diligência cresce a ponto de acabar dono de todo o país.
Seu feudo torna-se um estado dentro do Estado; um Estado organizado, disciplinado, eficiente, onde todos percebem a mão construtora e a cabeça firme do chefe, dentro de um Estado em desordem, presa do permanente tremor de terra político de um liberalismo ideológico, rico em palavras sonoras, mas incompreensivo e incapaz de implantar a ordem.
O estado nuclear de Rosas, ordenado, cresceu tanto à custa do seu rival desordenado, que terminou por substituir-se a ele. Rosas não assumiu a ditadura de assalto, o que é a regra; a Argentina é que veio aos poucos colocar-se sob o regime por ele criado para Los Cerrillos. E como chefe supremo da nação agiu com a mesma segurança, aplicando a mesma técnica que a experiência lhe ensinara como a melhor para a direção da estância. É inimigo? Elimina. É boi, cavalo bravo? Amansa, mete na canga. É díscolo? Olho da rua. A prova da excelência do sistema foram os vinte e tantos anos de ordem que o país teve, período que permitiu o surto das riquezas pastoris e preparou a base econômica da Argentina atual.
Rosas varreu do país o liberalismo palavroso. Uma fórmula simplicíssima dizia tudo, entrava cabeça a dentro ao mais bronco e tornava inúteis a arenga comprida, o discurso, a justificação, mil coisas complicadas e ineficientes. Essa fórmula começou assim: “Mueran los salvajes unitarios”. Unitário abrangia tudo quanto era anti-rozista, o poeta autor dum soneto desagradável ao paladar do déspota, o padre que murmurava no sermão contra um ato seu, o filósofo que filosofava sobre as necessidades da pátria, etc. Mais tarde, para combater a onda crescente do liberalismo tiririca, que brota sempre por mais que a enxada lhe corte as raízes, enfeitou a fórmula mágica de mais dois adjetivos: “Mueran los salvajes, asquerosos, imundos unitarios”.
Isto, para vencer a imaginação; para vencer o músculo criou a mazorca, espécie de fascismo desenfeixado e sem organização militar. Era a matilha da plebe, que funcionava aparentemente por conta própria, mas de fato açulada pelas habilíssimas sugestões do ditador. Com estes simples ingredientes Rosas alijou da Argentina o liberalismo, encurralou-o no exílio e pôde à vontade organizar Los Cerrillos transformado em Argentina.
Mas a máquina de dominar (havia ainda duas peças, os bufões Don Eusebio e Biguá) revelou-se falha.
A Argentina inteira não era, como Los Cerrillos, composta só de peões. Havia nela uma elite que, embora pequena, significava muito; havia ainda o elemento estrangeiro, os diplomatas, os viajantes ilustres, escol para cuja coação não bastava a fórmula mágica. Esse elemento sutil não vai pela força; quer ceder pela sedução.
Entra em cena a sedutora: Manuelita, herdeira de todas as qualidades nobres do pai, acrescidas umas, modificadas outras, e herdeira também do senso da oportunidade que caracterizava sua mãe.
Dona Encarnacion Escurra foi uma virago de alta potência, bem merecedora do cognome de Heroína da Federação que lhe conferiu Rosas. Era feia, máscula, mulher de armas levar, exaltada, violenta, maliciosa, suspicaz, sem o menor toque de graça ou langor femininos. Foi uma companheira de Rosas escolhida a dedo pelo Destino. Sem ela talvez Rosas não vencesse, como sem Manuelita talvez não se prolongasse tanto a sua dominação. E os fados, sábios em suas combinações, fizeram desaparecer da cena a mulher violenta no momento preciso em que, obtida a vitória, era mister consolidá-la, papel prescrito não mais à mãe e sim à filha.
Rosas, para que sua auréola crescesse sempre, morava longe das cidades onde seus rivais se consumiam pelo atrito. Vivia ou nas estâncias ou em campanhas contra os índios — o mesmo truque de Napoleão com a sua campanha do Egito. Crescia-lhe assim o prestígio, insuflado pela notícia de feitos bélicos que a distância ampliava.
Mas Rosas, como Bonaparte, nada deixava ao acaso e, embora sempre longe do cenário político e como alheio a tudo, de fato manobrava todos os cordéis por intermédio de Dona Encarnacion.
Era o tipo da agitadora, esta mulher, da intrigante habilíssima que não escolhe meios e vai como a seta ao alvo. Aliciava, comprava adeptos, tramava, matava, espancava — uma verdadeira fúria esquecida a Ariosto.
Todas as cóleras e ódios chamava-os para sua cabeça, desviando-os assim da cabeça do seu marido — tão longe, o coitado, a desbastar índios no deserto...
Para ilustração do caráter desta heroína basta a leitura de uma das suas cartas ao marido:
“A mulher de Balcarce (era o governador que os restauradores queriam derrubar) anda de casa em casa vomitando tempestades contra mim; o menos que diz é que vivo na dissipação e no vício e que tu me olhas com a maior indiferença, e que por isso não cuido de conter-me. Elogia-te o quanto degrada a mim; este é o sistema, porque a eles lhes dói, por seus interesses, perder-te e porque ninguém dá a cara do modo que eu a dou. Mas nada se me dá de tais maquinacões; tenho bastante energia para contrabatê-las; só me faltam tuas ordens, que em certos casos as supre minha razão e a opinião de teus amigos, a quem ouço e classifico conforme valem, pois a maioria de casaca tem medo e só me faz o “chambalé”... Tagle (ministro de Balcarce) mandou pedir-me uma conferência, que só desejo para cortar-lhe as orelhas”...
E esta outra:
“Um mulato, Carranza, muito unitário, foi para o exército; dizem que te leva um barril de azeitonas; não as comas sem que alguém o faça primeiro, não sejas tolo... Mando-te os pasquins saídos estas últimas noites. Miñana foi para o Norte muito bem instruído sobre o modo como deve agir (para a revolução restauradora): se o descobrem estes malvados (os do governo) me lançarão a culpa a mim, mas isso pouco me importa. Por toda a parte “tienen bomberos”; um dos que espiam nesta casa é o “pícaro” de Castañon, o edecán, porém no dia em que o pilhe hei-de metê-lo dentro e “le he de pegar una soba”... Don Elias não aparece, creio que anda “cubileteando” porque me tem muito medo”.
E mais este trecho de outra carta, em que narra a invasão da casa do cônego Vidal, elemento contrário à política de Rosas:
“Tiveram muito bom êxito os balázios e o alvoroço que mandei fazer no dia 29, pois disso resultou que se vai embora para sua terra o fascinoroso cônego Vidal”...
Não é preciso mais nada para definir a poderosa auxiliar de Juan Manuel, executora das suas ordens e pára-raios dos ódios que ele atraía. A atuação foi perfeita e oportuníssima. Fez-se a revolução, Balcarce foi derrotado e organizou-se um interinato fragílimo, mero guarda-cadeira que viveria até que viesse tomar o leme do comando o comandante nato. Rosas aparece então preguiçosamente, como quem não quer, rogado e implorado pela nação inteira de mãos postas. A sua técnica, como a de Bonaparte no Egito, produziu um resultado maravilhoso. Tornou-o único no meio da multidão de políticos estragados pelo uso e enfraquecidos pelas rivalidades. Veio do deserto como um triunfador e displicentemente acedeu ao clamor deplorativo das rãs que pediam rei, dando à Argentina a honra de presidir os seus destinos.
Vencer, como ganhar dinheiro, não é tudo; resta a segunda parte, conservar, que é muito mais difícil. Na primeira teve Rozas o instrumento ideal em Dona Encarnacion Escurra. Esse papel primacial caberia na segunda a Manuelita.
Resultante de duas forças extremadas, raiz e tronco, veio a flor com o seu perfume, o brilho das suas cores, a sutileza da sua inteligência, a sedução da sua plástica embelezar a tirania de Rozas durante largos anos, tornar-lhe possível a duração e transmitir ao futuro o ensinamento de que os droguistas americanos, os Ayer, os Reuter, tiraram tão ótimo partido: o açucarado e o dourado sobre a pílula amarga. Manuelita foi a fina flor de sentimento e razão que açucarou e abrigou uma das mais longas ditaduras da América.
Não se diria bela a filha de Rosas, no sentido grego da palavra; possuidora entretanto de todas as sub-belezas filhas da Graça e da Distinção, valia por belíssima. Beleza moderna, em suma, teia muito mais de prender olhos e coração do que a inexpressível, inumana e desinteligente beleza da Vênus de Milo. “Su mirada es vaga”, diz um contemporâneo, “y sus ojos, como su cabeza, parece que estuvieram siempre movidos por ei movimiento de sus ideas”. Era alta, morena, pálida, tinha abundantes cabelos negros e o ar mais distinto e elegante que se possa imaginar — diz Ventura de la Vega, que a conheceu em Londres. E acrescenta: “Su conversacion es franca, pero muy fina y con golpes de talento que dejan parado”.
Neste traço final está toda Manuelita e o segredo da sedução que exerceu sobre quantos se lhe aproximaram. Vibrava em seu rosto a beleza d’alma de mistura com a força da inteligência. Aqueles “golpes de talento que dejan parado” explicam melhor que longo discurso o prestígio de fada que a nimbou durante a vida inteira.
Valeram-lhe talvez este fato raro: passar pela tirania mais conspurcada da época sem que o acérrimo ódio a Rosas ousasse espirrar em seu regaço o menor respingo de lama.
A meninice de Manuelita foi o que podia ser uma meninice num agitado lar de caudilho — lar de carinho sem ternura e união sem delicadeza. Era a casa de Rosas um permanente quartel de conspiradores e fanáticos do mais variado pêlo, e até dos seus aposentos ouvia a menina o rumor das armas, o vozeio da turba em exaltações a seu pai, com o entremeio das arremetidas de Dona Encarnacion em constante vociferar contra os unitários.
A fúria política varria a Argentina, forçando aquela infância melancólica a assistir a tremendos dramas de sangue e brutalidade, como a revolução de Lavalle e o fuzilamento de Dorrego.
Sua sensibilidade, rica de todas as finuras, recolhe-se consigo ao bafo recrestante de tal ambiente — e Manuelita sazona antes do tempo, qual manga verde metida em abafo morno de cinzas.
É contingência do caudilhismo político esteiar-se nas piores borras humanas. A casa de Rosas refervia de caudilhetes de bairro, fósforos eleitorais, cabos de motim, negros e mulatos espiões — futuras peças da Sociedade Restauradora e da Mazorca.
Nesse tempo abundavam em Buenos Aires os negros, encurralados nos subúrbios em zonas turbulentas, chamadas “bairros del tambor” em vista do constante tam-tam dos candomblés. Organizados em colônias de minas, mandingas, moçambiques, benguelas, congos, cada nação tinha lá seu rei, sua rainha de beiçarra e suas usanças d’África.
Rosas corteja-os, vendo nessa bárbara plebe de linhite boa matéria prima para a máquina de compressão social que já idealizava. Em carta à esposa estabelece tal política:
“Já deves saber o que vale a amizade dos pobres (referia-se aos negros) e o quanto importa conservá-la sem desdenhar meios de atrair e cultivar suas vontades. Não cortes pois com eles.
Escreve-lhes, manda-lhes presentes sem que te doa gastar com isto.
Digo o mesmo a respeito das mães e mulheres dos negros e mulatos que nos são fiéis. Não deixes de visitar as que o mereçam, nem de socorrê-las em suas desgraças. Aos fiéis que já te hajam servido deixa-os que joguem bilhar em casa e obsequia-os como puderes”.
Manuelita, já utilizada pelos pais como força de sedução, era mandada à sala do bilhar, onde devia sorrir para aqueles “tertulianos” de cujas bocas só saiam sandices e “palabrotas”. Também ia, a convite, presidir tertúlias negróides, festas que não principiavam antes que a princezinha chegasse.
Iam buscá-la em préstitos. Conduziam-na a tronos. Só então começavam as danças, os cantos, a música, a vociferação sempre afinada pelos mesmos temas: louvores ao Magnânimo Restaurador das Leis e morte aos selvagens, imundos, asquerosos unitários.
Não se dispensava Rosas da colaboração feminina, revelando nisto sua alta intuição da psicologia humana. A esposa lhe servira às maravilhas enquanto o problema fora escalar o poder; sua tática, com base na dissimulação, exigia comparsa fidelíssimo, identificado em absoluto com os seus interesses e capaz de executar, a mandado e por inspiração própria, todo um maquiávelico plano de golpes enxadrísticos. Uma vez guindado ao poder, todavia, dispensava-se de uma Cerbera ao pé do trono, a rosnar, nem era esse o papel para que a natureza melhor adequara Dona Encarnacion.
Tratava-se de conservar o poder e isso exigia ingredientes mais fluídicos, essências que a alma da Heroína da Federação, demasiado violenta, não sabia estilar. Nascida para o assalto, para acometer, para “pelear”, ignorava o sorriso que descrispa os dedos agarrados ao punhal; ignorava a clemência que amaina o furor das paixões como o óleo amaina o furor das ondas.
A situação exigia, em vez de colmilhos arreganhados, o veludo negro duns olhos de fada donde fluísse o mel da clemência e da simpatia.
E o destino de Rosas deu-lhe em Manuelita o tópico ideal, que faria duradouro e tolerável o seu álgido despotismo.
Perfeita antítese da mãe, a vontade superior de Manuelita, norteada por sua inteligência de escol, dominava-lhe os ímpetos do temperamento herdado e a mantinha sempre num suave equilíbrio de serenidade. Poderia referver por dentro em lavas; essa lava ressurtia fora transfeita em flores e sorriso. De alma aberta a todos os ventos e, pois, compreensiva de todas as impressões alheias, possuía a mais um controle absoluto de sentimento, a ponto de não lhe apontar a história uma só descaída de linha.
O cálculo frio de Rosas fez-se nela prudência: o impulsivo da mãe transfez-se em medida. E se a finura da sua sensibilidade, táctil a todas as nuanças das coisas, inclinava-a à ternura — foi terna sem arroubos, porque a inteligência, sempre de freio à imaginação, mantinha-a atenta às realidades, impedindo-lhe o deformá-las.
Em pleno delírio romântico (que outra coisa não é a revolução) recebia Manuelita o calor da onda de fogo sem inflamar-se, como não pegava de contágio nenhuma das febres ambientes. Seu realismo penetrante livrou-a até da efusão mística, tão comum às espanholas; piedosa e crente, não tomou da religião o histerismo e sim, apenas, a parte pragmática — consolo e resignação na desgraça.
A moral de Manuelita foi uma e inalterável: amar a seu pai e cumprir até ao estoicismo o seu dever de filha. Na filha boa do rei Lear, Shakespeare desenha traços da sua irmã platina. A juventude inteira sacrificou-a Manuelita ao egoísmo paterno, suportando em respeito de “su tatita” transes que lhe deveriam custar as piores torturas morais. Não seria das menores o forçar constantemente sua bondade ingênita a uma ação mais passiva que ativa, dando ao sorriso mais afabilidades que cordialidade.
Como instrumento diplomático foi de finura inexcedível — e com grande habilidade a empregou Rozas. Quando Oribe parte de Buenos Aires à frente das tropas que vão enfrentar Lavalle, manda Rozas, que a filha o acompanhe um bom pedaço. Efeito fulminante. Impressionado com a atitude da menina, Oribe escreve a Rosas: “Con su señorita hija le mando decir que fineza de esta clase sólo se pagan con sangre como si llega el caso lo haré”.
Outras vezes utiliza para firmar cartas por ele mesmo habilmente escritas, capazes de confundir ao mais hábil psicólogo de epistolografia feminina. Na época do terror encarregou-a do manuseio dos papéis secretos, das listas de proscrições — e o historiador de hoje “fica parado” ao imaginar a cena da fada boa a lidar com as listas negras do carrasco...
Além de seu melhor instrumento foi Manuelita a doce companheira do tirano. Consagrada inteiramente à tarefa de zelar por ele com carinhos de mãe, constituiu-lhe todo o lar, encheu-lhe toda a vida íntima.
Também tomava a si o contato do ditador com o mundo. Ela, quem atendia aos clientes, recebia os pedidos, ouvia as súplicas, dava esperanças, fazia promessas; ela, em suma, quem representava no sombrio palácio de Palermo a parte da graça e da misericórdia.
Amou, Manuelita?
Sim, embora menos do que foi amada. Amou a seu pai sobre todas as coisas e amou ao homem que mais tarde, no exílio, já em idade madura, veio a ser seu esposo.
Amada foi de numerosos galãs. Um enamorado britânico deixou crônica: Lord Howden. Par do reino, este romântico fidalgo fora enviado à Argentina como representante da Inglaterra para dirimir o conflito de que resultou o bloqueio do Rio da Prata pelas esquadras inglesa e francesa.
Homem de altas aventuras, ex-ajudante de ordens de Wellington, companheiro de Byron na Grécia, herói da batalha de Navarino, comissário inglês no cerco de Amberes, nem o muito mundo que correra, nem as muitas mulheres que vira o imunizaram contra os encantos de Manuelita. Freqüentava assiduamente as tertúlias da princezinha e lá se enleou na sua teia de sedução.
Um dia promoveu uma passeata a cavalo, durante a qual conseguiu emparelhar-se com a filha do tirano e declarar o amor que o devorava.
Manuelita ouviu-o silenciosa e grave, com os olhos perdidos no azul do horizonte. Dias depois enviou a Lord Howden uma gentilíssima carta em que lhe pedia carinhosamente que apenas visse nela uma extremosa irmã.
Ibarguren transcreve a resposta do inglês, finíssima, modelo de ironia, que mal empalha o despeito ressentido ante a fina diplomacia da tábua...
Esse amor inspirado ao emissário inglês influiu seriamente na marcha dos acontecimentos.
Lord Howden rompe com o emissário francês, conde de Walewski — não o filho do Corso com a formosa condessa eslava — e faz suspender o bloqueio por parte das fragatas inglesas.
Ficam os franceses a sós com a prebenda, arcando com o rancor dos argentinos, que incontinênti tiram do lombo dos unitários e pespegam no dos franceses o terrível — “imundos e asquerosos”.
Howden era um homem de espírito. Entre agradar Manuelita e agradar à França não vacilou...
Mas o drama se precipita.
Soa em Buenos Aires o grito de Roma: “Anibal ad portas!...” As legiões de Urquiza avançam contra a capital, afogueadas de entusiasmo. Partem ao encontro delas as duas criaturas que Manuelita mais amava no mundo — seu pai, na chefia das forças oponentes e Maximo Terrero, o mancebo que soube conquistar o coração da princezinha federal. Ia o noivo incorporar-se às tropas e levava como talismã um lenço de Manuelita, bordado pelas suas próprias mãos.
Não há descrever os transes da filha e da noiva quando o eco dos canhões alvorotou a cidade. O embate seria decisivo e ela jogava o seu coração na batalha. Caiu de joelhos e orou...
Sobrevinha a noite quando Rozas reapareceu, fugitivo, disfarçado no poncho e no gorro vermelho de um ajudante de ordens. Apeou na legação britânica, mandou um rápido bilhete a lápis à filha e pediu o asilo da Inglaterra. Às 8 da noite Manuelita reúne-se ao pai, pronta para a fuga.
Seguem dali para a fragata “Centaur” e desta para o “Conflict”, que os leva para o exílio.
Estava terminado o papel de Rosas no mundo. Na Inglaterra iria vegetar numa casa de campo de Southampton como um bom boiadeiro retirado dos negócios, mais atento ao reumatismo do que à política de sua pátria.
Ao seu lado Manuelita redobra de carinhos filiais e ameniza o exílio do leão enjaulado. O egoísmo de Rosas revela-se em toda a sua grandeza. Continua a opor-se ao casamento da filha, exige o sacrifício da amável criatura nas aras da dedicação indivisa. Continuava à opor-se ao seu casamento com Terrero, não que lhe parecesse indigno o noivo, mas para não se apartar da filha.
Manuelita escreve a uma amiga em 53: “Aqui me tens na Inglaterra sem saber ainda onde iremos morar — mas há de ser numa casa de campo. Nela viveremos conformados com a vontade de Deus e observando a rigorosa economia que nossas circunstâncias impõem; passaremos como seja possível, confiantes na justiça do Céu. Esta escola de conformidade, que é a vida de meu querido paizinho, não me há faltado um só dia e assim vivo perfeita e humildemente submissa ao meu destino”.
Mas Terrero muda-se para a Inglaterra, arrastado pelo seu amor e isto revoluciona o coração da amável conformada, que afinal resolve quebrar a resistência do egoísmo paterno e receber como esposo o eleito do seu coração. Casa-se e escreve à mesma amiga: “Petronita! Já estou casada com o meu Maximo!... Tu, que o conheces, podes ter a certeza de que ele me fará completamente feliz. A doçura de pertencer-lhe me fez olvidar todos os maus momentos e todas as desgraças da minha vida. Abraça-me com força, e rejubila-te da felicidade da tua amiga”.
Já Rosas é num tom muito diverso que anuncia a Petronita esse casamento. “Muito pouco me resta hoje, depois que tua amiga (Manuelita) me abandonou com inaudita crueldade, e me deixou só no mundo, justamente quando mais necessitava da sua existência”.
Ficou ele em Southampton, na sua casa de campo, e Manuelita passou a residir em Londres, donde vinha visitá-lo amiúde.
Essa separação forçada era a única nuvem que empanava a felicidade de Manuelita, e daí o procurar amenizá-la com visitas freqüentes.
Rozas alugara uma chácara e trabalhava para garantir a sua subsistência. É belo o fim da vida desse tirano que teve tudo, que foi dono da Argentina inteira e acabava trabalhando a terra para viver. Seu estoicismo espanta. Pobre e só, produzindo o pão de que vivia em terra estranha, nesse momento o homem apresenta-se-nos maior do que o tirano de Palermo.
“A justiça de Deus, escreve ele a dona Josefa Gomes, está acima da soberba dos homens. O homem verdadeiramente livre é o que, isento de fraquezas ou desejos excessivos, em qualquer país e em qualquer condição em que se ache, segue os mandamentos de Deus, atende à sua consciência e guia-se pela razão”.
Em Buenos Aires o partido vencedor leva a cabo o processo de Rozas e o condena à morte e ao confisco de todos os bens.
Rosas protesta. O seu julgamento “só compete a Deus e à História, porque só Deus e a História podem julgar os povos”.
Manuelita recebe a notícia qual uma punhalada. “Que lhe parece a vida, amigo meu? escreve a Francisco Plot. O general Rosas reduzido a viver do trabalho de suas mãos aos setenta anos de idade, vítima da mais cruel espoliação e das ofensas incessantes com que o perseguem seus inimigos com permissão do país ao qual tudo sacrificou! Os poucos recursos que trouxe, e isso devido a um acaso providencial, esgotaram-se. Se acaso meu pai necessitasse ainda de justificação, esta pobreza completaria a sua coroa de glória. Expulso da pátria, submetido sem murmurações ao seu destino, fiel aos seus princípios, sem faltar nunca ao respeito da autoridade seja lá quem for que a represente, privado dos seus bens de família, injuriado sem tréguas, é ele, no entanto, para mim, para seus fiéis amigos e para seu país, o mais grandioso espetáculo que a história apresenta entre os grandes decaídos.
Apesar disso, como filha carinhosa, cada vez que considero a sua posição choro sem termo, e minha dor é mais cruel porque me vejo despojada de tudo e não posso ajudá-lo. No meio de tudo, porém, ao contemplar tão grande infortúnio suportado com tamanha virtude e elevação de alma, confesso: é uma lição que aceito orgulhosa, pois vem desse grande homem a quem devo a vida”.
E assim transcorrem os últimos anos de Rosas, sempre assistido da grandeza moral de sua filha, a mais bela alma de mulher que ainda figurou na história americana.
Um dia Manuelita é chamada com urgência a Southampton pelo médico de Rosas. Vai. Era o fim. “Pobre tatita! escreve ela de lá ao marido. Ficou tão contente ao ver-me chegar! As nossas predições desgraçadamente se realizam, pois dizíamos sempre a “tatita” que aquelas saídas com tempo úmido em pleno rigor do frio lhe haviam de trazer a pneumonia. A sua paixão pelo campo abreviou seus dias... Imagine que com um destes dias de frio espantoso que tivemos ele saiu e esteve fora até tarde. Resfriou-se e as conseqüências estão aí”. Rosas estava mal; não obstante conversou lucidamente com Manuelita e troçou do médico. Depois ordenou — até no último momento inda sabia ordenar — que a filha ficasse num aposento vizinho.
Às seis da manhã batem-lhe à porta. “Saltei da cama, escreve ela ao marido, e quando me cheguei ao doente beijei-o quantas vezes, como tu sabes que o fazia sempre, mas senti que sua mão estava fria. Perguntei-lhe: “Como vai, tatita?” Sua resposta foi mirar-me com a maior ternura: “Não sei, filhinha”. Sai do quarto para mandar vir com urgência o médico e o confessor; só me demorei nisso um minuto; mas quando tornei já ele tinha deixado de existir.
Vês, meu Maximo, que suas últimas palavras e seus últimos olhares foram para mim, para sua filha...”
Com a morte de Rosas desaparece do cenário do mundo Manuelita e surge em seu lugar a suave senhora Terrero. Viveu ainda longos anos, escondida como pérola no recesso do lar, e por fim se apagou com doçura, como as tardes serenas que caem lentamente após um longo dia tempestuoso.
Com esta imagem feliz fecha Carlos Ibarguren o seu precioso livro sobre Manuelita Rosas, donde colhemos o material deste retrato. E o leitor “fica parado” e acaba perdoando a Juan Manuel a sua ditadura em troca de haver enriquecido a história com tal filha — magnólia de inebriante perfume desabrochada sobre a lama rubra dum saladero.
O primeiro livro sobre o Brasil
Em Frankfort — sobre-o-Meno apareceu em 1556 um livro de chamar atenção. As terras da América, recém-emergidas do limbo, tinham o dom de espertar nos europeus funda curiosidade e aquele “vient-de-paraitre” versava sobre as aventuras de um náufrago alemão que dera à costa no Brasil, estivera longos meses cativo dos tupinambás e conseguira por fim fugir-lhes à sanha canibalesca. Assunto palpitante, pois, como se diz em jornalística moderna, e impressão pública muito irmã da que nos deram há pouco tempo as ressurreições faraônicas de Lord Carnavon.
Hans Staden havia apalpado, cheirado, provado a misteriosa terra dos ameríndios, vermelhos homens sem tanga, amicíssimos de trincar a carne dos seus semelhantes como o fazemos ainda hoje ao nosso irmão porco, ao nosso paciente companheiro de trabalho o boi. Seu livro suava realismo; tudo nele, coisa vista e vivida, laivada do inimitável sabor da impressão direta.
Hans seria de poucas letras. Dai o fazer estilizar o livro por um notável da época, o doutor Zychman, médico de Marpurgo, o qual o narigou de um prefácio que é um modelo de literatura encruada.
Em matéria de graças literárias a Alemanha do século XV vagia. Plena fervura da Reforma, o debate religioso em latim sufoca o renascimento esboçado pelo humanismo. Há Erasmo, cujo ovo, no dizer do tempo, Martinho Lutero chocara; essa figura primaz, entretanto, não se atreveu a escrever o “Elogio” no alemão bárbaro do povo. E fora Erasmo os nomes da época são menos nomes que pequenos marcos cronológicos do estado fetal de uma literatura cujas formosas qualidades, mais tarde apuradas ao requinte em Goethe, mal se denunciavam. O livro de Staden, apesar de revisto por um mestre, dá bem a medida e o tom da “rudis indigestaque mole”. Tal é, porém, a força da obra vivida que inda assim vale por uma das coisas mais curiosas e empolgantes que já se escreveram.
Para nós seu valor requinta-se não só por ser o primeiro aparecido sobre nossa terra, como o que melhor nos mostra a arte com que os Vateis tupinambás, nossos avós em linha aborígine, abatiam, esfolavam, arrolhavam, assavam e degustavam entre goles de Cauim White Label os retacos e maciços portugueses, nossos avós em linha européia.
A carne lusa era positivamente um acepipe de lamber os beiços. Provam-no o caso da velha índia catequizada por Anchieta, a manifestar antes de morrer seu último desejo: esbrugar entre os tocos dos dentes uma munheca de criança moqueada; e a abalisadíssima opinião de Cunhambebe, que adiante mencionaremos. Pena é que a “sensiblerie” moderna (medo às baratas) não permita que a par da ressurreição do estilo colonial, ardorosamente preconizado por José Mariano, não se restaure a praxe gastronômica dos nossos maiores — no caso de não haver perdido suas qualidades de paladar o petisco em questão.
Staden viu-se possuído da febre aventureira, a gripe do século dos descobrimentos. Seduzido pelas lendas em giro na boca do povo, relativas aos maravilhosos países das Índias, deixou muito moço a casa paterna, em Homberg, e se foi para Lisboa, entreposto marítimo no apogeu, donde o largar de navios para as terras novas era constante.
Lá engajou-se de artilheiro a bordo da frota que encontrou a sair, realizando assim, em 1548, sua primeira viagem até Pernambuco, ida e volta. Gostou. Passou à Espanha e em Cadiz engajou-se de novo, agora em nau castelhana, tomado de curiosidade pelo Rio da Prata.
Desta feita os fados não lhe correram de feição: naufragou nos costas de S. Vicente, após horrível temporal que ele descreve de modo impressionante. Em terra caminhou ao acaso e foi dar com os ossos em Itanhaém, incipiente núcleo lusitano, cujos moradores o receberam de braços abertos.
Itanhaém e S. Vicente estavam em zona de índios tupiniquins, amigos e aliados dos portugueses; milhas adiante começava a zona dos tupinambás, nação inimiga e antropófaga. Vivia-se em guerra aberta e as constantes incursões dos tupinambás tiravam o sono aos portugueses. Dai a idéia de erigir-se um fortim na Bertioga, à entrada do canal por onde as canoas inimigas costumavam descer para o ataque.
Construiu-se o fortim (ainda hoje lá se vê, muito bem conservado, o forte com seteiras que o substituiu), mas como não houvesse artilheiro à mão ficou algum tempo ao léu, como inútil espantalho.
Foi, pois, com grande alegria que os vicentinas viram cair das asas de uma tempestade aquele artilheiro providencial.
Contrataram-no para tomar conta do forte, por quatro meses, enquanto não vinha do reino o oficial pedido. Ia a findar o prazo quando chegou o coronel Tomé de Souza; instruído dos serviços de Hans, louvou-lh’os e induziu-o a reformar o contrato por mais dois anos, findos os quais o recambiaria à Europa com rendosa carta de recomendação a el-rei.
A gula dos tupinambás atrapalhou o conchavo. Certo dia em que Hans, à espera de hóspedes, saíra em caça de jacus para o almoço, aconteceu estar nas florestas circunvizinhas um bando de tupinambás, de tocaia a bípedes implumes. Agarraram-no de surpresa, amassaram-no a pancada, impuseram-lhe incontinênti a indumentária da terra, nudez absoluta e, bem amarrado com fortes muçuranas, conduziram-no para o fundo de uma canoa. E assim, incomodamente, de papo acima, foi o dolicocéfalo louro transportado à taba de Ubatuba, na qual residiam os dois índios que primeiro lhe puseram as unhas: Alkindar-miri e Nhaepepô-açu, panela pequena e panela grande. Eram seus donos por direito de guerra. Quanto ao destino que Hans teria, estava esclarecido: panela.
A entrada de Hans na taba não merece com propriedade o qualificativo de triunfal, que lhe daria quem de longe se iludisse com o delírio de aplausos do mulherio. Foi antes tragicamente humorística, pois o forçaram a entrar gritando em língua da terra:
— Eis a vossa comida que vem chegando!
Em certos freges do Rio há o menu cantado. Naquele bom tempo cantava o prato...
As mulheres receberam o aviso com grande alarida, como se diz à acadêmica. Tomaram-no das mãos dos guerreiros e se foram com ele por diante aos safanões e bofetadas, dando perfeita imagem de um cardume nu de sufragistas inglesas rebuçadas de chocolate. Lambiam os beiços (hoje mimosos lábios de carmim Doré em suas netas) e escolhiam pedaços com a máxima desenvoltura de gula: O braço é meu — Para mim o coração — Quero esta nádega...
Introduzido que foi na taba o petisco em pé, os guerreiros se foram guardar as armas e ingerir cauim, ficando Hans entregue às suaves carícias do belo sexo. Puseram-no em uma rede, rodearam-no e, como gatas em círculo centrado pelo camondongo, por largo tempo judiaram com ele, justificando-se:
— “Che anama pipike aé” — vamos nos vingar de ti do mal que os teus nos fizeram.
Hans suou a coleção inteira dos suores frios e tratou de encomendar a alma a Deus. Salvá-la, já que do corpo não salvaria nem um osso. Estava nisso quando Alkindar e Nhaepepô vieram ter à cabana a fim de participar-lhe que o haviam traspassado, a título gratuito, a um tio, Ipirú-guaçu, homem vaidoso que ardia por encompridar o nome.
Davam-se os índios ao luxo de periódicas ampliações onomásticas, operação que exigia a captura e o devoramento de um inimigo. Digerida a carne, ficava o nome da vítima aposto como sobrenome ao nome do algoz.
Dada que foi a agradável nova, os ex-donos de Hans o deixaram outra vez entregues às Evas.
— “Poracé!” “Poracé!” ganiram elas, e levaram-no para o terreiro, puxado pelas cordas maniatadoras.
Hans desconhecia essa palavra e pensou lá com a sua barba a fazer vezes de botões que seria o fim. Resignou-se ao trespasse, revirou os olhos para o céu; depois circunvagou-os pelo terreiro, a ver se via a iverapema, pau de matar todo enfeitado, hoje, por evolução, cadeira elétrica nos Estados Unidos.
Não viu iverapema nenhuma. Viu aproximar-se madame Ipirú-guaçu com uma gilete apavorante: enorme lasca de cristal embutida em cabo recurvo. Seria que, antecipando a civilização dos seus netos sulinos, aquela tribo já substituira a morte a tacape pela degola? Nada disso. Vinham apenas fazer-lhe a toalete. Depilá-lo! A fígara pôs-lhe abaixo as sobrancelhas, as pestanas e atacou a barba.
Aqui a vaidade masculina do cliente reagiu. Hans relutou, esperneou, e pediu que o matassem com barba e tudo.
Riram-se as mulheres, declarando que não iam matá-lo tão cedo. Primeiro engordá-lo...
Salvou-se nesse dia a barba de Hans, única peça de vestuário que lhe restava sobre o corpo. Por pouco tempo, todavia. Logo depois apareceu na taba um presente de francês: tesoura. Os filhos de França já preparavam o país para futuro escoamento da sua indústria da toalete. Nada havia na taba que cortar, nem folhas de parra. Como, porém, fosse indispensável ajuizar da boa marca da tesoura, lembraram-se de fazer experiência na barba de Hans.
Desde esse dia a conformidade do prisioneiro com o “dernier cri” de Ubatuba foi perfeita: nu sem pêlos.
A repentina adoção da moda tupinambá por parte de um europeu de terra fria, afeito a pesadas roupas de lã, não podia correr sem conseqüências nevrálgicas.
E não correu. Veio agravar a indizível aflição do aflito a mais formidanda dor de dentes que o século XV registra.
Hans chorou por uma aspirina. O remédio, entretanto, era curti-la até que Tupã desse o basta. E Hans entrou a curtir a dor cruel, rejeitando sistematicamente todos os alimentos que lhe traziam.
Tal jejum não fez conta aos índios; viria emagrecer a presa na mais imprópria das ocasiões.
Apareceu-lhe, então, um índio truculento, de formidável tenaz de guatambu em punho. Era o dentista da tribo. Hans fremiu de horror e fazendo cara alegre declarou que a dor passara subitamente. Mesmo assim o bugre insistiu em arrancar-lhe os dentes, talvez com a generosa intenção de prevenir futuras recaídas. Hans lutou pelos dentes como lutara pela barba — e venceu. O dentista guardou o boticão, depois de adverti-lo de que a teima em não comer era péssima política, pois induziria Ipirú a matá-lo quanto antes. Condição de vida: engordar — e o pobre Hans, embora estalando nas crispacões da sua nevralgia histórica, entrou a comer como um frade.
Residia na taba de Ariariba o grande chefe Cunhambebe, terror de tupiniquins e peros (os índios chamavam assim aos portugueses). Além de guerreiro astuto, hábil em dirigir expedições bem sucedidas, Cunhambebe apreciava singularmente a carne lusa. “Gourmand” famoso, talvez “gourmet” de requintes, é pena que os nossos restaurantes não lhe lembrem o lindo nome em um bife. Merece positivamente essa homenagem, merece-a talvez mais que o Ararigboia, que tem herma em Niterói.
Cunhambebe quis “de visu” ajuizar daquela rica “entrée” loura com que iam regalar-se os ubatubanos, e mandou que a trouxessem à sua presença.
Hans é trazido. Encontra o pantagruélico morubixaba a beber cauim numa roda de companheiros. Reconhece-o logo pelo aspecto e pela insígnia: colar de conchas brancas enrolado seis braças ao pescoço.
Conversam. Hans aproveita o lance para protestar pela milésima vez que não era pero, e sim ótimo francês. Sabia que se pudesse impingir aos selvagens essa dupla mentira estaria salvo. Argumentou, alegou o louro dos cabelos e o azul dos olhos.
O morubixaba sorriu diabolicamente e disse:
— Já comi cinco portugueses e todos mentiram.
O aborígene não acreditava na palavra do branco, de tantas petas vinha sendo vítima desde o fatal 1500. Além disso nunca houve pero que diante da iverapema não alegasse francesia. O cético morubixaba, porém, só se rendia à opinião do seu paladar apuradíssimo. Depois, de bem assado o prisioneiro, ao trincar-lhe o pernil é que decidia entre estalos de língua:
— Francês nada. É português dos legítimos.
O alemão consternado viu que teria de passar por essa prova, a única que o não interessava...
Duas vezes esteve Hans com esse chefe. Da segunda encontrou-o sentado junto a enorme cesta de carne humana comendo gulosamente uma perna. Hans exprobrou-lhe a gula, dizendo que nem os animais inferiores comiam seus semelhantes.
Cunhambebe podia, com base em autoridades antropológicas e ainda mais na futura ação dos europeus relativa aos selvagens da América e África, alegar. que o branco era dissemelhante.
Não o fez. Contentou-se com responder tupinambamente:
— “Jauchara iche”! — Sou um tigre! Está gostoso!... e esfregou na cara do alemão aquela “delicatessen”.
A habilidade, os prodígios de astúcia que Hans Staden empregou a fim de provar que nunca fora pero, e ainda para convencer os índios de que o seu Deus o protegia e era mais poderoso que os maracás de cabaça, deram resultado. Os selvagens foram-lhe protelando o sacrifício e acabaram convictos de que, de fato, não era português. Orçou por oito meses o — é não é — e veio daí sua salvação. Durante esse tempo residiu em várias tabas, trabalhou com os índios, acompanhou-os em expedições guerreiras e prestou-lhes uma assistência médica talvez melhor que a dos pajés.
Sempre que adoecia algum e era procurado, apontava logo a causa da doença: uso de carne humana. Queria assim salvar a sua, criando a desconfiança em relação à petisqueira.
Certa vez foi chamado à cabana de um morubixaba queixoso de peso no estômago. Hans apalpou-o e disse logo:
— É o raio da carne humana. Aposto que você a comeu! É um veneno...
O doente deu balanço nos seus menus e respondeu:
— Comi há meses um português inteiro e noto que desde essa ocasião é que sinto o tal peso, a tal bola no estômago.
— Pois é isso! Mais indigesto, nem pepino cru.
O doente concordou e prometeu abster-se.
Este fato prova que a digestibilidade dos nossos avós não era uniforme. Talvez variasse com a província natal do acepipe, mais na Beira, menos no Minho. A não ser que prove apenas diferença de potencialidade entre estômagos. A moela de Cunhambebe suportava cinco e pedia mais. O outro morubixaba entupia com um.
Já as índias nunca se queixavam de encruamentos estomacais. Cabia-lhes as partes internas, mais tenras e de mais fácil digestão, fosse qual fosse a nacionalidade da rês. Tinham o hábito de ferver a barrigada em grandes vasilhas até que tudo se desfizesse em caldo grosso e muito apreciado, ao qual davam o nome de mingau. Esta “purée” destinava-se às crianças e convalescentes, nunca fazendo mal a ninguém, em que pese à suspeitíssima propaganda de Staden. No preparo deste mingau há um detalhe que não pode ser contado aqui. O batoque. O batoque preventivo... O batoque que impedia que algo se perdesse...
A culinária francesa, ao inventar a “bécassine” assada com as tripas cheias, ao natural, não inventou coisa nenhuma.
Ao cabo de oito meses de cativeiro, depois de mil incidentes e várias decepções mortais, conseguiu Staden embarcar no “Bel’Eté”, navio francês ancorado em Iteron (Niterói). Foi levado a bordo pelos índios de Itaquaquecetuba, em cuja taba passara a residir e de cujos índios se fizera amigo. A despedida foi cordialíssima. Na hora do abraço derradeiro Hans prometeu voltar com um navio carregado de presentes, facas, machados, espelhos, vindo passar o resto dos seus dias no amável convívio de Abati-poçanga, chefe de Itaquaquecetuba.
Bom europeu que era, mentiu mais uma vez. Não voltou coisa nenhuma. A posteridade, entretanto, o absolve da feia falta por amor ao presente que ele lhe fez das suas memórias — precioso espelho da nossa ascendência, que nós, menos por pudor que desleixo, só trezentos e tantos anos depois de dado a público em Frankfort vimos a conhecer em tradução recém-publicada.
País de Tavolagem
O GRANDE MAL — A POBREZA
Quem olha d’alto para o nosso país apreende logo a causa última de todos os seus males: pobreza. No entanto vivemos a entoar loas às nossas fabulosas riquezas. Confundimos infantilmente riquezas com possibilidades.
O café de S. Paulo é uma riqueza. As jazidas de ferro mineiras, uma possibilidade. Da confusão desses termos nasce a vesguice indígena.
O Brasil é pobre, e tirante as poucas regiões em que as possibilidades naturais foram realizadas é paupérrimo. E por ser pobre não consegue resolver nenhum dos seus problemas elementares.
Nada mais elementar que a instrução e a higiene. Se o Brasil é analfabeto e doente, conseqüência é isso exclusiva da sua pobreza. Nas zonas que se vão enriquecendo a instrução cresce por si, automaticamente, e o índice da saúde avulta.
Tomai um analfabeto do interior, doente de opilação. Instrui-o e curai-o. Depois largai dele, deixando-o entregue a si mesmo. Esse homem, vítima da pobreza, recairá em estado de doença; seus filhos, por falta de recursos, recairão no analfabetismo. A solução do seu caso falhou porque foi uma solução direta — e só as soluções indiretas resultam eficazes.
Aplicai a solução indireta, enriquecei-o. Que acontece? Automaticamente esse homem tratará de curar-se e, como tem meios, não se reinfectará jamais. Seus filhos ele os educará, porque o primeiro pensamento de um pai, quando resolve o seu problema econômico, é dar aos filhos uma instrução mais alta do que a que teve.
E de quantidade negativa passa esse homem a quantidade positiva, na economia social.
Vejamos o inverso. Lançai na miséria um homem culto. A primeira conseqüência será a perda da saúde: a segunda será o regresso da sua prole a um nível de instrução inferior ao seu. Em pouco tempo estará criado um valor negativo para o progresso social.
É evidente, pois, que só uma solução existe para todos os problemas nacionais: a indireta, a solução econômica. Só a riqueza traz instrução e saúde, como só ela traz ordem, moralidade, boa política, justiça.
— Enriquecei-vos! deve ser a senha dos nossos estadistas.
Mas para que um povo possa enriquecer é preciso que o Estado crie um regime de estabilidade, visto como a riqueza não passa do lento acúmulo dos bens filhos do trabalho. Este acúmulo, sedimentação que é, só se opera quando há estabilidade. Em águas agitadas não se formam depósitos. Estabilidade na ordem social pela paz, e na ordem econômica pela ausência de oscilações dos valores. Um país eternamente convulsionado pelas revoltas não pode enriquecer: a guerra desfaz. Também não pode enriquecer-se um país eternamente convulsionado pelas bruscas oscilações dos valores: a crise desfaz. Um país nessas condições passa a vida nesse trabalho de Sísifo, a fazer e a desfazer — permanecendo na desordem e na pobreza.
O dever primeiro dos estadistas é pois criar condições adequadas ao enriquecimento do país, caminho único que leva à ordem social, à cultura, à higidez.
Mas como pode o Estado criar estas condições, se tudo depende da operosidade dos indivíduos? Da maneira mais simples: não criando obstáculos a essa operosidade. Os grandes homens de Estado não são os que reformam: são os que tiram do caminho os embaraços com que a má-fé, o espírito de parasitismo e a estupidez embaraçam os movimentos do povo.
Logo, está nas mãos dos homens de governo promover ou retardar o progresso de uma nação.
Dentre os embaraços que a estupidez cria há um que avulta sobre todos os demais: o que resulta da incompreensão da vida econômica. Esse embaraço é mortal, porque deflete para todos os rumos e vai afetar a vida do povo até no que aparentemente nada tem que ver com a economia, como é a sua moral.
A vida do homem moderno se resume num perpétuo jogo de compra e venda. Todos compram e todos vendem, desde que o sol nasce até que a luz dos lampiões se acenda.
O operário vende seu labor e compra mercadorias. O patrão compra trabalho e vende o produto dele. Se vender e comprar é a ocupação permanente dos homens, quer isso dizer que a vida gira em torno do valor.
O jogo dos valores, pois, cria o ritmo da vida, e tanto menos oscilam eles, tanto mais em segurança se sente o homem, tanto mais feliz, tanto mais animado de espírito criador. Vem daí que a estabilidade dos valores é tão necessária para o bom funcionamento do organismo social como a estabilidade do clima o é para o bom funcionamento do organismo animal.
Se o trabalho se desvaloriza, sofre o trabalhador. Se oscila o valor dos produtos, sofre o industrial. O ideal seria uma estabilidade completa: como, porém, o valor está em função de uma férrea lei econômica, qual seja a da oferta e da procura, não é possível atingir esse ideal absoluto.
Temos que nos contentar com o possível, isto é, com a oscilação reduzida ao mínimo. Este oscilar mínimo é perfeitamente suportado pelo homem e dentro da sua órbita um povo pode prosperar indefinidamente.
Para o jogo dos valores, entretanto, há necessidade da adoção de uma medida. Ninguém pode comprar ou vender sem medir o valor. Essa medida é a moeda. Mas, medida que é, a moeda não pode variar. Moeda que varia é coisa tão absurda como um litro que mudasse, um metro que ora tivesse 50 centímetros ora 100, um quilo sujeito a câmbio, hoje valendo 700 gramas, amanhã 650.
Logo, a primeira coisa que um estadista tem que criar é uma medida de valor que o seja, que não varie, que não seja elástica. Porque assim fazendo removerá da vida do povo o embaraço maior de todos, o obstáculo que jamais permitirà que esse povo acumule riqueza.
A experiência da humanidade resolveu o problema da medida do valor com a adoção do ouro. As coisas valem em relação ao ouro, ele não vale em relação a coisa nenhuma, visto que é o padrão.
E todos os povos se foram passando ao regime do padrão ouro, único que provou bem de quantos experimentados. E sob o seu regime erigiu-se a economia moderna e possibilizou-se o comércio internacional. O sonho da língua única para todos os povos foi precedido pela unicidade do padrão monetário. E ficou axiomático: o metro do valor é o ouro.
Para comodidade das transações inventou-se a moeda papel; em vez de circular o ouro, que é pesado e incômodo, circularia uma cédula do Tesouro, um vale contra a caixa. O portador, no momento em que o desejasse, trocaria esse cheque por metal. Isto vinha resolver com rara felicidade os problemas determinados pelos inconvenientes da circulação manual metálica.
Mas há povos trapaceiros, ou melhor, povos guiados por estadistas trapaceiros. Estes piratões imaginaram uma falcatrua que fez época, deu resultados aparentes e por fim arrastou os países à ruína.
Essa falcatrua era fazer em ponto grande o que os moedeiros falsos fazem em pequeno. Era substituir a moeda papel por papel moeda. Era mentir no cheque dizendo: “No Tesouro Nacional se pagará ao portador desta a quantia de tanto”, e não pagar coisa nenhuma, ou pagar menos que o valor especificado nos lindos algarismos de bela gravação em aço.
O Brasil teve a desgraça de enveredar por este caminho. Passou à categoria de povo trapaceiro e ingênuo. Os povos sérios, de moeda honesta, olharam-no de soslaio, riram-se do pobre bugre e começaram a fazer preço cada vez mais irrisório para as suas cédulas do Tesouro. Para cada mil réis, para cada milhão de réis com que procurávamos deslumbrar os povos sérios, eles nos ofereciam ora um schilling, ora um pedacinho de schilling, ao sabor de um termômetro que o brasileiro não tira diante dos olhos, chamado câmbio sem que o bugre saiba por que.
Os males que a camuflage da moeda causaram ao nosso povo não têm conta. O primeiro foi relegá-lo à categoria dos desonestos e chamar para nós o desprezo universal. O segundo foi impedir que nos enriquecêssemos. O terceiro foi impedir que, em virtude da miséria crônica, pudéssemos resolver os nossos problemas internos, a principiar pelo da instrução.
Nossa vida se transformou em pura jogatina. Ninguém sabe quanto possui. O negociante que faz um pedido para o exterior não tem base para calcular o quanto vai pagar pela mercadoria quando a tiver na alfândega. Os governos, quer da União, quer dos Estados, não têm base para organizar um orçamento de receita. O serviço das dívidas pode absorver 50 mil contos, como pode absorver 100. E o Brasil se transformou numa casa de tavolagem onde todos, queiram ou não, se vêem forçados a jogar.
Herbert Casson tem um livro em que prova que o negócio é uma ciência, regida por axiomas e leis tão duras como as leis naturais. Esses axiomas, entretanto, falham no Brasil. Para deduzi-lo Casson estudou a vida comercial dos povos de moeda ouro. Está claro, pois, que não valem para um país cuja moeda nunca foi moeda, e sim vergonhoso conto do vigário. De modo que aqui em vez de ciência, o negócio é um jogo.
Além do estado de pobreza que o uso do “paco” nos acarreta, não têm conta os seus funestos reflexos no caráter nacional. A sífilis monetária não deixa célula do organismo sem infecção — nem sequer as células da matéria cinzenta do cérebro.
No entanto vivemos nesta lazeira sem dar por ela, com uma resignação de árabe na kabila. As crises se sucedem, e o brasileiro olha para o céu, consulta cartomantes, faz promessas a Santo Antônio. E todos os dias corre ao jornal para ver o câmbio — isto é, para ver quanto os outros povos entendem de nos dar pelo nosso ridículo mil réis...
Crise significa ruptura de um estado de equilíbrio econômico seguida de convulsões para o encontro dum equilíbrio novo. As oscilações da nossa moeda determinam um rosário de crises sem fim, funestíssimas. Se a temperatura do Rio oscilasse diariamente de 40 graus a 10, que organismo resistiria ao desequilíbrio resultante? Nenhum. No entanto é num regime idêntico que o nosso país vive em matéria econômica.
O hipogrifo
No tempo em que havia imaginação, era este mundo um esplendoroso jardim zoológico. Nas águas folgavam ondinas, nereidas, sereias — umbigo acima mulher, umbigo abaixo peixe; nos bosques, ninfas que Corot ainda alcançou ver; nos ares, silfos encantadores, como o Ariel biografado por Shakespeare na “Tempestade”.
Além desta fauna amabilíssima, regalo de vates bucólicos ou românticos, outra havia, terrificante, composta de dragões flamívomos, hidras de sete cabeças, medusas vipericapiladas, polifemos de um olho só, e que tais.
No Penedo da Lamúria morava uma orca horrenda. Para que não assolasse as paragens circunvizinhas, os solícitos piratas da ilha d’Ebuda todos os dias lhe serviam, à guisa de tributo propiciatório, uma linda virgem nua. E viveria a orca a vida inteira sempre a almoçar esses régios pedaços, se não se engasgasse certa vez com a formosíssima Angélica, amada de Rolando.
Ariosto fez-se o fiel cronista dessa era de maravilhas, no poema em que estudou a alienação mental do conde Rolando, par de França e dono de uma espada cuja têmpera se perdeu, para alívio do crânio dos mouros.
Narra-nos Ariosto maravilhas sobre maravilhas — e era cidadão de muito conceito em Reggio para que lhe duvidemos das afirmativas. A agapesada (1) gente de hoje não entende assim. Metida a cética, ignora ou ri-se de Ariosto como os incréus sorriem da aparição de Jeová a Moisés numa touceira de sarça em fogo, ou da parada do sol ao gesto do general israelita.
Em paz os homens de má-fé, e vejamos como Ariosto nos conta do hipogrifo, que Bradamante, a formosa donzela guerreira, com os seus lindos olhos viu.
Essa belicosa dama, revestida de cintilante armadura e montada em fogoso corcel, andava peregrinando por montes e vales à procura de Rogério, seu amado, quando houve por bem repousar os membros lassos numa estalagem das proximidades de Bordéus. Albergou-se e, a recato, pôs-se a cismar no seu fadário estranho. Súbito lhe chega aos ouvidos um inusitado rumor. Assusta-se, e exclama a correr para d’onde vinha o estrépito:
— Que será isto, virgem santíssima?
O estalajadeiro e toda a família, uns à janela, outros fora de portas, lá estavam de olhos no céu, pasmados, como se nele rabeasse um cometa.
O prodígio, entretanto era outro — e incrível! Um grande corcel de asas fendia os céus, montado por um cavaleiro de brilhante e luminosa armadura. Voava na direção do poente, onde por fim desapareceu atrás das montanhas.
Contou então o estalajadeiro que já vira aquele corcel voar muitas vezes, sempre encavalgado pelo nigromante do castelo vizinho, o qual nele se elevava até às estrelas, ou voava resvés do chão, raptando as mulheres bonitas da zona; disso vinha que as míseras donzelas do país, quando formosas, cuidavam de ficar bem escondidas enquanto fazia sol.
Era o hipogrifo, impetuoso cavalo com cabeça e asas d’águia, que representou papel de vulto na aviação da época e permitiu a Orlando salvar Angélica das garras da orca.
Os céticos negam tudo isto — mas ninguém nega a vivacidade da cena descrita por Ariosto, e muito menos eu, que vi reproduzir-se fielmente o quadro, na roça onde andei.
Certo dia, um vozear estranho chamou-me à janela do casarão da fazenda. Homens e mulheres esparsos pelo terreiro olhavam para cima como quem olha cometa. Olhei também e vi... o hipogrifo!
Era Edú que passava, a mil metros de altura, na sua primeira viagem de S. Paulo ao Rio, — feito de alta monta na época.
O espetáculo constituía novidade absoluta para os roceiros ingênuos. Aquele avejão, zumbidor qual besouro, desnorteava-lhes a imaginativa.
Um mais fantasioso sugeriu logo:
— Gavião-pato!...
— Daquele tamanho? contraveio outro, que além de caçador de gaviões criava patos.
O “je-sais-tout” emendou:
— Gavião-rei, urubu-rei. É assim qualquer coisa como o minhocão do Paraíba.
Edú riscava o espaço, tal qual o hipogrifo de Ariosto, e breve escondeu-se atrás das montanhas, deixando os pobres matutos a olharem-se uns para os outros com as mais assombradas caras que ainda vi em vida minha.
Hoje está vulgarizado o hipogrifo de hélice em vez de bico d’águia, e planos de tafetá em vez das asas de penas. Seu zumbido já ergue para o ar somente metade dos narizes que lhe passeiam sob o raio de ação, e um dia não erguerá nenhum. Voarão como os urubus, sem que os pedestres lhes liguem maior nota que aos automóveis da rua.
Mas não é para dizer isto que tantas linhas se traçaram. Quero frisar que os monstros de Ariosto começam a voltar, embora mecânicos e despidos da velha poesia.
O orca têmo-la nos submarinos. Não se alimenta de virgens, mas vem custando à humanidade um pesado tributo de vidas masculinas.
O hipogrifo aí está, pondo o Rio a algumas horas de Recife.
Os silfos do ar, invisíveis, tão amigos de cantar e tanger a luth, restaurou-os a radiotelefonia, e se não cantam maviosos como os da ilha de Prospero, lá chegarão — no dia em que o último resaibo a gramofone for extirpado das radiolas.
Só os bosques permanecem ermos de ninfas; ou tão amáveis criaturas se fizeram anofelinas ou as anofelinas as expulsaram de lá.
Ninfas hoje só nas avenidas, disfarçadas em mulheres modernas pelos costureiros inventivos. Dado, porém, o progresso do nu, vitorioso já nos tró-ló-lós do Glória, e quiçá um dia também nas ruas, ninguém perca a esperança de ver restaurada na terra a fauna inteira de Ariosto — para regalo de todos nós e reabilitação da memória de tão insigne fantasista.
Fala Jove
No princípio era o vento.
Só ele tinha forças para propelir o homem ousado que, em pequenas gamelas flutuantes, com um pedaço de lona espetado em espeques, se atirava à aventura sobre o dorso histérico dos oceanos.
E nasceu a assombrosa epopéia da navegação — coisa linda dita assim com galanice de retórica, mas de inenarrável travor para os que lhe padeciam as torturas.
Depois veio Fulton. As gamelas de pau viraram marmitas de ferro, dotadas da astuciosa máquina que reduz a água a vapor e fá-lo voltear a hélice imensa no “undoso elemento”, como casacalmente se dizia nos saudosos tempos da épica.
A epopéia mudou de tom. Passou de berceuse trágica a marcha mecânica. O que vencia não mais era a dureza do homem, sua paciência, sua resistência às privações. Vencia a inteligência do engenheiro que na paz do gabinete calculava com precisão a resistência dos materiais e o jogo das peças, ao conceber leviatãs não previstos pela natureza.
E o oceano, atônito, assistiu à completa devassa dos seus domínios — com grande escândalo do verde Netuno.
Pobre deus! Quando o “Deutschland” operou o maravilhoso mergulho transatlântico que o trouxe de Kiel a New York, Netuno lançou aos sargaços o tridente, exclamando num sincero grito d’alma:
— Não mais sou deus de coisa nenhuma. Deus é esse piolho da terra que inventa máquinas e se ri dos meus vagalhões, zomba dos meus ventos, fulmina minhas baleias e põe-me assim, no fim da vida, um miserável rei de opereta... Já destronou Cibele, a deusa da terra, já destronou Urano, o deus do céu. Até Júpiter, o deus dos deuses, onde lá vai! Resta Vênus...
Também Urano a princípio sorrira, quando viu Gusmão lançar para os seus domínios a frágil passarola, vítima dum beiral de telhado. Sorriu ainda, desta feita amarelamente, quando Mont-golfier ascendeu bem alto suas esferas de ar aquecido.
— Vence a altura, murmurou consigo o deus, mas obedece aos meus ventos. Voará como a palha, jamais como as aves.
Mas quando Urano viu Dumont singrar o espaço num charuto, não paina que o vento leva mas ave firme na diretriz escolhida, o sorriso gelou-se-lhe nos lábios, e pela espinha veneranda lhe correu o arrepio de Bonaparte em Waterloo, ao dar com Blucher no ponto em que devia aparecer Grouchy.
E o deus dos céus fez o testamento, e as malas, e se foi para o Asilo dos Deuses Inválidos, jogar o gamão da aposentadoria com Netuno, Jove e os demais que já lá se achavam.
De passagem pelo Cáucaso objurgou o encadeado Prometeu:
— Vê tua obra, miserável! Com o fogo que nos roubaste e lhe deste, a miserável vermina da terra nos destronou um a um.
Desse refúgio merencório os velhos deuses assistem hoje ao vôo de Ramon Franco e trocam impressões.
— Vem ele de Paris ao Prata em horas, comenta Urano, e neste andar os homens acabarão vencendo essa distância em minutos...” Riem-se dos nossos éolos tão temidos, ganham das nossas águias no elance, varam a sorrir nossos nevoeiros, escravizam e transformam em moços de recados os invisíveis fluidos que tu, Jove, usavas tonitroantemente... Como isto dói, irmãos!
Também Netuno falou, cofiando as imensas barbas de algas verdes.
— Rumo ao Prata... Saiu ontem de Palos, chegará amanhã a destino... Esse trajeto só era possível outr’ora por mar, e nos bons tempos consumia meses, seis, oito, dez — e eram deliciosos meses para mim. Divertia-me despejando contra as caravelas audaciosas a cornucópia inteira dos meus ventos, ora de feição, ora contrários, ora remoinhantes em trombas furiosas. Mas o meu supremo regalo era pô-los sem vento de espécie nenhuma, ali nas proximidades da cinta equinoxial. Chamavam eles a isso calmarias e nada os aterrorizava tanto. Ficavam a boiar ao embalo do mar morto dois, três meses. Devoravam todas as bolachas de bordo. Consumiam as últimas reservas de água pútrida. E era de vê-los estorcerem-se nos horrores da fome e da sede, atirando-se à caça dos ratos e roendo como cães tudo quanto era de couro.
Em roda dos veleiros, meus esqualos, de dentuça arreganhada, riam-se de tanta miséria. E meus peixes-voadores alavam-se em cardumes aperitivos, bem à vista, mas fora do alcance dos famintos. E meu mar ondulava-lhes sob as embarcações, tantalizando os sedentos com a sua imensidão impotável.
Mesmo assim me iludiam muitas vezes; transpunham a zona maldita do equador — forno sem brisa à volta do mundo estirado — e prosseguiam na rota às terras do ouro. Por mais que açulasse e baralhasse meus ventos não consegui vencer a todos, e se a incontáveis fiz tragar pelos meus escarcéus espumejantes, e a outros esborrachei contra os penedos, inumeros se salvaram e vieram plantar no mundo novo as sementes dessas metrópoles gigantescas, onde hoje lhes pulula a descendência vitoriosa...
Aqui Netuno parou. Uma zoada no ar atraiu-lhe a atenção sonolenta. Ergueu os olhos envidrados e viu de asas espalmas o avejão de Ramon Franco em pleno vôo.
Apesar dos preconceitos de casta e do ódio divino contra a vermina da terra, o deus de barba verde sentiu n’alma um frêmito incoercível.
Olhou para Urano. Ess’outra múmia a cair de séculos também arregalava os olhos e fremia.
Era o entusiasmo, sentimento que pela vez primeira alcançava vibratibilizar o duro basalto que deve ser o peito de deuses caídos em caquexia senil.
Estavam assim, de nariz para o ar, quando atrás deles soou a voz de Jove, que se aproximara.
— Amigos, tratemos de nos naturalizar homens. É o meio único que nos resta de voltarmos a ser deuses...
Uma opinião de M. Jerôme Coignard
Toda gente que escolhe leituras já leu esse compêndio de alta sabedoria que são “Les opinions de M. Jerôme Coignard”, de Anatole France. O padre Coignard possuía uma visão das coisas e dos homens muito livre para lhe permitir o acesso às grandezas humanas, e passou a vida a pé, pobre como Diógenes, mas contente. Era rico apenas em filosofia, a qual transmitiu ao seu bom discípulo Jacques Tournebroche, o qual por sua vez no-la transmitiu a nós, compendiada por Anatole France num livro de diálogos encantadores de finura.
O que nem todos sabem é que por morte de Anatole foi encontrado no baú da sua cozinheira um capítulo inédito desses diálogos. Por que motivo deixou de incorporar-se à sua obra impressa esse capítulo? As opiniões divergem, prevalecendo, entretanto, a que atribui isso a razões de estado. Esse capítulo versa sobre o jogo e singularmente se adapta a um país amigo da França; é possível que o Quai d’0rsay tinha influído no abafamento do escrito para evitar complicações diplomáticas.
Um jornal brasileiro, entretanto, não possui as mesmas razões de reserva do Quai d’0rsay, e pode dar a público o precioso inédito.
Aqui vai ele religiosamente traduzido em vernáculo, sem título como o encontramos.
........................
Naquela tarde fomos, meu mestre e eu, até à Ponte Nova, onde abundam os alfarrabistas de rua que meu mestre freqüenta. Em caminho chamou-nos a atenção um tumulto à porta de um vendedor de loterias e outros jogos. Eu quis chegar até lá, mas meu mestre deteve-me pelo braço.
— Não. O povo só é interessante visto de longe, como massa que se move. Além disso não é necessário chegar até lá para atinar com o que se trata. A velha mitologia tem símbolos eternos; Saturno devorando seus filhos é um deles.
Não compreendi de pronto a alusão do meu bom mestre, e ia pedir esclarecimentos quando passou por mim um vendedor de jornais. Adquiri uma folha da chamada “certa imprensa”, visto como não nego pertencer eu à classe da “certa gente”.
Havia na primeira página um formoso artigo trescalante de indignação contra o jogo, “cancro social”. Mas havia também na quinta página uma seção de palpites de jogo aconselhados pela direção da folha.
— Mestre, disse eu, como se explica a contradição deste jornal, fulminando o jogo na sua coluna de honra e estimulando-o páginas adiante?
O padre Coignard mansamente correu os olhos pela folha e disse:
— Tournebroche, meu filho, já várias vezes te fiz notar que a contradição é própria do homem e dos jornais. Direi hoje que é própria da vida. Esse jornal é sincero nas duas opiniões contrárias que emite simultaneamente sobre o jogo. Condena-o porque o acha imoral, estimula-o porque o acha humano e necessário à boa ordem das coisas da terra.
— Não compreendo, mestre. Se é imoral, é contrário à boa ordem das coisas da terra, visto que a moral não passa de um conjunto de regras tendentes a manter essa boa ordem.
— Uma discussão sobre moral nos levaria longe e eu tenho de estar dentro em pouco à porta de Catarina, a rendeira, que é uma criatura notoriamente imoral e no entanto necessária à boa ordem da vida. Vida é sinfonia, meu caro discípulo, e as sinfonias necessitam de todas as notas musicais.
A tua folha tem duas opiniões a respeito do jogo e nisso se conforma com um dualismo universal. As opiniões nascem xifópagas, com caras contrárias mas ligadas entre si.
— Mas uma delas há de ser a verdadeira, disse Tournebroche, e eu queria que meu mestre me desse a sua sincera opinião sobre o jogo.
— Prefiro, meu caro Tournebroche, dizer-te que o jogo faz parte da única trindade santíssima que o homem jamais negou: amar, jogar e beber. Nasceu no Éden com os nossos primeiros pais e há de morrer com o último homem. Adão bebeu as palavras da serpente, jogou a sua inocência e amou Eva. Desde aí essas três ilusões passaram a constituir o supremo enlevo do homem — e os três elementos de que ele dispõe para amenizar este nosso vale de lágrimas.
— Logo, o meu caro mestre defende o jogo, ou pelo menos o justifica.
— Apenas o explico, meu filho. O homem que trabalha dia a dia para a conquista do pão, e não vê acumular-se nenhuma reserva em suas arcas, encontra no jogo a única esperança de felicidade. Comprar um bilhete de loteria, comprar uma “poule”, comprar um bicho é comprar essa coisa maravilhosa que se chama esperança, e o homem que espera é feliz. Emquanto a sorte não decide se ganhou ou perdeu, o homem que joga sonha e é feliz. Se ganha, realiza o sonho; se não ganha, joga de novo, e vai prolongando assim, indefinidamente, o seu estado de felicidade com base na esperança.
— Mas o jogador acaba sempre perdendo e assim se prejudica.
— Não vejo em que, nem vejo que, bem consideradas as coisas, o jogador saia perdendo. Desde que adquire esperança e a esperança é o supremo bem da vida, o jogador nunca perde. Apenas dá o seu dinheiro em troca de uma mercadoria que não pode ser pesada na balança de pesar batatas.
Quem bebe compra, não o álcool em si, mas a doce e rósea ebriez que ele dá. Quem ama à Catarina e lhe dá dinheiro, não adquire materialmente um pedaço dessa interessante criatura, mas sim a ilusão de amor que ela dá.
O que vale nesta trindade santíssima é o que há nela de imaterial, imponderável e ilusório.
— Mas o Estado, disse Tournebroche, que é paternal e sábio, condena e persegue o jogo.
— Tournebroche, meu filho, o Estado faz como a tua folha: condena e persegue com fúria o jogo durante suas passageiras crises de histeria moral. Mas permanentemente o estimula, como faz a tua folha pela seção dos palpites. O Estado, como já disse, guia-se por meio de razões de Estado, razões que o povo não alcança, mas não passam de razões das pessoas que representam o Estado.
Por isso te disse eu que Saturno devorava seus filhos. Pois, responde-me sem vacilar, quem é que mantém o jogo pai, o jogo substantivo, do qual os jogos adjetivos não passam de prole adjunta?
— O Estado, está claro, respondeu Tournebroche, já que é ele quem institui as loterias, e as regulamenta, e as fiscaliza, e lhes participa dos lucros.
— Perfeitamente. O Estado é o pai do jogo, e se persegue os jogos filhos do grande jogo, é porque Saturno devora seus filhos. O Estado condena e persegue os jogos menores por uma razão muito simples, embora dê como razão disso a moral. Persegue-os porque esses jogos fazem concorrência ao grande jogo que ele banca por intermédio dos concessionários de loterias. Estes homens se sentem lesados pela concorrência, o Estado lhes reconhece razão e transforma essa razão de concessionários em altas razões de Estado.
— Nesse caso o que eu não compreendo é o povo. Se o tudo é jogar por que o povo não se limita a jogar no jogo que o Estado institui, garante e fiscaliza?
— As razões são claras, meu filho. O povo, erradamente, está visto, considera o Estado como uma associação maléfica que explora o imposto, e desconfia dele. Tudo que emana do Estado é suspeito ao povo, que não compreenderá nunca a delícia que é sermos governados por ele. E sistematicamente, em igualdade de condições, o povo prefere o jogo instituído pelos particulares ao jogo instituído pelo Estado.
— Mas nisso o povo erra, visto como o jogo do Estado tem as garantias da lei e o outro não.
— Erra e não erra, meu filho. Erra porque é um erro duvidar da benemerência infinita desse grande aparelho de nome Estado, que faz as guerras e retira das sargetas os gatos mortos. Não erra porque o jogo particular, justamente por não ter as garantias da lei, é infinitamente mais honesto, expedito e inteligente que o jogo do Estado. Estou velho e jamais vi reclamações contra os bicheiros. Catarina, a rendeira, comprou o mês passado duas libras tornezas de Coelho, e horas depois recebeu cinqüenta, visto como ganhou. Ela sonhara com Mr. Bouchard, recentemente eleito para o Instituto de França.
— E o mestre acha alguma relação entre esse sonho com Mr. Bouchard e o Coelho?
— Nenhuma. Tenho que Mr. Bouchard, a ser um bicho, seria o Veado, por motivos que um bom mestre não deve expender diante de um discípulo como tu. Mas o considerá-lo tão acertadamente Coelho é um desses mistérios acima da compreensão humana, e só possíveis de decifragem a intuições puras como a de Catarina, que, tu sabes, não possui a faculdade do raciocínio.
— É bem pensado isso. Eu de uma feita sonhei com o meu caro mestre e joguei na Águia.
— E deu?
— A Borboleta.
— Há qualquer coisa de borboleta em mim, reconheço. Quer Buffon que as borboletas borboleteiem, e a mim me parece que, afinal, não faço na vida outra coisa.
Neste momento passou pela calçada fronteira um vendedor de bicho, escoltado por dois guardas policiais. Ia preso e fora sua prisão a causa do tumulto mencionado no começo deste capítulo.
— Vê, meu filho, que belo quadro da iniqüidade humana. Este homem vai preso porque jamais lesou um seu semelhante. Não há cozinheira neste bairro que não jure sobre a sua pontualidade de banqueiro de bicho. Foi ele quem pagou a Catarina as cinqüenta libras tornezas de Mr. Bouchard.
— Realmente, o Estado tem razões que a razão desconhece.
— E tem ciúmes, meu filho. Não há neste país nada tão bem organizado como o jogo do bicho. O jogador apresenta-se num “guichet” e faz a lápis, num papelzinho, a sua aposta. O banqueiro recebe o dinheiro e dá-lhe em troca uma papeleta numerada. Essa papeleta, conforme o número final da loteria que o Estado faz diariamente correr, implica às vezes em pagamentos enormes, os quais se realizam mediante a simples apresentação da papeleta. Para um negócio de vulto correspondente, ou com particulares ou com o Estado, teríamos mil maçadas, teríamos que passar escrituras, aceitar letras, apresentar testemunhas, etc., e ao cabo de tudo isso o mais certo seria termos delongas, despesas de lubrificação ou demandas judiciárias, que se eternizam e nos arruinam. Digo que da parte do Estado há ciúmes porque jamais conseguirá ele organizar nada tão perfeito, tão simples e sobretudo tão honesto. Se o Estado não estivesse convencido da sua onisciência, o que deveria fazer, em vez de perseguir os bicheiros, era estudar-lhes a organização e convidá-los a pôr nos serviços públicos essa maravilhosa ordem e rapidez que caracterizam o seu negócio.
— Isso o Estado não fará. O que vai fazer é acabar com eles.
— Não te enganes, meu filho. As crises histéricas passam e o jogo fica. Fica porque é humano, eterno e necessário. Além disso, sabe defender-se. Conhece os calmantes que aplacam o histerismo do Estado, deliciosos calmantes muito gratos às pessoas de carne e osso como nós que constituem as vísceras do Estado. Quem vem lá? Parece-me Catarina...
Era, de fato, Catarina, a rendeira, que vinha furiosa com a prisão do seu bicheiro. Parou em face de Coignard e disse-lhe...”
O manuscrito de Anatole France, encontrado no baú da sua cozinheira, parava aqui. E foi pena, porque nos privou da opinião da linda rendeira, opinião a que Coignard dava grande apreço por ser intuitiva e não reflexo de longas meditações como as suas.
Bacillus virgula
Os jornais argentinos dão-se a luxos nababescos. Questão de dinheiro. Eles lá têm pesos, dos sonantes; nós cá, apesar das nossas decantadas riquezas, temos o peso da permanente míquea que em tudo se reflete e no jornalismo tanto como no resto, senão mais.
O jornal moderno, ao molde americano, é a reportagem sensacional. Mas com este alcalóide estupefaciente se dá o mesmo que com os “films” de estrondo: só está ao alcance das empresas que nadam em ouro. Sem derrame de libra, dólar ou peso não há colher as preciosas orquídeas da sensação — flores que se não confundem com o escândalo social.
Em matéria de reportagem temos que nos ater à reportagem do pobre: visitas ali ao morro do Pinto, revelação de casas d’ópio numa colônia china sem ópio nem rabicho, “interviews” com personalidades que não chegam lá. Troco miúdo. Libras de alumínio amarelo.
Já no Prata as coisas mudam. Os jornais são monstros tentaculares que, se drenam do público rios de ouro, em troca lhe dão acepipes dos mais finos, mandados vir de onde quer que se encontrem, custem lá o que custarem. Lembram os Luculus romanos que despachavam naus aos confins do mundo em busca do peixe raro e da ave exótica; se tais gastrônomos não comeram as asas da fênix, ensopadas em molho de fígados de grifo, é que não houve arapuca bastante astuciosa para filar tais aves.
A ambrosia moderna do sensacional, que nós aqui só temos requentada, dessorada, adquirida em “sebos”, têm-na os platinos de primeira mão, fresca e cheirosa como Ganimedes a apresentava a Júpiter. Para obtê-la enchem de pesos magníficos “reporters” e os lançam aos confins do mundo. O processo dos Luculus, pois não há outro.
Tenho diante dos olhos uma coisa dessas. É a reportagem de Adolfo Agorio, um perfeito escritor mandado à Rússia por um jornal que tira (paciência, Brasil!) duzentos e cinqüenta mil exemplares: “Critica”. Agorio foi ao teatro eslavo ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos e palpar com suas papilas tácteis o imenso drama social encenado por Lenin.
Bajo la mirada de Lenin, é o título, em seis colunas, do magistral estudo com que o jornal brindou o público em trinta edições consecutivas. Graças a isso tem a Argentina a sua visão pessoal da Rússia, enquanto nós aqui pensamos dela o que o suspeitíssimo francês quer que pensemos. Paris nos manda, com os figurinos, visões da Rússia “ad-usum” basbaquismo antártico. Falsas, pois. Visões tendenciosas.
Outr’ora a senha de Quintino Bocaiúva era — Olhemos para o México. Hoje no mundo inteiro a senha é: — Olhemos para a Rússia. O dia de amanhã ferve lá, como o dia de hoje já ferveu em Paris, na Convenção. Mas nós só vemos a Rússia com os óculos pretos que o francês nos dá.
Isso nos leva a monumentos de ratice, como foi o caso do navio russo que impedimos de entrar em nossos portos. Deu-nos o medo de que o pobre barco mercante viesse com carga de idéias novas e nos contaminassem as idéias velhas, borolentas como batatas podres, em torno das quais vivemos de cócaras.
O fato lembra-me uma impressão da meninice.
Dera o cólera-morbo às nossas plagas e ao espanto do primeiro momento sucedeu logo um arrepio sanitário louvabilíssimo. Houve febre de planos profiláticos, mais intensa que a febre atual das palavras cruzadas. Os coronéis, órgãos pensantes, deliberantes e agentes do interior, mexeram-se, coçaram-se com o Chernoviz e por fim acordaram numa novidade linda: cordões sanitários.
Eu estava em Tremembé e assisti ao esticar-se dum dos tais cordões à cabeça da ponte sobre o Paraíba, rio que banha esse feliz recanto do orbe. Constituíam-no três soldados, de Comblain ao ombro, com ordens terminantíssimas de não deixar passar... o “bacillus virgula”!
Riem-se os da capital da ingenuidade coronelícia; no entanto, em que se diferencia ela do caso do navio russo?
Tal navio desceu ao Prata e ancorou em Buenos Aires; ali refrescou, tomou carvão e depois seguiu viagem, mansa e pacificamente.
Não infeccionou coisa nenhuma; só serviu para abrir o apetite àqueles povos e lhes inocular o desejo de ter a sua visão pessoal da difamada Rússia. E “Critica” contratou Agorio para um excurso ao “vulcão”, onde ele esteve meses sem ser devorado pelo ogre de Moscou. Ao voltar deu a público suas impressões, ventilando assim o ambiente pátrio com as auras das idéias novas, nunca tão feias como as pintam os parasitas das idéias velhas.
Lá, assim; aqui continuamos a ignorar o fênomeno russo e a negá-lo sob palavra dos “rentiers” franceses, naturalmente furiosos com a perda dos milhões devorados pelos grãos-duques e não devolvidos pelos sovíetes.
Coronel, tu és onímodo! Onímodo e onipotente, mas, por mal teu, és cru em história como um pepino. Se soubesses uma pouca de história verias que já houve tempo em que tuas mofadas idéias, hoje tão ferozmente defendidas como “verdades”, foram idéias novas, malsãs, de circulação vedada por meio de cordões sanitários. A Santa-Aliança, que Deus haja em santa glória, botou em todas as pontes da Europa os teus três soldadinhos...
Não obstante, as idéias passaram com as brisas, contaminaram o mundo todo, venceram, envelheceram, emboloraram e serão amanhã pó, como é hoje pó a áspera ideologia da Santa-Aliança.
A censura ao pensamento humano é cerca de taquara. Idéias são ondas hertzianas. Cada cérebro vale por emissor e receptor, sem antenas visíveis e de infinita potencialidade. Pega o vento da Rússia tão facilmente como o da barra — e pega como o sapo que não larga mais. Três soldados, em que pese à tua poderosa estupidez, coronel, jamais fisgarão de passagem um fluido mais sutil que o “bacillus virgula”.
Apesar disso continuarás por longos anos a ser o instrumento pensante, deliberante e agente da linda terra de Santa-Cruz... (2).
_______
(1) Apôs à publicação deste artigo sobre a Rússia recebi uma intimação da polícia para comparecer perante um delegado auxiliar. Fiz o testamento e fui. Dei com um moço fino e amável, muito longe do truculento Javert que esperava encontrar.
Constando à polícia que eu ia editar o livro de Adolfo Agorio, via-se ela na contigência de advertir-me que o não fizesse, porque recebera ordem de cima para apreender tal livro, caso aparecesse.
Admirei intimamente a perfeição da nossa espionagem policial, pois de fato me ocorrera a idéia de pedir ao autor permissão para traduzir e publicar esse livro realmente precioso, o único de quantos sei capaz de dar ao nosso público uma noção exata do que se passa na Rússia. A benemerência dos editores está em lançar os livros sérios, não tendenciosos, merecedores de fé. Ora, sendo Agorio um alto funcionário do governo argentino, e tendo seu livro saído lá, não só num jornal de larguíssima tiragem, como em edição de dezenas de milhares de cópias sem que as instituições se subvertessem, pareceu-me o naturalmente indicado para ser divulgado aqui.
A polícia, cumprindo ordens de cima, pensou de maneira diversa, e como editor bem policiado resignei-me a não prestar ao meu país esse bom serviço. Agradeci ao amável delegado o aviso que vinha prevenir dissabores futuros e sai a meditar no mistério daquele de cima donde emanavam ordens que tão a pique vinham confirmar os meus conceitos emitidos n’A Manhã. Seja quem for, é um de cima bem irmão do nosso coronel da roça — e como ele bem ignorante de história. Por pouco que soubesse do passado verificaria uma coisa extraordinária: a coincidência de ter o bolchevismo explodido justamente na Rússia — na Rússia, onde a polícia era um polvo monstruoso que enleava cada criatura com um tentáculo e dispunha da Sibéria, região muito maior e mais eficiente para destruir díscolos do que a nossa pobre ilha Rasa. Se essa coincidência não é de molde a convencer a todas as polícias do mundo de que o pensamento humano e a emigração das idéias não são policiáveis, não sei o que seja. Walter Rathenau usou de uma bela expressão para indicar o processo de difusão das idéias: imigração vertical. Enquanto os coronéis de cima botam cordões sanitários nas pontes e erguem outras cerquinhas de taquara, as idéias entram por projeção vertical.
Além disso é ingenuidade acreditar em idéias russas. Se Lenin quisesse justificar as suas idéias com as de Jesus, era só abrir o Evangelho. Se o de cima que impediu a publicação do livro de Agorio fizesse um exame de consciência nas suas idéias (e não duvido que as possua) veria com espanto que tem o cérebro cheio das chamadas idéias russas. Até a sua crença na eficácia da polícia na compressão do pensamento humano é uma idéia russíssima. Esteve encasquetada durante séculos na cabeça dos czares empenhados em manter a servidão do povo eslavo, e está na cabeça dos leaders bolchevistas atuais, que enforcam os que não pensam como eles.
Idéias Russas
Na reportagem de Adolfo Agorio sobre a Rússia existe um trecho sobremodo interessante sobre a questão sexual.
Lenin, esse ogre na opinião dos franceses, inda há de dar o seu nome ao século como o maior reformador social de todos os tempos. Nenhuma criatura operou em maior escala, nem foi mais radical em suas idéias. Semeou como um deus, e até ao derradeiro momento de vida presidiu ao novo estado de equilíbrio social que implantou na Rússia. O tempo irá aos poucos corrigindo sua obra; a adaptação far-se-á; mas ninguém lhe tirará a glória de ter arquitetado o dia de amanhã.
A caudal de diatribes e infâmias que os lesados esguicham sobre o seu nome e difundem pelo mundo inteiro, passará, como passam enxurros. Onde está hoje a massa formidável de libelos impressos na Grã-Bretanha contra o ogre da Córsega? Napoleão, no entanto, purificado, brilha na história com o Perseu de uma Górgona: o direito divino.
É assim que a humanidade caminha — napoleonicamente, leninescamente, aos sacões. A prudência, tão preconizada pelo artritismo dos marqueses de Maricá, é virtude que apenas conserva, como o vinagre conserva o pepino, mas não cria coisa nenhuma.
No que diz respeito à mulher, Lenin aparece como o seu messias. Libertou-a da escravidão doméstica, aboliu o preconceito da sua inferioridade, pô-la em situação de ocupar todos os cargos da república, desde o comissariado do povo até o juizado. O regime de igualdade dos sexos é perfeito, pois. Lenin destruiu o formidável acervo de injustiças acumulado em vinte séculos de helenismo e outros tantos de civilização cristã — isto é, de despotismo do galo.
Houve um formidável sacolejo de forças psicológicas adormidas, vento que varreu e ventilou o ambiente, desd’o lar às mais complexas formas de atividade coletiva.
A mulher liberta-se da servidão conjugal. Os direitos de ambos os cônjuges equiparam-se sob um severo regime de responsabilidades e deveres mútuos. A união livre, controlada pelo Estado, não significa a anarquia sexual que pintam os escribas anti-russos a serviço do cômodo statu-quo capitalístico. Essa anarquia sexual existe, sim, no regime burguês da mentira monogâmica sem divórcio, monstruoso Moloch que só funciona à custa do mais cruel lubrificante: a prostituição.
O casamento na Rússia repousa unicamente no amor e é mais duradouro que o alicerçado no dinheiro. Recorda Agorio o assombro de um seu companheiro de viagem ao verificar o número ínfimo de divórcios russos. No entanto, se é fácil casar, mais fácil ainda é divorciar; para o primeiro ato basta o comparecimento dos dois interessados perante o oficial civil; para o segundo basta apenas o comparecimento de um.
A humanidade se divide em duas classes: os que possuem imaginação e os que não a possuem. Os imaginativos idealizam e, como idealizam, raro alcançam a felicidade — tanto o real é inimigo do ideal. Vem daí que os imaginativos são em regra infelizes no nosso regime sexual.
Na Rússia não. Mme de Bovary não se suicida. Solta o primeiro marido, inservível por insuficiência de glândula tiróide (devia ser isto), e vai sucessivamente casando até encontrar o eleito da sua fantasia. E acha, pois as almas andam aos pares, a afinidade eletiva é um fato e o tudo é que a sociedade não as impeça de se engancharem.
— Por que motivo, disse uma dama russa a Agorio, havemos de trazer sapatos apertados, que nos magoem o pé, se, trocando-os, podemos tê-los cômodos? Ora, o nosso coração não merece menos que o nosso pé, além de que as feridas nele abertas são de muito maior duração que as causadas pelo sapato defeituoso.
Quem sofre com o regime russo é o homem. Perde a liberdade absoluta de que se goza no regime burguês — liberdade de borboletear de mulher em mulher, clandestinamente, qual um besouro avariado, sem nenhuma conseqüência funesta para o seu egoísmo. Não mais se regala com o sadismo de fazer mãe a uma virgem e largá-la à sua triste sorte, sob os olhares complacentes do statu-quo. Sua responsabilidade torna-se absoluta. O código bolchevista, no fundo simples e mui lógica reação do pobre espezinhado contra o rico prepotente, garante todos os direitos da maternidade. As obrigações do homem neste caso não são para com a mulher, e sim para com a mãe. Ao fundar as bases da família nova, quis Lenin poupar ao seu país o espetáculo degradante da mulher desamparada no seu transe mais nobre, convertida em máquina de abortos e infanticídios, escrava do regime social que faz dela um objeto de compra e venda, um semovente reduzido a campo de experiências dos monstruosos apetites e das abomináveis paixões, não digo humanas, mas homescas.
A mulher trabalha livremente e possui igual ao homem a iniciativa do amor. Pode escolher à vontade. Nenhuma barreira se opõe aos impulsos do seu coração. Contribui para a manutenção da sociedade conjugai e assim afirma sua independência e justifica seus direitos.
Não há na Rússia essa classe de mulheres que vivem em absoluto às costas do marido, qual ostras no espeque. Mais difícil ainda é ver-se o contrário disso, como, por exemplo, o chupim da nossa organização atual.
O problema do celibato, conseqüentemente, desaparece. A solteirona o é por anomalia de temperamento, já que nada lhe impede de afrontar a experiência matrimonial. No nosso regime, a cuja monstruosidade não atentamos porque o cão não atenta à coleíra quando a recebe desde o nascer, milhões e milhões de pobres criaturas mirram no tormento da castidade à força, ao lado de outros milhões que rebolcam nos prostíbulos, devoradas, umas, de histerismos, e outras, da sífilis, para que Mr. Homais, de braço dado ao conselheiro Acácio, possa sentenciar gravemente:
— O casamento é uma instituição divina. Não lhe toquem!
Os homens e as mulheres na Rússia não se olham como inimigos, oscilantes entre o amor e o ódio, pólos da mesma exaltação sentimental; não enchem as folhas com o escândalo diário do seu engalfinhamento, seus tiros de revólver, suas facadas. Olham-se como companheiros, iguais nos direitos, iguais nos deveres. E como apesar desta soberania de si mesmas e desse culto reflexivo da própria responsabilidade diz Agorio que nada perderam do encanto feminino, é justo que fechemos os portos aos navios russos que trazem em barris tais idéias.
Viriam perturbar a deliciosa lambança sexual, leda e cega, em que vivemos, com um olho nos bismutos e outro nos macacos de Voronoff...
Doloi stid
Diz Agorio em sua reportagem sobre a Rússia, que a nova organização da família permite o resurgir legal do hetairismo grego, mas livre. A hetaira grega, erroneamente por aí confundida com a cortesã, não era livre, era uma escrava de grau superior. Glicéria foi parar às mãos de Filemon em troca de dez mil medidas de trigo, depois de ter coabitado com o poeta Menandro e, antes, com o pintor Pausias.
A hetaira russa não é uma escrava. Elege, escolhe, dispõe de si, é livre.
O hetairismo sempre existiu. No Japão é constituído pelo geishismo. A geisha, educada desde a infância para o amor em sua tríplice expressão, física, espiritual e sentimental, torna-se uma harpa erótica, ressoante, como a eólia, às menores brisas — mas é de aluguel. Alugam-na a prazos fixos, como se fora um móvel de luxo.
Na França, que têm sido as Ninon de Lenclos, as Theroigne, as Maintenon, as Dubarry? Hetairas livres, negadas pela lei mas aceitas pelos costumes e, graças aos seus dons de espírito, tão famosas como essas gregas que enchem de encanto a antigüidade clássica, Aspásia, Laís, Frinéia, Safo, para só citar as maiores. Agorio também cita as menores, como Timandra, amiga de Alcebíades; a escultural Arqueanasa, boa musa de Platão; Corina, que descobriu aos olhos maravilhados de Píndaro o mistério da poesia; Hérpilis, colaboradora de Aristóteles; Taís, a amada de Alexandre e de Ptolomeu.
A hetaira há de reunir à beleza física a graça da cultura e a sutileza do espírito; só assim, completa, possui todos os requisitos para enliçar os homens superiores, os aedos, os artistas, os filósofos, tornando-se-lhes a companheira ideal.
Sempre existiu, já disse, aceita pelos costumes dos países de alta cultura, como a França, mas negada pela lei. Quer Agorio que na Rússia resurja essa forma de companhismo, desta vez legalmente.
É curiosa esta volta à Grécia depois de cada revolução social. Na revolução francesa, arrasado que foi o terreno, os novos esboços de construção iam à Grécia pedir modelos. Agora se dá o mesmo na Rússia. Esta reincidência prova como a Grécia era logicamente animal e natural.
O culto do nu, em vigorosa resurreição na terra de Lenin, mostra a tendência de retorno à harmonia clássica. Diz o escritor argentino que por toda a parte se pode admirar a beleza ondulante do corpo humano. O gosto pelas emoções plásticas ganhou com rapidez a alma dos russos. Nas procissões públicas da juventude comunista, belas raparigas semi-desnudas se mesclam a efebos adolescentes, em encantadora promiscuidade. Confessa ele que é inolvidável o espetáculo. A linha flexível do corpo, envolto às vezes num torvelinho de véus rubros, dá à forma humana o mistério resplandecente das estátuas — vivificados no ritmo, na serenidade e na harmonia. Tais procissões, ao toque de músicas belicosas, provocavam-lhe a sensação de frisos gregos em movimento.
O exagero sobreveio. O gosto discreto do nu foi exagerado pelos “doloi stid”, sectários de fundo místico, que aliás têm proliferado menos na Rússia do que na Alemanha e nos países escandinavos.
Os primeiros membros desta seita, que se atreveram a arrostar os preconceitos do povo russo, foram um homem e uma mulher. Tomaram o bonde em Moscou sem outros trajes fora a estreita faixa vermelha onde se lia a inscrição — “Doloi stid!” (Abaixo a vergonha!) que deu nome à seita. Foi um escândalo a princípio; depois vieram os sorrisos irônicos; por fim, a indiferença.
Este fato foi comentadíssimo em toda a Europa de maneira desfavorável à confederação dos sovietes, não se levando em conta a origem alemã do doloistidismo. A seita destes fanáticos do nu tem seu ninho na Alemanha do norte, onde se constitui em colônias ao ar livre, nos bosques e margens dos rios. Sustentam que a roupa não só é anti estética, como ainda representa um constante atentado contra as leis da natureza. Homem e mulher nascem nus e nus devem viver.
A doutrina, diz Agorio, cifra-se nisso, e qualquer estrangeiro que a aceite está em condições de filiar-se ao grupo. Só lhe exigem que varra do cérebro qualquer idéia pecaminosa, e jure conservar a pureza e inocência dum recém-nascido.
Feito isso está apto a ser recebido num lar “doloi stid”.
Entra. Surge um criado vestido de pele natural, que o ajuda a desnudar-se num vestiário e em seguida o introduz. Vão-se-lhe deparando quadros comezinhos de vida caseira, já seus conhecidos uns, outros inéditos graças à ausência de véus. Vê, por exemplo, brincarem as crianças como um bando de róseos Eros sem asas; e vê a clássica octogenária em sua poltrona tecendo peúgas. Peúgas, na casa do nu? Sim. Os velhos estão isentos do adamismo, já que o aspecto do corpo humano em decadência não sugere idéias agradáveis.
Mas vêm agora ao seu encontro os donos da casa. Decepção. Em regra, embora não velhos, os donos da casa pecam pelo bambo das carnes ou pelo excesso de ventre. E já pensa o neófito em abjurar o doloistidismo, quando lhe aparecem os convidados. Tudo muda. São moças de formas estatuárias, que servem o chá com uma impassibilidade que espanta. Totalmente nuas, não; trazem no corpo alguma coisa — nem podia deixar de ser assim: trazem nos lábios um pouco de carmim e nas unhas um róseo brilho artificial. Só...
Enfrentam os homens com absoluta serenidade. Dir-se-ia que trazem sobre os instintos aquela túnica de gelo que defende a castidade das banhistas públicas de Estocolmo.
A festa de recepção aos profanos em regra termina por um baile — que é um desastre para o neófito em cujas veias corre o caprino sangue meridional. O comum é fugirem da sala por incapacidade de sustentar o juramento de inocência feito ao entrar. Fogem, com imenso escândalo da paradisíaca assistência.
Nada é novidade no mundo. Aqui onde estamos, neste Rio cujas moças incidem em tantas censuras por mostrarem dois palmos de magros cambitos, os nossos avós tupinambás, donos da terra, viviam, ledos e cegos, em doce “doloi stid”, sem escândalo de ninguém.
Escândalo, e imenso, causou a chegada das cinco francesas vindas em 1558 com os navios de Bois le Comte. Desembarcaram no forte de Coligny e dias depois se apresentaram na praia aos selvagens reunidos.
Ao vê-las, nossas vovós tupinambás, puras Evas antes da vinha, levaram a mão aos olhos, arqui-escandalizadas:
— Mulheres vestidas! O mundo está perdido...
E benzeram-se com o maracá.
O Drama do Brio
Há dezesseis anos ocorreu em São Paulo um crime singular.
Estava de guarda no quartel da Luz um soldado pernambucano de nome José Rodrigues Melo.
Era um homem. Embora rude, ninguém no regimento o vencia em firmeza de caráter. Melo personificava o brio militar — mais que isso, Melo personificava a dignidade humana.
Estava de guarda, embora tivesse a mão direita enferma. Os pernambucanos são rijos, e um simples ferimento não bastava para arredar aquele do serviço.
Começa aqui a tragédia do Brio. O Brio o impediu de ir vadiar à enfermaria. O Brio iria inutilizá-lo para sempre.
Passou por Melo um oficial francês.
Nesse tempo São Paulo vivia cheio de oficiais franceses, contratados para amestrar nossa gente na arte de matar pela escola de Saint-Cyr. E como para bem ensinar a arte de bem matar o primeiro passo é domesticar o aluno, os professores de França não largavam o instrumento clássico da domesticação: o chicote. E ninguém lhes fosse lembrar uma tal lei de 13 de Maio, etc., etc.; rir-se-iam com superioridade metropolitana, silvando: “Fí, donc”!
Ao passar o francês, nosso soldadinho pernambucano perfilou-se na continência do estilo. Acontece, todavia, que isto de continência é a colocação do pronome dos militares — coisa seríssima. Melo errou num pronome. Em vez de fazer a continência com a mão direita, impedida pela enfermidade, fê-la com a esquerda sã.
Ai! O lambe-feras avança para Melo e chicoteia-o impiedosamente na cara.
— Sale négre!
E a tragédia explode. Tudo quanto havia em Melo de dignidade humana faz-se maremoto incoercível. Não era mais um homem quem recebia a afronta, era a raça. Era essa coisa enorme e brutal que se chama pátria e borbulha dentro do peito de certas criaturas sob forma de sentimentos explosivos como a nitroglicerina.
As mãos de Melo crisparam-se na Mauser... e lá partiu a bala certeira que iria privar Damasco de mais um perito bombardeador.
Negrel morreu ao lado do chicote infamante — e parece que o chicote em São Paulo morreu com Negrel.
Foi esse o drama. Positivamente drama da raça. Drama da honra. Drama do brio. Drama da dignidade humana.
Ia começar a comédia da covardia.
Não houve em São Paulo um nacional que não fremisse de entusiasmo diante do revide de Melo.
Minto. Houve doze homens que destoaram do coro unânime. Eram homens que, chicoteados na cara, em vez de reagir meteriam a cauda entre as pernas e iriam, ganindo, beijar as mãos do lambe-feras. Nenhum deles tinha dentro de si a raça. Nenhum deles chegava a homem; meros sub-homens à tout faire.
Pois a coincidência quis que tal dúzia fosse constituir o conselho julgador do honroso crime.
Condenaram-no. E nada mais lógico, nada mais canino do que essa condenação a trinta anos de prisão celular infligida ao Brio. Condenaram-no só a trinta porque a lei não admitia penas de cinqüenta; nem permitia a aplicação das engenhosas torturas com que Luiz XV, o rei Bien Aimé, durante um dia inteiro divertiu Paris com o espantoso suplício de Damiens.
O crime de Melo era gravíssimo. Era crime de lesa-galicidade. E como o medo à França fez calar a imprensa, sofreando no nascedouro a onda de simpatia nacional, Melo foi apodrecer em vida num cubículo penitenciário.
E lá vegeta há quinze anos.
Nesse intervalo, quantos criminosos repugnantes não obtiveram perdão? Quanto cangaceiro que mata pelo prazer de matar não se gozou duma sólida impunidade? E também, quantos marroquinos e quantos sírios não foram trucidados cientificamente pelos franceses, por terem no peito o sentimento de raça que perdeu Melo?
Nossos “dúzias” perdoam tudo menos a dignidade, e o ensino inoculado pela missão do chicote calou fundo. Se lá na Síria os mestres bombardeiam os criminosos desse crime, aqui os alunos os fazem apodrecer nos ergástulos.
Há dias um repórter carioca, em visita à penitenciária de São Paulo, teve ocasião de falar com Rodrigues Melo.
— Está arrependido do que fez? perguntou-lhe.
— Não! retrucou firmemente aquele brio de aço. E diga-me o senhor: se fosse iniquamente chicoteado na cara por um estrangeiro só porque lhe fez continência com a mão esquerda, visto ter a direita enferma, não faria a mesma coisa? Confesso que pratiquei o crime fora de mim; mas a privação de sentidos não foi inventada para nós...
E suspirou com os olhos brilhantes de lágrimas.
— Por que chora?
— Saudades de minha mãe, uma pobre velhinha que vive a esperar por mim, lá no fundo de Pernambuco. Oitenta e seis anos!... Vê-la-ei ainda?
Melo não se arrepende, e é diante de firmeza assim que nos renasce a fé na raça.
O desfibramento atual tem que ser passageiro. Eclipse momentâneo. Nem todos os Melos estão encarcerados; há de hávê-los soltos, e por escassa que seja a semente, a espécie há de proliferar um dia.
O “não” de Melo ao jornalista é sublime. Diz “não!” após quinze anos de cárcere. Dirá “não!” ao cabo dos trinta anos da pena. E se no dia seguinte à soltura um francês o chicotear de novo, a raça incoercível, transfeita em diamante dentro desse homem, fá-lo-á matar de novo.
Os anos e as torturas são impotentes para quebrar a dignidade em quem a recebeu do berço — como coisa nenhuma a dará a quem dele saiu eunuco.
Literatura de cárcere
De século em século opera-se uma revisão nas idéias humanas e vai para o refugo muita coisa tida antes como verdade absoluta. Hoje, por exemplo, temos como líquido que é justiça pegar num homem, fazê-lo julgar por juízes e metê-lo por dez, vinte, trinta anos num calabouço. A verdade de um século atrás era que isso se fazia como castigo. Essa verdade foi para o refugo, substituída pela verdade de hoje: não castigo, mas defesa social. A verdade futura será bem outra, visto como se patenteiam dia a dia o inócuo desta defesa, o seu resquício de crueldade medieval e a sua falta de correspondência com o grande ideal moderno que é produzir.
Inócuo da defesa, porque, cumprida a pena, o condenado se torna muito mais perigoso, graças à maré de ódio que lhe encheu o peito. Cruel porque não há distinguir entre um apodrecimento em vida e uma tortura da inquisição. Anti econômica porque retira da produção uma unidade e fá-la peso morto, a cargo dos que produzem.
Para julgar o nosso sistema de defesa social basta uma pergunta: a quem aproveita a reclusão dum ser humano? À sociedade? Não, porque vai pesar sobre ela na sua categoria de não-produtivo à força. À vítima, ou à família da vítima do ato delituoso? De forma alguma. A si próprio? Não é matando o coração de um homem que o tornamos melhor homem.
Não aproveita a ninguém; no entanto, o peso tremendo da nossa infinita estupidez perpetua esse regime — e agrava-o, hoje que de vasto hospital passou o Brasil a vasta masmorra (1).
Só em S. Paulo há qualquer coisa que denuncia inteligência e nobre compreensão do problema.
A penitenciária como existe lá, amplíssima oficina de ótimo aparelhamento técnico, capaz de atenuar o horror da reclusão pelo trabalho remunerativo, deixa-nos entrever quão diferente será no futuro o regime penal. S. Paulo já é século vinte; o Rio e o resto do Brasil inda é Pina Manique puro.
Há dias, nesta coluna, falei de Amador Santelmo, uma das vítimas da incompreensão reinante em matéria penal. Referi-me a um seu livrinho que não terá nunca prêmio da Academia — mas que comove estranhamente como expressão ingênua da dor dos triturados.
A reclusão é uma singular reveladora da alma humana! Revela-a, sobretudo, a si própria. E Santelmo, que, cá fora, livre, jamais teve olhos para uma mariposa, na prisão enterneceu-se com uma, viu nela uma companheira, compreendeu um pouco do universo. Esta página sua merece ser transcrita.
“Um companheiro de infortúnio teve a delicada lembrança de mandar-me uma gentil mariposa dentro de uma caixinha. Tirei-a da caixa e coloquei-a sobre uma toalha felpuda, na minha cama, esperando que ela se fosse para sua casa, mas não foi.
Pareceu-me que não gostava muito da toalha, porque passeava com dificuldade, embaraçando-se nos fios crespos e arrastando sobre eles o seu vestido de noiva.
Abri então uma folha de papel almaço, onde a botei a passear. Gostou, pois mostrou-se mais contente, andando mais desembaraçada, sempre a arrastar o vestido branco, mas sem sair do papel.
Horas passei assim, vendo-a passear, esperando que ela fosse para sua casa, mas não ia.
Eu por um lado não queria que ela se fosse; por outro queria, porque havia de ter alguém à sua espera.
Vendo que Nívea (eu já a tinha batizado e foi sua madrinha o retrato de uma pessoa que tinha comigo), vendo que Nívea não se ia embora, julguei que tivesse fome e dei-lhe pão, porém ela não comeu. Dei-lhe fruta, e também não provou. Não sei que é que comem estes bichinhos de Deus!
E assim passamos o dia. Eu estava contente por ter uma companheira com quem conversar. E tão gentil! Tinha o corpo bem feito e o vestido branco enfeitado de arminho.
Por que não se ia ela embora, ver seus parentes ou filhos que a esperavam? Estaria zangadinha com o marido?
Entretanto a noite chegou sem eu dar por isso. A lâmpada do cubiculo acendeu-se e a mariposa, a gentil Nívea, agitou-se satisfeita, abriu as asas, sacudiu o vestido branco, mostrando a graça do seu lindo corpo, e ergueu vôo em direção à lâmpada. E ficou num doido corropio em redor da luz.
Que mistério terá a luz que tanto atrai as mariposas? É como o sol, que atrai os mundos, os olhos, o coração...”
Há alguma coisa neste analfabeto que aprendeu a ler consigo no cárcere e saiu escritor.
Outra página interessante é a que fala dum vigarista.
— “Estou preso por passar o “conto” em quem o queria passar a terceiros.
Imagine que o otário comprou-me dez contos de notas falsas por dois bons. Ora, eu que não quero “trabalhar” com “mixas”, e antes quero ser pirotécnico ou fabricante de dinamite do que pegar em notas falsas, vendi-lhe, em vez de notas, papel branco em pacos. Ele é que devia estar aqui, porque queria notas falsas para passar. Quem é então o vigarista?
Mas nem por isso lhe quero mal. Todos no mundo passamos o conto do vigário. Passa o conto o negociante que vende um gênero por outro, o padre que reza sua missa, o doutor que mata o doente, o marido que engana a mulher, a moça que engana os homens com seios postiços, o jornal que mente, o cinema que faz reclame, o governo que desgoverna.
E até Deus passa o conto mostrando um céu azul, que não é azul, um mar verde, que não é verde, estrelas que não são estrelas, a luz da lua que não tem luz, e até a vida, que é um conto do vigário, pois não passa de um sonho, um pesadelo neste planeta de misérias.
Mas o caso típico do conto é o conto do casamento. O Sr. vê uma mulher, gosta dela, namora, casa. Na noite de núpcias já vêem os dois o conto em que cairam, porque a mulher também caiu no conto do homem. E quando isto não acontece, vem depois o conto do filho adulterino.
Ouvi enervado o aranzel filosófico do vigarista e depois perguntei:
— É também vigarista o juiz que pune os vigaristas?
— E dos bons! O juiz é um vigarista ilustre que a sociedade elegeu para passar o conto nos vigaristas pequenos, que passam o conto nos vigaristas grandes...
Pouco a pouco foi-me ele convencendo de que a vida é uma interminável cadeia de contos do vigário. Por fim disse-lhe:
— Contudo o senhor vai sofrer aqui as conseqüências do conto do juiz.
— Está enganado! respondeu-me. O meu advogado, que é um vigarista insigne, vai passar o conto no juiz e eu tenho que ser posto em liberdade pelo conto do habeas-corpus, que é o conto do vigário que a Lei passa na Justiça...”
Para nós não é assim. Mas para uma inteligência divina, bem pode ser que seja assim...
Novo Gulliver
Há lembranças da meninice que jamais se apagam do cérebro adulto, mesmo quando esse receptador de impressões não consegue, por fraqueza senil, reter as da véspera. Lembro-me de um cromo de vivas cores, visto aos cinco anos, reclame da linha de coser Coat’s e não me lembro dos desenhos alegóricos a Cristo publicados nos jornais na última sexta-feira santa. Representava esse cromo um gigante estirado à borda do mar e enleado de mil fios de linha Coat’s; em redor formigava a legião dos pigmeus amarradores. De mãos à cintura, muito contentezinhos, confundiam a imobilidade do gigante, conseqüência do bom sono que dormia, com a imobilidade da mosca enleada por mil voltas da teia de aranha.
Mais tarde, quando chegou o belo tempo dos livros de Grimn, Andersen, Ségur e outros maravilhadores da imaginação infantil travei conhecimento com Jonathan Swift e tive a explicação do meu cromo de Coat. Representava Gulliver no país de Lilipute, amarrado durante o sono de mil cordas liliputianas. Mas Gulliver acordou, estirou os músculos e com um simples espreguiçamento rompeu, com grande assombro dos locais, toda a amarrilhoca que o prendia.
Quem trepa a um Corcovado imaginário e de lá procura ver em conjunto o Brasil, espanta-se da sua atitude. É um gigante deitado e amarrado. Mas não dorme; ofega com a respiração opressa e faz descoordenados movimentos convulsivos para romper o cordame enleador.
O Gulliver sul-americano principiou a ser amarrado pelos portugueses, quando Portugal descobriu que em suas veias circulava ouro, o sangue amarelo; e desd’aí até hoje os homens do cipó, vulgo homens de governo, outra coisa não fizeram, federal, estadual, municipalmente, senão dobrar cipós, cordas e fios de arame sobre seus membros para que, a salvo de pontapés, possam sugá-lo com as suas trombinhas de percevejo.
Portugal só organizou uma coisa no Brasil-colônia: o Fisco, isto é, o sistema de cordas que amarram para que a tromba percevejante sugue sem embaraços. Quem lê as cartas régias e mais literatura metropolitana enche-se de assombro diante do maquiávelico engenho luso na criação de cordas. Cordas trançadas de dois, de três, de quatro, de dez; cordas de cânhamo, de crina, de tucum, de tripa; cordas estrangulatórias de espremer o sangue amarelo e cordas de enforcar.
E assim foi até que um português de gênio impulsivo se condoeu da triste sorte do gigante e cortou o cordão umbilical que o prendia à Metrópole, corda mestra, corda mãe de toda a linda coleção de cordas fiscais secundárias. E o gigante respirou e viveu feliz, sobretudo no meio século de “compreensão” que o magnânimo filho do primeiro Pedro houve por bem outorgar-lhe.
Mas não há felicidade que dure mais de meio século. Uns bacharéis formados pela universidade da Lua e uns generais tentados pela serpente da traição implicaram-se com a velhice do príncipe magnânimo, acusaram-no de saber quatorze línguas, de assistir a exames de meninos, de boicotar com um célebre lápis azul os maus juízes, em vez de fazer as coisas interessantes que, quatrienalmente postos no lugar do velho sábio, eles, bacharéis e generais, fariam. E deportaram-no; meteram-no a bordo dum mau navio e:
— Vai ninar os netos de Victor Hugo. Tu não entendes de lidar com o gigante.
O bom velho partiu e os bacharéis e generais, a olharem-se uns para outros, sorridentes e gozosos, tomaram conta da casa.
Não diremos aqui das conseqüências inúmeras da mudança; basta que as sintamos todos os dias como o suplício da gota d’água; diremos somente da coisa capital que a república fez, faz e continuará a fazer. Estomagada com a liberdade de movimentos do bom gigante, resolveu amarrá-lo de novo. Foi às cartas régias da Metrópole e ressuscitou uma a uma todas as cordas e cipós fiscais rompidos pelos Pedros; recompô-las e começou a enlear pachorrentamente o pobre Gulliver. Amarra os braços, amarra as pernas, amarra as mãos; amarra, amordaça a boca para que não grite — e foi-se a Constituição; amarra, venda os olhos para que não veja — e lá se foi a imprensa.
Sobre o corpo de Gulliver desceram todos os arrochos. Não bastaram os cipós e cordas de invenção lusa; importaram-se cabos de aço, torniquetes complicadíssimos, borzeguins medievais, remodelados pela engenhosidade moderna. O Fisco tornou-se o objetivo supremo da república, a meta de todas as suas altas cogitações. Anualmente se reúnem, durante meses, centenas de técnicos cuja função é uma só: inventar novas torturas fiscais, novos aparelhos de sarjar as carnes e extorquir sangue à vítima.
Gulliver estertora. Todas as suas forças emprega-as em defender-se das cordas e ventosas que o Congresso torce e engenha. O Santo Ofício virou um marquês de Sade repartido em bancadas; não se contenta em tirar sangue, há que tirá-lo da maneira mais dolorosa, da maneira mais incômoda, da maneira mais lesiva ao organismo do bom gigante. A invenção do novo borzeguim — imposto da renda, excede a tudo quanto saiu da cabeça dos inquisidores: a vítima ignora o que tem de pagar e se não paga com exatidão incide em pena de confisco! E se em desespero de causa pede ao Fisco que lhe explique o mistério, que lhe dê a chave vertical e horizontal do quebra-cabeças, o marquês de Sade sorri e responde, diagonalmente:
— Pague com cheque cruzado, e explica com grande ironia de detalhes como se toma de uma régua, duma pena molhada em boa tinta e como se cruza um cheque.
Não há criatura neste país que não confesse um desânimo infinito. As energias do homem que trabalha e produz despendem-se por três quartos na luta contra a escolástica e o sadismo da cipoeira fiscal; sobra-lhe uma pequena parte para dedicar à sua indústria. Até esforço muscular dos dedos o sadismo do fisco lhe rouba. Pela manhã, ao acender o primeiro cigarro, tem que gastar o esforço de duas unhadas para romper o selo com que o fisco tranca as caixas de fósforos e os maços de cigarro.
Este engenhoso sistema de tortura tem em vista uma coisa só: permitir que sobre o corpo do gigante a vermina duma parasitalha infinita engorde em dolce far niente, como o carrapato engorda no couro do boi pesteado.
Vermina ininteligente! Consultasse ela os carrapatos e receberia deles um conselho salutar:
— É perigoso levar a sucção a grau extremo; morre o boi, e com ele a parasitalha.
Será que nem o instinto da conservação própria consiga meter um raio de inteligência nos miolos do triatoma megista?
O pátio dos milagres
Há no mundo nações tão bem ordenadas, tão limpas de vida que se tornam insulsas e intelegrafáveis. Suécia, Noruega, Dinamarca; Holanda e Suíça (a lista não vai além) chegam à perfeição de impedir a permanência em seu território dos solícitos correspondentes da Havas, da United, da Associated Press. Proibem-lhes o ingresso? Absolutamente não. Apenas lhes negam fatos telegrafáveis. Não há desastres, não há crimes, não há revoluções, não há guerras, não há sítios, não há golpes de estado, não há nada dessa pitoresca desordem da França, Itália, Portugal, Brasil e outros, eterna fonte dos telegramas que enriquecem as agências à custa da universal curiosidade.
A Suécia chegou à perfeição das colméias. Nos bondes os passageiros depositam o níquel da passagem numa caixinha adequada. Nem cobradores, nem fiscais — e nunca um sueco lesou nenhuma empresa de tramway. Se porventura esquece em casa os níqueis, viaja de graça, mas no dia seguinte, ao tomar de novo o bonde, não esquece de pagar em dobro. A venda de jornais às esquinas é feita pelo mesmo processo. O freguês toma a folha que quer e deposita o preço. Se está sem miúdos, ele mesmo faz o troco. As moedas permanecem numa caixa aberta, à vista do público, sem que passe pela cabeça de ninguém a idéia absurda e anti-sueca de furtá-las.
Na Suíça deu-se há três anos um crime. Um russo, em trânsito por Lausanne, matou a outro russo por motivo de vingança política. O abalo foi medonho. Do Jungfrau à última vaca bernesa, a Suíça inteira fremiu de horror, e durante meses foi esse crime o tema de todas as conversas e de todos os espantos. Até hoje, quando quer um suíço referir-se a fatos do ano 1923, diz, ainda arrepiado: Foi no ano daquele crime...
Paizes assim têm o defeito gravíssimo da insipidez. Lembram a ilha da Perfeição, onde a deusa Calipso abrigou Ulisses e de tantas delícias o cercou que o mal acostumado grego deu de bocejar, saudoso da bela desordem de Ítaca.
Esta insulsez da ordem perene foi-me há dias confirmada por um turista sueco, que desceu do Arlanza para uma rápida inspeção à nossa cidade e acabou fixando residência aqui.
— Estou maravilhado! disse-me ele. Nunca supus que no mundo houvesse uma coisa (ele chama ao nosso país coisa) tão interessante e pitoresca! Começa pela mistura das raças. Nós lá somos vítimas da perfeição étnica. Todos os homens se parecem uns com os outros, todos regulam no porte, na cor dos olhos, no louro dos cabelos, no bem proporcionado dos membros. Ora isso, afinal, cansa, porque ver um é ver todos. Mas aqui, que maravilha! Os homens apresentam a gama inteira da somática humana. Há-os grandes, médios, pequenos e minúsculos. Há-os retos como cabos de vassoura, gordos como abóboras, magros como palitos, tortos como latas velhas, capengas, cambaios, corcundas, coxos, manetas. E de todas as cores, pretos, castanhos, achocolatados, aços, amarelos, ruivos, vermelhos, verdes e até brancos. Costumo ficar na rua Larga vendo o desfile do povo suburbano. Não há dois seres iguais e ainda não vi um com a forma humana clássica dos Apolos esculpidos na Grécia, ou dos jovens que passam pelas ruas de Estocolmo.
Isto, meu caro senhor, é uma pura maravilha para um viajante como eu, que corre mundo em procura do pitoresco ausente da terra natal. Somos na Suécia vítimas da ordem perfeita, ordem em todos os sentidos, inclusive a econômica. Esta chegou a tal ponto que até esse velho elemento estético, tão caro aos artistas, que é o clássico mendigo de rua, desapareceu dentre nós. Pintor sueco que se proponha pintar um quadro como O Piolhoso de Murilo, ou vai pintá-lo fora da Suécia, ou tem de camuflar de mendigo a um sadio mecânico aposentado de Trollhatan.
Aqui, entretanto, que riqueza de motivos pitorescos só no que diz respeito a admiráveis mendigo autênticos! Em plena Avenida, num esplêndido contraste com as montras scintilantes de jóias e as damas que passam vestidas de todas as cores do íris e de todas as missangas de Paris, tenho visto exemplares que fariam fremir de entusiasmo o pincel do nosso grande André Zorn. Mendigos primorosos, com belíssimas chagas, vermelhas como cactus, ótimas para o estudo da gama inteira dos carmins e dos lilases gangrenosos. Outros dotados de soberbas inchações lustrosas, nas quais Zorn descobriria tons de ocres inéditos para a sua palheta. Além dos efeitos de cor desses maravilhosos mendigos, os efeitos de expressão! Que riqueza! Resignados uns, como felás do Cairo, exibindo elefantíases de entusiasmar; outros em tal grau de penúria orgânica que o passante artista se detém, na esperança do espetáculo raro de um estrebuchamento final, rico de convulsões, em pleno sol.
Esta riqueza inaudita de temas pitóricos constitui a grande riqueza de vosso país, e no dia em que for conhecida lá fora, pela inteligente propaganda dos vossos cônsules, atrairá para cá toda uma legião de pintores e escultores europeus.
E tudo isto vós o conseguis com um insignificante dispêndio de níqueis sabiamente largados nas mãos que se estendem!
O processo da assistência ao inválido, que em má hora a Suécia adotou, deu cabo do mendigo por lá, com grave dano do pitoresco das nossas ruas. O vosso processo do níquel é inteligentíssimo. Mantém, conserva a enorme classe dos inválidos, não em asilos, fora dos olhos do público, o que é contrário à estética, mas bem à mostra do passante, estorvando-lhe a passagem, forçando-o a deleitar-se com o pitoresco da miséria humana.
Sois grandemente sábios, sem o saberdes. Sois uns inconscientes criadores de beleza, numa era em que a organização social vai dando cabo da beleza do mundo. A desordem é condição da beleza, e a bela desordem que noto em todas as vossas coisas, denuncia os dons estéticos com que a natureza vos fadou. O regime de seleção às avessas adotado pela vossa política, o empirismo dos vossos governos, a fabricação de leis anuais sem o mínimo estudo das realidades, tudo isto é profundamente estético. Vossos governos e vossas leis com muita sabedoria impedem que o Brasil vire uma Suécia, uma Suíça, — ilhas de Calipso onde a perfeição orgânica cria o tédio e mata o pitoresco.
Prevejo que o critério da vossa elite dirigente vai conduzir-vos à hegemonia do pitoresco. Háveis de derrotar Espanha, Portugal e Itália.
Haveis ainda de ser a great attraction do turismo universal, quando em conseqüência lógica da vossa orientação o Brasil se transformar no Pátio dos Milagres da América, irmão daquele maravilhoso Pátio dos Milagres que Victor Hugo descreve na Notre Dame de Paris. Esta perspectiva de tal modo me encanta que deliberei fixar residência aqui e talvez até me naturalize. Porque, meu caro senhor, devo dizer-lhe que sou um temperamento visceralmente artístico, desses que...
Neste ponto o meu sueco interrompeu-se e, num enlevo d’alma, caiu em êxtase diante dum cul-de-jatte de terceira ordem que aos arrastos se nos defrontara e me estendera a mão faminta de níqueis.
Um orgulho imenso encheu-me a alma. Senti-me enfunado de radiantes ufanias patrióticas e tive um dó imenso daquele desgraçado sueco, que para deleitar-se com um mau exemplar de cul-de-jatte tinha de deixar a sua terra e atravessar os mares.
— Isto não é nada, disse-lhe eu com paternal superioridade. Temos coisa muito melhor. Temos cinqüenta mil morféticos admiráveis!
— Cinqüenta mil? exclamou o sueco num assombro, mordendo os lábios de inveja. Nós lá tínhamos um, mas morreu...
Ri-me da pobreza da Suécia e, num gesto a Cirano de Bergerac, dei ao cul-de-jatte um níquel novinho — o precioso níquel com que, tão inteligentemente, fazemos as Suécias se curvarem ante a nossa formidanda superioridade estética...
Vatel
Se houvesse entre nós mais amor à cultura seria o Rio um formidável consumidor de livros.
O excentrismo topográfico da cidade obriga seus moradores talvez ao maior movimento de locomoção ainda observado em centro urbano. O carioca devia chamar-se naveta, já que a ir e vir passa a vida, como a lançadeira das máquinas de costura. Carioca que morre sessentão, três anos pelo menos morou no bonde. Outros chegam a morar vinte ou trinta; mas estes não contam, motorneiros e condutores de profissão que foram.
Ora, se este tempo de bonde, em regra perdido a olhar com displicência o desfile das casas margeantes, fosse empregado na leitura, que grandes ledores não seriam os cariocas e que ótimo negócio o dos livreiros!
O bem far-se-ia duplo: desencrostar o espírito do cascão que Manuel, Cunhambebe e pai João nos legaram e encurtar as distâncias. Do centro à Tijuca, a ler, dura a viagem cinco minutos, se o livro é bom, ou quinze, se medíocre. A olhar as casas, parvoamente, como se foram palácios, dura horas.
Porque nada mais elástico que isto de hora. A marcação mecânica dos relógios difere da única marcação verdadeira, que é a psicológica. As horas de amor têm cinco minutos, as de seca literária, cento e vinte e às vezes mais.
Muito esmói o cérebro dos nossos prefeitos, que o têm, o problema do encurtamento das distâncias — e nada de vir solução que preste. É que procuram solução mecânica num caso em que só é possível a solução psicológica.
Ensine-se a ler ao povo e forneçam-se-lhe livros interessantes, portáteis, em brochura para o bolso do revólver. E que cada condutor de bonde nos dê em troca da passagem, em vez do papelucho colorido que nos destacam à vista e o vento leva, um livrinho acomodado à extensão da viagem.
A Linda Mentira, de Ahelmar, a quem vai à Lapa; o Rocambole, a quem vai ao Leblon. E ninguém murmurará jamais contra as distâncias, psicologicamente suprimidas.
As boas soluções são essas, as indiretas.
Isto o digo por experiência própria. Meu bonde me consome vinte inexoráveis minutos de relógio em levar-me de casa ao centro. Se vai comigo um livro, não percebo o desfalque do meu capital-vida; se vou a olhar casas, sinto-me roubadíssimo.
Além de que é uma delícia o refugir pela imaginação ao ambiente de asfixia em dobro, que nos dá estado de sítio em cima de calor. Leituras tópicas: Guilherme Tell, de Schiller e Viagem ao Pólo, de Amundsen.
Somem-se as barreiras do espaço e do tempo. Com a mesma facilidade com que pulamos do Rio à Grécia e lá assistimos à greve das mulheres contra o ardor dos maridos, contada por Aristófanes, saltamos do dia de hoje ao século dezoito e ouvimos de Mme de Sevigné a história da morte de Vatel, caso único de morte por hipertrofia de ponto de honra culinário.
Meu bonde ontem foi de palestra com Madame. Esta senhora imortalizou-se de verdade com um punhado de cartas escritas à filha e a outros figurões, todas elas modelos de graça, leveza e feminilidade.
Os franceses têm a palavra pimbêche para designar a mulher de ânimo belicoso que vive em guerra aberta com todos da família. A criar-se lá o antônimo de pimbêche seria fatal o sevignêche, tal a adoração que Madame indicia nas cartas pela filha e pelos seus. Adoração que acaba enjoando o leitor, como os doces doces de mais. Já não é mais sentimento porque é sensiblérie pura, da só possível naquela antisocialíssima vida de corte em que um enxame de cortesãos zumbia em torno do décimo quarto Deus-Luiz.
Quando, porém, um fato de nota ocorria, a correspondência da Sevigné escapava à bombonização rósea do pensamento e narrava com muita naturalidade e graça.
Numa de suas cartas ocupa-se da morte de Vatel, chefe supremo da cozinha da casa de Condé. O rei fora visitá-lo, a Condé, e houve caçada, passeios, colação ao luar num sítio poético tapetado de junquilhos. À noite, ceia.
Mas a comitiva apareceu maior do que a esperada e o assado faltou a algumas das mesas.
Isto foi para Vatel um golpe de morte.
— Estou desonrado; não poderei suportar este desastre... murmurou ele.
Mais tarde disse a um Gourville:
— A cabeça me vira; há doze noites que não durmo; ajude-me a dar ordens.
Gourville o consolou como pôde.
O assado não faltara à mesa do rei, e sim a mesas subalternas. Mesmo assim Vatel definhava de dor.
O príncipe de Condé foi até seu quarto consolá-lo.
— Tudo vai bem, Vatel; a ceia do rei esteve maravilhosa!
— Monsenhor, vossa bondade me confunde; mas eu sei que o assado faltou a duas mesas.
— Tolices, não te aborreças, tudo vai bem, concluiu o príncipe.
A noite chega. Há um fogo de artifício que falha por causa do mau tempo. (O fogueteiro, que era parente de Vatel, nem por isso perdeu o sono).
Às quatro da madrugada Vatel, já em movimento de cá para lá, encontra um fornecedor de peixe que lhe traz algum.
— É tudo? pergunta Vatel. E ao saber que era acha pouco e superexcita-se inda mais. Impacienta-se. Não espera que os outros pourvoyeurs, mandados a todos os portos de mar, cheguem a tempo. Cruza-se com Gourville e diz:
— Não sobreviverei a esta nova afronta, tenho honra e reputação a perder...
Gourville caçoa dos seus escrúpulos e segue caminho.
Vatel sobe ao seu quarto, encosta a espada à parede e traspassa o coração. Três enfincadas deu, conseguindo a morte na última, como diria Mr. de La Palisse.
Mal expira o intendente, eis que começam a chegar de todos os lados os pourvoyeurs — e é peixe a dar com pau. Correm à procura de Vatel; esbarram na porta do seu quarto fechada; arrombam-na e lá o encontram morto, num lago de sangue. Compusera o seu último prato: Vatel em molho pardo...
A tristeza foi imensa. Condé adorava-o e via nele a coluna mestra do seu prestígio de príncipe. A deserção do Shakespeare da cozinha viria certamente diminui-lo na consideração do estômago real e dos estômagos azuis da corte. Não se suicidou entretanto. Apesar de príncipe não sofria de hipertrofia do ponto de honra, como o seu cozinheiro.
O nosso Dualismo
O futurismo apareceu em São Paulo como o fruto da displicência dum rapaz rico e arejado de cérebro: Oswald de Andrade. Turista integral, alternando estadias em Paris com estadias em Ribeirão Preto, leituras de Marinetti e outros com leituras d’“O Democrata”, de Pilão Arcado, visões de mármores de Mestrovich com santos de olho arregalado feitos na Bahia, apachismos elegantes de boulevard com o mumismo urbano de Marianas e Diamantinas — sentiu melhor do que ninguém a nossa cristalização mental e empreendeu combatê-la.
Mas combatê-la como? O velho processo do riso, da sátira, do sarcasmo sempre se revelou inútil entre nós. Dá resultados nos países de cultura disseminada, onde um riso como o de Voltaire se propaga em ondas hilariantes dum extremo do país ao outro. Aqui morre nos lábios de quem o arrepanha, porque a incultura não ondula coisa nenhuma.
Mas Oswald, psicólogo de fartos recursos, teve uma idéia genial: recorrer ao processo da atrapalhação.
— Esta gente, refletiu ele, está a jogar uma partida de xadrez que não tem fim; sempre as mesmas pedras, sempre as mesmas regras, sempre as mesmas saídas de peão do rei; sempre os mesmos xeques de rainha e torre. O riso, a piada de quem lhes sapeia o jogo de nada vale: não ligam, estão absortos demais. O recurso é um só, meter as mãos no tabuleiro e mexer as pedras como quem mexe angu.
E se justificava o angu com teorias metafísicas, transcendentalíssimas, tais teorias não passavam duma peninha (o futurismo), cujo fim era atrapalhar inda mais.
Sabem o caso da peninha?
Um sujeito propôs a outro esta adivinhação: “Qual é o bicho que tem quatro pernas, come ratos, mia, passeia pelos telhados e tem uma peninha na ponta da cauda?”
Está claro que ninguém adivinhou.
— Pois é o gato, explicou ele.
— Gato com peninha na cauda?
— Sim. A peninha está aí só para atrapalhar.
As teorias estéticas dos futuristas são esta peninha...
Assim pensou e assim fez Oswald. E os enxadristas, com grande indignação, tiveram de interromper a partida interminável. Xadrez exige calma, repouso, ordem, regra, sistema, boa educação, e do mexer do angu nascera a desordem, a molecagem, o barulho, a extravagância.
O rei passou para o lugar do peão, a rainha deu de pular como o cavalo, o cavalo a ter movimentos de bispo e no fim de tudo quem levava o xeque-mate era quem saía ganhando.
“A besta de Homero.... A cavalgadura do Shakespeare... O cretinismo do Anatole...”
Inversão, ou melhor, atrapalhação, angu completo dos valores assentes. Dos valores e das regras. A gramática, a boa ordem, a justa medida, a clareza — pilhérias! Por que é que o pronome reflexo não há de abrir períodos? E zás: “Me parece que...” E o “você” expeliu o “tu”, e a velha asneira, que andava no refugo porque só os asnos a manuseavam, foi reabilitada, vestida à moderna e veio à tona de livros e jornais, toda garrida, provando mais uma vez que tudo vai da apresentação, e que um urubu preparado por Vatel pode saber melhor ao paladar do que uma perdiz assada pelas nossas cozinheiras do trivial.
S. Paulo é um meio muito rico de vitaminas mentais e só lá era possível que o gesto de Oswald criasse escola. Assim é que brotou do Bom Retiro, Brás, Bexiga e adjacências uma legião de asseclas. Como sempre acontece, poucos dos legionários compreenderam o alcance da “batalha de Ernani” oswaldina, puro “meio” para a consecussão de um “fim”. E esses bravos guerreiros de 18 anos, e menos, com raríssimas exceções adotaram o meio como fim. Atrapalhar, para Oswald, era o meio de conseguir descristalizar a mentalidade. Só. Mais nada. Ela depois que criasse o que lhe aprouvesse, livremente, sem nenhum dogma, nenhum quadro, nenhuma autoridade que a constrangesse. Não foi outro o objetivo de Oswald, embora ele próprio no calor da luta se iludisse e tentasse construir, esquecido de que as duas funções, a destrutiva e a construtiva, jamais cabem juntas a um mesmo homem. Oswald revelava-se aquele fecundo Nietszche do “Vademecum? Vadetecum!” Queres seguir-me? Segue-te!
Em vez disso a plêiade futurista, coesa no bloco do Quebra-Vidraças, deu de seguir Oswald, atrapalhando também, mas errada. Errava adotando a atrapalhação como fim supremo, objetivo de todas as manifestações artísticas modernas, e não como simples meio, único eficaz numa terra onde o riso de Voltaire, em vez de matar, engorda.
Por instinto, Oswald sempre repeliu os sectários e sempre refugiu de transformar sua colher de mexer, hoje colher de pau-brasil, em paradigma, em maracá sagrado. E passa a vida a criar cismas dentro do grupo, a dividi-lo, a renegar sumos pontífices, a expulsar adesistas — a impedir, enfim, que o chamado futurismo se cristalize em escola e passe a ser fim em vez de simples meio de combate.
Esta brincadeira de crianças inteligentes, que outra coisa não é tal movimento, vai desempenhar uma função séria em nossas letras. Vai forçar-nos a uma atenta revisão de valores e apressar o abandono de duas coisas a que andamos aferrados: o espírito da literatura francesa e a língua portuguesa de Portugal. Valerá por um 89 duplo — ou por um 7 de setembro. Nestas duas datas está exemplificado o modo de falar da escola antiga, francesa, e da nascente nacionalista.
Por que é estranho isto de permanecermos tão franceses pela arte e pensamento e tão portugueses pela língua, nós os escritores, nós os arquitetos da literatura, quando a tarefa do escritor de um determinado país é construir um monumento que reflita as coisas e a mentalidade desse país por meio da língua falada nesse país.
Formamos, os escritores, uma elite inteiramente divorciada da terra, pelo gosto literário, pelas idéias e pela língua. Somos um grupo de franceses que escrevemos em português — absolutamente alheios, portanto, a uma terra da América que não pensa em francês, nem fala português.
A eterna queixa dos nossos autores, de que não são lidos, vem disso — dessa anomalia de que não se apercebem. O público não os lê porque não lhes entende nem as idéias, nem a língua. Têm eles que se contentar com um escol muito reduzido de leitores também educados à francesa, os quais em regra preferem ir logo às fontes, aos franceses de lá, aos Anatoles e Verlaines.
Este dualismo de mentalidade e língua tem de cessar um dia. Os gramáticos hão de se convencer afinal de que a língua portuguesa variou entre nós, como acontece todas as vezes que um idioma muda de continente. Como o mesmo latim variou em França dando o francês, em Portugal dando o português, em Espanha dando o espanhol. E que continuará a variar, a distanciar-se mais e mais da língua mãe, até que um dia fique em face dela como está ela hoje em face do latim de Cícero. Seria fato virgem no mundo persistir imutável, apesar da mudança de continente, o instrumento língua — que é eólio e varia até quando muda para um país fronteiriço.
Em casos tais, freqüentes na história, a regra é a língua velha ir ficando cada vez mais confinada entre os eruditos, enquanto a nova se expande no povo. Por fim vence o povo, que é o número e a força. Nos países europeus de base latina o latim resistiu quanto pôde, escorado pelos sábios e eruditos, desprezadores da “corrupção” popular. Dia houve, porém, em que toda a resistência foi inútil e d’alto abaixo a língua se tornou una, pela vitória popular.
Entre nós estamos inda longe de tempo em que o português será língua apenas de um ou outro abencerragem feroz e não lido, mas tudo caminha para isso. O dissídio já está patente. O povo fala brasileiro e os próprios escritores que escrevem em português, não o falam em família. Em casa, de pijama, só se dirigem à esposa, aos filhos e aos criados em língua da terra, brasileiríssima.
Contou-me Bastos Tigre que a Rui Barbosa ouviu dizer de um autor numa livraria:
— Já conheço ele.
E ai de quem não falar assim no trato comezinho da vida! Não só ganha fama de pedante, de “difícel”, como não é bem entendido. Sobretudo ao telefone. Dada a necessidade de extrema clareza, ninguém ao telefone fala em português, se quer evitar complicações.
Bastos quis um dia falar, depressa, depressa, caso urgente, e esqueceu-se de que estava no Brasil.
— Alô! Se o excelentíssimo X está, obséquio, e grande, far-me-á o atendente, chamando-m’o.
Ninguém pescou. Bastos insiste. Nada. Berra. Nada. Por fim manda às favas frei Luiz de Souza e diz:
— O sêo Coisada tá aí? Quedele ele, então? Me chame ele já, sim, meu bem?
O Coisada acode pressuroso e Bastos jura nunca mais falar ao telefone em língua de escrever.
Já temos dois grandes escritores que escrevem na língua da terra, em mangas de camisa, e pensam de chapéu de palha com idéias da terra: Cornélio Pires e Catulo.
A elite franco-portuguesa ilha-os com o mesmo desprezo que tinham os faladores de latim em França e Itália para com os Dantes e Ronsards latinófobos.
Em 1559, um Thomaz Sebillet publicou uma coisa com este titulo: “Défense et Illustration de la Langue Française”, onde havia este pedaço: “Nossa língua não deve ser desprezada, même de ceux auquels elle est propre et naturelle, et qui en rien ne sont moindres que les Grecs et les Romains.”
Entende-se mal e mal o que o homem queria dizer, mas deduz-se que o francês nascente era “desprezado” pela elite latinizante.
O mesmo se dá entre nós. A língua de Cornélio e Catulo só merece sorrisos — e é no entanto a que vai vencer! Já a falamos e acabaremos, cansados de resistir, por escrever como falamos. Só então a literatura será entre nós uma coisa séria, voz da terra articulada e grafada na língua das gentes que a povoam.
A resultante da campanha futurista vai tender para apressar este “processus” de unificação. Mas não o realizará. Não é isso obra de um homem, nem de um grupo. É obra do tempo.
Herói Nacional
É uma grande lição para os escritores o fato de só sobreviverem os livros vividos. E são raros, porque os homens que vivem não têm tempo de escrever e os que escrevem profissionalmente não vivem. Poderá chamar-se vida ao marasmo do escritor sempre metido entre quatro paredes, a ler o que os outros escreveram e sem ânimo, ou sem jeito, ou sem oportunidade, ou sem temperamento de viver a crueza e a violência da vida? Eles apenas imaginam a vida, e na pintura duma floresta ou dum tipo não conseguem esconder a imitação inconsciente que em sua arte substitui a criação.
Daniel de Foe escreveu centenas de livros. Um só nasceu vivo, e vive ainda hoje, e viverá sempre, Robinson Crusoé, porque foi tomado da boca de um marujo que realmente naufragara e vivera sozinho numa ilha deserta.
Prevost também os escreveu às dúzias, mas só a história de Manon Lescaut vive e viverá eternamente, porque só nela a vida estua e palpita como um coração ofegante.
O valor de Kipling, de Conrad, de Jack London está na intensidade e na variedade de vida que esses homens viveram.
Não há em seus livros cena ou paisagem descrita que não ressalte como coisa vista e vivida.
E no caso dos livros vividos pouco importa que os autores tenham sido escritores; a vida interessa tanto à humanidade que ela tudo perdoa a uma obra vivida. Venha sem forma, venha bárbara, grosseira, incompleta, ao avesso de todos os cânones da arte. Se é obra de vida, viverá.
Isto sucedeu ao livro de Hans Staden, publicado há 369 anos em Marpurgo, livro onde relata aos povos atônitos o seu cativeiro entre os canibais de um país recém descoberto à curiosidade européia, o Brasil. As façanhas dos truculentos Tupinambás, sua avidez pela carne humana, seus usos e costumes, tudo interessava grandemente pela novidade — e como a narrativa era feita ao vivo a obra teve grande público e veio pelo tempo a fora, a propagar-se em traduções e edições sucessivas.
Hoje, quase quatro séculos depois, o livro interessa da mesma maneira, não já ao curioso de novidades, mas ao curioso do passado. Os tupinambás passaram; o invasor luso, que começava a chegar no tempo de Staden, ganhou a partida e destruiu esse ramo da raça vermelha. Já não existem nem as ossadas dos heróicos aborígenes que defenderam palmo a palmo a terra natal, como hoje os rifenhos defendem a sua. Tudo passou. Só não passa o livro de Staden, que fixou um momento da vida daqueles heróicos selvícolas que morreram, mas não se dobraram ao jugo dos roubadores da sua terra. E é nesse livro, o primeiro publicado sobre nosso país, que hoje vamos buscar a emoção preciosa do contato inicial com a terra virgem.
O curioso é que tal livro não interessa a nós apenas. Se aqui as edições se sucedem e a obra dia a dia mais se vulgariza, começando já a penetrar nas escolas, no velho mundo se dá outro tanto. A estudiosa Alemanha, que mesmo ferida a fundo pelo maior dos desastres não abandona o pendor pela cultura que há de fazê-la vitoriosa amanhã, não perde de vista o compatriota rude que há quase quatro séculos veio naufragar em nossas plagas, e entre nossos índios nus nu viveu oito meses de mortal agonia.
Dirigida pelo Dr. Richard N. Wagner, de Frankfurt, acaba de sair uma nova e primorosa edição da obra de Staden, reproduzida fotograficamente da primeira edição de Marpurgo, dada em 1556.
Se para a Alemanha Staden inda é reeditável quase quatrocentos anos depois da sua tragédia, que não é ele para nós, cuja terra e gente em seus primórdios só em suas palavras se retratam com “a vivacidade da vida?”
Em Staden desenha-se o tipo de Cunhambebe, terrível antropófago e implacável inimigo do invasor, dos quais comia com avidez quantos encontrasse, apesar da má qualidade da carne.
Comia-os por vingança, com o prazer com que um rifenho ou um sírio deveria comer um francês. Há de ser uma delícia trincar o coração dum roubador que nos vem tirar tudo, a terra e a vida.
Cunhambebe foi um guerreiro notável. Suas arremetidas contra os lusos jamais falharam e, embora o regime de cacicado não permitisse entre nossos índios o surto de um chefe supremo, correspondente ao rei europeu, ele caminhava para isso em virtude do sucesso crescente das suas armas.
Já era obedecido pelos morubixabas seus iguais e acabaria impondo-se a todos e dirigindo-os, se não tombasse em plena mocidade, vítima duma razia da varíola.
Os nossos poetas não souberam ver nele o que ele realmente é: o herói nacional, o Vercingetorix brasílio, o Cid vermelho, o Arminio que de dentro das florestas investia contra os lusos e os desbaratava.
Faltou a Cunhambebe um pouco mais de vida; aliara-se aos franceses de Villegaignon, receberia deles conhecimentos táticos indispensáveis para contrabater a tática do invasor, e como possuía a seu mando gente guerreira da mais decidida é provável que, se não o vencesse a varíola, vencesse ele aos conquistadores, mudando assim os destinos da nossa terra e raça.
O melhor retrato de Cunhambebe quem no-lo dá é Staden, na anotação da entrevista que com ele teve. O grande cacique perguntou-lhe que idéia faziam os “peros” da sua atividade.
— Falam muito de ti e das guerras que lhes moves, e por isso erguem um forte na Bertioga.
— Hei de caçá-los a todos, como caçamos a ti no mato, disse com arrogância o indio.
Não pôde realizar a façanha, vencido que foi pelas bexigas; mas deixou um nome que infundia terror e que vive e viverá sempre graças ao livro de Staden.
A Arminio, o destroçador das legiões de Varo, venceu a traição dos seus pares.
A Cunhambebe venceu a fatalidade. Mas não vemos em que não mereça Cunhambebe ir para a plana dos Arminios. Ambos consagraram-se a um ideal supremo: a defesa da terra natal.
E acresce que ao nosso herói cabe mais uma credencial a favor: comia e digeria os inimigos para que nem a terra se contaminasse com os seus cadáveres...
A feminina
Não pode ser mais feliz, com este calor, a idéia da fundação duma academia feminina de letras. Já que a masculina, contrariando a opinião unânime dos fisiologistas, embirra no erro de dar sexo à inteligência não admitindo em seu seio mulheres, lógico se torna o revide da saia, o qual, para ser completo, devia ainda expressar-se à porta numa tabuleta de moer: homem aqui não entra.
Resta agora que o novo grêmio se organize por moldes autônomos, libérrimos, que dêem boa medida da invenção guanabarina.
Para isto faz-se mister que as fundadoras antes de mais nada se esclareçam no relativo ao que é, foi e poderá vir a ser uma academia, coisa na aparência fácil, mas na realidade dificílima. Tão difícil, que um mesmo homem as define pela tabela A, enquanto as namora, e pela tabela Z, depois que as possui.
Ao caso não servem definições masculinas; as fundadoras hão de consultar as femininas, entre as quais resalta a de Mme de Linange.
Disse esta aguda Madame: Academia é uma sociedade cômica onde se guarda o sério.
Pergunta-se: conformar-se-ão nossas damas de letras com a rigidez de tal programa? Terão a linda coragem, não digo de ser cômicas, o que seria lamentável, mas de guardar o sério?
Parece-nos difícil. Na fotografia do grupo das fundadoras, publicada pelos jornais, uma há que ri — e ri lindamente.
Vemos nisso um vício de constituição. Riso intestino, assim de começo, lembra cavalo de Tróia dentro da Praça — e a sombra de Príamo poderá dizer como são perigosos tais presentes de grego!
Tudo muda, porém, se o riso fica de fora. É neste caso inócuo, pois não consta que riso algum, amarelo ou rabelésiano, jamais haja morto nenhum acadêmico.
Se existissem entre nós editoras, fora lógica a esperança de uma Mecenas, que à vara mágica dum legado resolvesse para sempre a questão.
Não consta que as haja, e fora daí não parece possível que venha herança.
É verdade que em França já houve um precedente.
Clemência Isaura, formosa dama de Toulouse, tomou-se de singular paixão pela Academia dos Jogos Florais, e vendo que por escassez de fundos a olorosa instituição definhava, teve a idéia feliz de legar-lhe sua fortuna.
Tudo mudou, como aqui. Foi um derrame de primavera no esfaimado inverno da academia moribunda. Restaurou-se incontinênti o brilho da festa anual em que, como prêmios às melhores flores poéticas apresentadas, o vencedor recebia uma violeta de ouro.
Que mimo! Em vez de prosaicos prêmios em vil papel moeda, uma violetinha de ouro!
A renda proporcionada pela interessante Clemência possibilizou a criação de novos prêmios: uma sempre-viva, para as odes; uma eglantina, para as charadas; um amor-perfeito, para os acrósticos; um lírio, para os poemas — tudo de ouro, com exceção do lírio, que seria de prata dourada. Larousse não o diz, mas está no caráter francês. O lírio é flor muito grande para ser reproduzida em ouro...
Essa Clemência teve estátua no salão nobre do Trianon de Toulouse, estátua que os “maitres és” jogos florais, no 3 de Maio de cada ano, revestiam de flores e diante da qual um deles, emergindo de enorme corbelha de rosas, fazia o panegírico da padroeira.
Há que notar aqui a gratidão dessa gente. Gozavam-se do dinheiro de Clemência, mas não deixavam passar ano sem festa ditirâmbica em sua honra.
E como apesar de tudo inda sobrasse dinheiro, a academia floral agregou às festas simbólicas banquetes lautíssimos. Banquetes que degeneraram em orgia e fizeram intervir, com denúncia ao rei, um marquês de Maricá da época (não ganhara violetinha, com certeza...).
O qual rei, abespinhado, restabeleceu policialmente o sério próprio de academias inda que florais.
Nutrirá esperanças duma Clemência Isaura a nova Academia Feminina? Não estará acaso convicta de que sem fundos não é possível viver decente nesta era mais que nunca idólatra do Boi de Ouro, que ingenuamente Moisés abateu no deserto?
Outro ponto a estudar é o sistema eletivo, ou, melhor, o critério da escolha. Dada a notória implacabilidade da morte para com os imortais, terão nossas acadêmicas de reunir-se várias vezes ao ano a fim de completar a equipe desfalcada. E surge o problema tremendo: qual o critério da escolha?
Ponto melindroso, tanto varia o critério humano na apreciação dos valores exorbitantes ao quadro métrico decimal.
Entre os inumeros existentes há um, o de Guizot, que se revela profundamente sábio (da boa sabedoria, a pragmática!).
Perguntaram-lhe se votava em N. N.
— Sim, respondeu o acadêmico que apesar de ex-ministro tinha sal; dar-lhe-ei meu voto porque N. N. possui todas as qualidades dum perfeito acadêmico. Veste-se bem, escova os dentes, é polido, condecorado e não consta que tenha nenhuma opinião. É verdade que publicou umas obras... Mas, que querem vocês? Não há ninguém perfeito...
Sob forma de blague há no critério de Guizot uma altíssima sabedoria. O fim último dum grêmio, de parte as belas palavras do programa, é um viver amável em boa sociedade. Erra, pois, quem atende mais à obra do candidato do que ao seu feitio social. Obra vale para o uso externo; internamente a amenidade do convívio só exige os formosos dotes do N. N. de Guizot.
Arquitetada nestas bases, a nova academia terá vida longa e amena. Nossas damas se reunirão todas as semanas para conversar sobre modas, fatos sociais, casamentos, divórcios, etc., isto antes da sessão. Durante a sessão uma lerá versos de poetisas esquecidas, como a Nísia Floresta; outra dissertará sobre o absurdo do sapato das chinesas; outra deitará apóstrofes fulminantes contra o tráfico das brancas; outra provará que a inteligência humana não tem sexo.
Finda a assembléia irão todas para casa, muito contentes da vida, ansiosas por lerem o compte-rendu da festa nos jornais do dia seguinte.
E a harmonia do universo em nada se perturbará. Nísia Floresta continuará esquecida; os proxenetas continuarão a escravizar as brancas; as chinesas continuarão a torturar os horrendos pedúnculos e a inteligência humana continuará dividida em dois sexos, o masculino que leva Newton a descobrir a lei da gravitação e o feminino, que nos leva a fazer asneiras.
— Ou a escrevê-las... dirá mordendo os lábios dona Mercedes Dantas.
O bocejo de leoa
O acaso entra por muito nos destinos humanos. Mas há também o cálculo, e se fosse possível estudar a vida de uma criatura como o fisico estuda um jogo de forças naturais, quem sabe não se reduzirá a resultado final de um puro cálculo o que chamamos acaso, destino, sorte? Os vencedores da vida seriam neste caso os calculistas exatos, os que não erram no decurso da operação, os que não dão passo sem tirar a prova dos nove fora, os que constroem pedra a pedra e adotam na construção da sua vida os processos friamente exatos de um construtor de casas.
Em 1635 nasceu numa prisão de França uma menina. Seu pai, mau tipo, duas vezes acusado de espionagem, azedou a alma nos cárceres e por fim teve de emigrar para uma ilha da América, onde morreu. A menina volta para a França com doze anos e começa a sofrer os safanões da vida. Vai para a casa duma parenta longe, onde é tratada com rigor extremo.
Querem domá-la, querem torcer-lhe o pepino do caráter num certo rumo, para que não puxe ao patife do pai.
Ela reage, e dizem que sua juventude foi desgraçada, e que da formosa Ninon de Lenclos recebeu a boa lição da duplicidade da vida — vida “para a Moral ver”, em cima; vida solta embaixo, bem secreta, bem oculta em boas casas de encontros clandestinos.
Aos dezesseis anos surge-lhe um casamento ao qual se agarra como a um presente do céu. Chamava-se Paul Scarron o noivo.
Era velho, cul-de-jatte, poeta e impotente. Mas a menina, já mestra em cálculos, calculou certo ao aceitar a monstruosidade dessa ligação. Libertava-se da tirania da parenta má, adquiria uma situação social e não se comprometia a coisa nenhuma — nem sequer a ser mulher do seu marido.
Scarron vivia de versos e esmolas. Tinha uma pensão da rainha-mãe, a titulo de “doente da rainha”. “O meu cul-de-jatte”, dizia ela, como hoje dizem certas donas de casa: “o meu pobre”. A uma destas senhoras ouvi falar para outra, recém mudada para a sua vizinhança:
— Não te incomodes com fornecedores. Vou mandar-te o meu padeiro, o meu açougueiro, o meu fruteiro e até te mando o meu pobre, que é um pobre limpo, decente, sem doença feia e muito bonzinho.
Scarron morreu quando sua “mulher de ver com os olhos” entrava nos vinte e cinco anos, e deixou-a na miséria. Francisca — demos-lhe o nome — requereu ao intendente da rainha-mãe que lhe mantivesse a pensão do esposo. Esse intendente era italiano, cardeal e marido oculto da rainha; além disso, um forreta de marca. Recusou em nome da patroa.
“Está doente Francisca? Não. Como quer então suceder ao marido no cargo de doente da rainha? Adoeça e volte”, devia ter sido despachado.
E a viuvinha passou miséria até que conseguiu do rei uma pensão de duas mil libras, arranjo que lhe daria para passar como uma datilógrafa de hoje.
Adoradores, sedutores rodeavam-na de todos os lados, mas o calculo a defendia melhor que uma cintura de castidade. O cálculo nesta situação é proceder a jeito que nada desfavorável mareie a reputação de vestal, de modo a conservar-se a criatura desimpedida e com os músculos bem trenados para o bote, para o grande bote que é o objetivo final dos grandes calculistas.
Francisca, vira de cá, vira de lá, consegue cair nas graças de Mme de Montespan, amante oficial de Luiz XIV. Faz-se sua criatura de confiança. Torna-se-lhe indispensável. É quem, logo ao nascerem, toma sob o manto os produtos da cruza do Rei-Sol com a outra e foge a ocultá-los em Paris. Sete vezes procedeu assim, fazendo desaparecer de Versalhes sete filhotes de rei. Em Paris organiza uma sábia criação desses entes meio humanos, meio divinos — uma coelheira real, e escreve numerosas cartas ao coelho envergonhado, dando conta dos progressos dos reais coelhinhos. O rei, que a princípio não suportava a presença de Francisca d’Aubigné — digamos-lhe mais um pedaço do nome — e censurava a Montespan por tê-la em casa, interessa-se pelas cartas e as lê com agrado crescente. Fraco em cálculo, o rei se enliçava no estilo do cálculo feito mulher, que era Francisca d’Aubigné. E passa da curiosidade à amizade e da amizade ao amor e do amor ao desejo de posse. Esquece, repudia, afasta a Montespan e estende os braços para a Maintenon — que foi o nome com que entrou na história.
Enganou-se, porém. Pela primeira vez uma mulher lhe resistia, e o Rei-Sol conheceu essa coisa romântica que os franceses chamam languir.
O cálculo vencia. O cálculo é o que é — e o que é o que é vence sempre. Resistir ao rei, coisa que jamais ocorrera a nenhuma mulher de França, era o meio único de conquistar o rei.
E o rei conquistado, já viúvo por esse tempo, aceitou a imposição da calculista insigne:
— Ou casas comigo ou...
Esse ou apavorava o rei. Era um estado vago, incerto; era o langor, espécie de febre do Texas que só não dá nos zebus; era condenar-se a passar o resto da vida com o peso de uma derrota na consciência e a sensação insuportável duma curiosidade não satisfeita em matéria de amor. Luiz XIV não teve ânimo para enfrentar o terrível, o misterioso ou, e contraiu com Mme de Maintenon um casamento secreto. Tinha ele quarenta e oito anos e Mme Cálculo, cinqüenta e dois!
Estava a pobre menina, filha do espião, transfeita em rainha de França e mais poderosa que nenhuma mulher o foi jamais.
Deu-se por satisfeita? Encontrou a felicidade? Não. Um trecho de carta revela o imenso tédio de su’alma:
“Se eu pudesse comunicar-te a minha experiência, escrevia ela a uma amiga, e revelar-te o tédio que devora os grandes, e o penoso que lhes é encher os dias... Não vês que morro de tristeza, no apogeu de uma fortuna que excede aos maiores delírios da imaginação? Fui jovem e bela; gozei todos os prazeres; fui amada. Na vida madura passei os anos no comércio do espírito e alcancei o favor supremo; mas juro-te, filha, que todas estas fases da vida me deixaram n’alma um vazio horroroso!”
Que grito d’alma! Sente-se que ao fazer essa confissão a maior calculista do século deu um ponta-pé na matemática e abriu o seu coração blindado. A leoa traiu-se. Bocejou...
Catulo — voz da terra
O Brasil existe e insiste. Tem uma alma caótica, isto é, em formação, caos não significa apenas desordem. Tem a carne sensível, apesar dum sistema nervoso rudimentar, como o das baleias. O Brasil é imenso. Desdobra-se por 8.525.000 quilômetros perfeitamente quadrados, e até já passa disso, em virtude do aplastamento do morro do Castelo. Possui terras feracíssimas, como as roxas de S. Paulo, e carrascais piores que os desertos da Líbia. Zonas onde tudo são águas, pirarucus e jacarés truculentos, ao lado de zonas onde a seca periódica só poupa às cactáceas.
“Nesta terra se dá tudo”, disse Vaz Caminha; “mas a formiga come tudo que se planta”, acrescenta o Jeca, de cócoras na filosofia da sua velha experiência. Talvez seja por isso que na terra que dá tudo quem quer uma fruta adquire, a peso de ouro, nas joalherias, pêssegos da Califórnia, maçãs da Argentina, uvas de Alicante.
Mas que dá tudo, dá. Dá café, cacau, coco babaçu, mandioca, besouros enormes, coronéis ainda maiores; dá papo, maleita, revoltosos, legalistas, doutores, anofelinas, casebres de sopapo e arranha-céus, academias de letras e reformas de ensino; dá impostos e carrapatos devoradores de impostos; dá o algodão com o curuquerê ao lado; dá sempre o pró rente ao contra, um pró magro e um gordo contra que o inutiliza.
Só não dá justiça.
Desse, e o grande poeta nacional, esse Catulo que ninguém ouve sem sentir dentro de si o arrepio da raça não estaria de barbas postiças, num teatro, a trocar o arrepio de seus versos pela magra subsistência.
Rosalina Coelho Lisboa, voz harmoniosa desse algo superior que paira sobre os homens, denunciou a profanação e apontou para o Trianon:
— É na Academia de Letras que ele deve estar.
Não sei. As academias têm morgue e Catulo é o que há de mais livre e boêmio. Só mesmo onde deve estar estará bem: no coração dum povo.
Catulo é o grande poeta nacional.
O Brasil possui poetas em barda e alguns magníficos; mas são poetas universais, que jogam com imagens vindas de Anacreonte a Verlaine. Poetas que tanto seriam brasileiros como mexicanos, franceses ou russos,
Catulo, porém, é o poeta da terra, a harpa eólea que ressoa ao menor arfar da terra. Amores, anseios, sofrimentos humildes, cismas vagas, o verdadeiro sentir da nossa gente só nele encontra voz. E que voz! Com que vigor se exprime! Com que inaudita riqueza de imagens novas, sem eiva de reflexo europeu!
Catulo é bem a voz da terra brasílica. Voz das coisas e voz das gentes. Tanto fala nele o amor do vaqueiro como a angústia bracejante da peroba que a queima da floresta deixou semi-carbonizada no viso do espigão.
Aos demais poetas ouvímo-los com o cérebro. São filhos da cultura geral, são traduzíveis.
A Catulo ouvimos com o coração, e ouvímo-lo tomados dum estranho transtorno interno. Uma coisa grande, uma coisa vaga, informe, monstruosa cresce dentro de nós, expulsa o moderno de importação que está ali e nos deixa sozinhos com a raça. Nosso peito se enche de avós, como um albergue tomado de assalto por sombras ambientes.
Acodem tupinambás de pedras verdes nos lábios, dos que comiam portugueses com tripas e tudo; acodem velhos lusos de barba em colar; acodem iracemas que se cruzaram com esses barbadões iniciais; acodem avós fazendeiros de açúcar, bandeirantes tropeiros que acabaram barões do império, acodem homens de garimpo, caçadores de onça, senhores de escravos, sinhás-moças e sinhás-velhas — toda essa gente passada que viveu, amou, chorou e com as armas que pôde foi tirando da floresta imensa um país.
Acodem em tumulto para ouvir a língua que foi a deles e ouvir as imagens, únicas que lhes sugerem coisas vistas e vividas. E enquanto o poeta geme seu descante ao violão permanecemos assim, obstruídos de raça, no êxtase de íncubos atravancados de veneráveis súcubos avós.
O Brasil dá tudo, menos justiça. O Brasil recompensa tudo, menos o mérito. Que há de esperar Catulo da sua pátria senão umas barbas postiças?
Há dele um poema lindo onde se narra o amor dum papagaio de estimação pela cachorrinha Sauna. “Mártir, velha, escorraçada, quase no extremo da vida, andava sempre escondida e não morria esfomeada porque às vezes lhe tocava um frangalho de comida que a outro cão sobejava”. Seus olhos, salva a heresia, lembrava os olhos da Virgem Maria. A sua melancolia era saudosa e macia como a sombra do luar. Quanta dor, quanta poesia, quanta filosofia chorava naquele olhar!”
Desprezada por todos, só o papagaio a estimava. “Quando lhe faltava um osso para o jantar era belo, era sublime ver aquele papagaio, como quem comete um crime, às ocultas lhe ofertar alguns bocados gostosos do seu gostoso manjar.” E repetia vinte vezes o nome de Sauna, só porque ela, debaixo do seu poleiro, se quedava extática a ouvi-lo.
Um dia Sauna morreu. Encontraram-na com a barriga inchada à porta do curral, rígida e fria, mas nos seus olhos inda “se lia aquela filosofia da dor irracional. E só porque já fedia foi que o vaqueiro Zé Marco enterrou a pobrezinha ao pé dum velho pau d’arco”.
Quando o papagaio soube da morte da triste sarnenta, emudeceu e nunca mais repetiu o nome de Sauna.
Catulo conclui o poema com um grito d’alma verdadeiramente sublime.
Meu Deus!... Por que não fizeste os homens irracionais?
Quem grita assim, quem atinge tais alturas, merece castigo. Merece como ganha-pão no fim da vida, não uma, mas duas barbas postiças.
Justiça Oxigenada
Feliz circustância me permitiu examinar em provas um livro que é um livro. Para que um livro seja um livro não basta possuir a forma de livro, nem rechear-se de frases compostas segundo a arte do bem escrever, e impressas de acordo com a boa técnica dos Elzevires.
Há que dizer algo novo, encerrar uma grande idéia, desenvolvida ou em gérmen, dessas que valem por empuxões de bom pulso na sonolenta carreira da rotina. Subscreve-lo-á J. A. Nogueira, juiz da 6a. vara, que o nomeará Aspectos de um ideal jurídico.
J. A. Nogueira trouxe para o juizado um elemento invulgar. Trouxe uma larga dose de compreensão humana, haurida na viagem que desde a juventude empreendeu através dos maravilhosos países da literatura e da filosofia. Tempo há de vir em que só caberá a toga ao homem que assim viajou e do excurso assim tirou as fecundíssimas lições da visão dilatada a todo o círculo do horizonte mental.
Porque há o juiz que fica num quadrante e só vê as coisas por um postigo, nem sempre de todo aberto. E é desse confinamento que procedem a fauna monstruosa dos juízes fanáticos, como aqueles infames bispos que grelharam Joana d’Arc; a fauna vesânica dos Le Coigneux, que desesperam de não poder condenar ao mesmo tempo as duas partes; a fauna de coeur léger dos Bridoye, de Rabelais e dos Bridoison, de Beaumarchais; e finalmente a fauna dos brasílicos jabotis togados, que dormem anos na pontaria dos despachos e causam à economia pública mal maior que o juiz que se vende, mas é expedito.
Certa vez apresentou-se ao imperador Theodorico uma viúva queixosa de juízes à brasileira; contendia ela com um senador e já se passavam três anos sem que os meritíssimos lhe julgassem a causa. Theodorico chamou à sua presença os jabotis e intimou-os a apressarem a marcha do processo. No outro dia estava lavrada a sentença.
— Se era coisa tão simples, disse-lhes o grande imperador, por que motivo retardastes de três anos o julgamento?
E mandou cortar a cabeça aos três.
Morrem os jabotis mas não morre o jabotismo. Vige e viça por cá, como em seu verdadeiro habitat, visto que os não assusta o abençoado cutelo do imperador ostrogodo.
Dessa viagem que fez ao país do sol pleno J. A. Nogueira nos trouxe vários livros, todos marcantes em nossas letras: Amor Imortal, impressionismo espiritualista; País de Ouro e Esmeralda e Sonho de Gigante, variações sobre as realidades nacionais; Organização da democracia representativa, estudo sociológico de largo vôo — e foi assim armado que penetrou no mundo jurídico.
Seu espanto é de imaginar-se. Vinha do sol e entrava na Caverna do Caranguejo. Túnel puro. Humidade, salitre, bolores verdes. Tudo velharías, carunchos, carcoma, cupins. Tudo medievalesco, em que pese às caratulas modernas. O jurista aferrado ao reverencial dos precedentes. A ciência reduzida à arte boticária dos repertórios e dos casos julgados. A escolástica, a silogística, a glosa, o latim sebáceo, o brocardo revelho e todo o cortejo bafiento dos opiatos da Idade Média, e com ele todos os emplastos, tinturas, esparadrapos, revulsivos, robes, resinas, sabões, purgas, pós, poções, basilicões, obreias, méis, marmeladas, luques, licores, infusos, gragéias, pílulas, gargarejos, gomas, geléias, fumigações, elixires, electuários, vomitórios, coluctórios, cáusticos, cataplasmas, colírios, clísteres, apózemas e supositórios de pimenta dum chernoviz tramado contra a Vida por todos os Lobões, Souzas, Silvas, Melos e mais Eusebios Macarios do direito reinol. E tudo vascolejado, filtrado, alcoolado, empilulado, enfrascado, rotulado na Botica de Themis da rua dos Inválidos, vulgo Fórum, essa Cabeça-de-Porco onde as tábuas gemem ao pisar dos passantes, as aranhas veneráveis tramam de aranhóis os tetos encardidos e das luras borbotam percevejos, baratas e ratos, que em vida anterior foram oficiais de justiça, os quais bichos se esgueiram por entre pernas de oficiais de justiça que em vida futura ressurgirão ratos, baratas e percevejos.
Toda essa farragem expluída aos miolos do Mem Bugalho Pataburro, que Herculano nos retrata no “Bobo”, tem mantido nossa justiça arredada de uma coisa linda e única verdadeira, chamada Vida, na qual nossos juízes não acreditam, já que erguem muralhas contra o ar novo, o ar livre, o ar vivo, o ar que se côa por montes, vales e mares e todo se enriquece de ricos oxigênios hostis às sulfurinas cadavéricas.
É Nogueira talvez o primeiro magistrado nosso que tem coragem de abrir janelas ao céu azul e ao sol nascente.
Nas suas sentenças fala a língua de todos nós, paisanos da isotérica jurídica, e tanto refoge ao pedantismo técnico da forma, como se insurge contra o caquetismo da hermenêutica emperrada. Procura introduzir entre nós os ideais dos renovadores do direito na Europa, os Geny, os Van der Eicken, os Saleilles, os Gmur, os Degni, os Demogue.
Seu livro vale por um programa de renovação. Abre-o o formoso discurso com que recebeu na Cabeça-de-Porco uma espontânea manifestação dos advogados cariocas, fala que soou em nosso meio como estranha novidade. Um juiz a dizer da missão social do juiz! A proclamar que o direito não é fim, mas meio! A condenar o velho brocardo do Fiat justitia, pereat mundus, em nome do Pereça a justiça, mas viva o mundo.
É vulgar ouvir-se a um juiz de estirpe patabúrrima: “Esta decisão me repugna à consciência, mas tenho que dá-la. É a lei”.
A consciência é neste caso a vida; o texto é a negação da vida... e vence o texto!
Mas não há lei repugnante à sã consciência que não se preste a uma larga interpretação. Para além da técnica estreitamente interpretativa há toda uma amplidão nova da técnica criadora ou renovadora. O perfeito juiz não é máquina de aplicar textos. É partícipe da lei. É o cérebro, o músculo, o nervo vivo que encarna os descarnados ossos do esqueleto textual e os põe vivos a agir em prol da vida. Nunca lhe falecem meios de aliar à justiça a bondade e o bom senso. Há que examinar os litígios na sua realidade e moralidade e julgá-los por equidade; em seguida procurar a forma técnica adequada a essa solução. Dai um conselho de G. Renard aos advogados: Procurai convencer o juiz que tendes a vosso favor, não a legalidade, mas o direito justo; em seguida apresentai-lhe uma forma jurídica que esse direito se amolde. É preciso tornar a vossa tese amável; só depois mostrareis que é imprecisa e não passa dum instrumento de aproximação. As intuições imediatas do bom senso devem retificar os processos lógicos.
Estas idéias não são absolutamente novas. A novidade está em serem proclamadas e praticadas por um magistrado nosso. No livro do dr. J. A. Nogueira tal orientação se reflete em todos os trabalhos que o compõem, não só nos capítulos de doutrina, Missão do juiz, Artes de julgar, Hermenêutica moderna, Casuísmo judiciário e sua estética. Entre o espírito e a letra da lei, como nas sentenças que ao lado da teoria lhe revelam a prática.
Entre as decisões publicadas uma há de indenização pedida à Light, onde circula a boa solidariedade humana deste princípio; toda a atividade lucrativa que traz um agravamento de risco para o meio em que se exerce acarreta a responsabilidade civil pelos danos dela decorrentes.
Notável é também uma sobre seqüestro de bens conjugais durante a lide do desquite. Nela orienta-se o intérprete à luz sociológica, de par com uma alta concepção jurídica da mulher na sociedade conjugal de acordo com os ideais modernos.
Há uma sentença sobre o valor de certo documento, picado aos pedacinhos e depois recomposto, que é um primor de análise psicológica, onde a finura da crítica vem de mãos dadas à amenidade expositiva.
Aspectos de um ideal jurídico é um livro, em suma, que o leigo lê e entende, sem perceber que está diante de questões transcendentalíssimas, impenetráveis ao seu cérebro quando expostas por algum sacerdote do esoterismo jurídico. Dele saimos com a impressão final da arte superior de um prudente romano, cujos requintes de sutileza se filtram através duma aguda sensibilidade de artista moderno.
O Brasil é uma terra de males. A fórmula comum de abertura das nossas palestras é sempre a mesma:
— O nosso maior mal...
E antes de beber o chope, entrar no cinema ou jogar no bicho o brasileiro desenvolve para o amigo que agarrou na rua pela gola a sua concepção do nosso maior mal e conseqüentes remédios. Está claro que cada um possui o seu maior mal; entretanto, é na má justiça que a mor parte das opiniões se encontram.
— Porque, diz-se, ou a temos corrupta, o que não é bom; ou a temos estreita, o que é positivamente mau; ou a temos lenta, o que é malérrimo, dada a inexistência de Theodoricos por cá.
Mas havemos de convir que pelo menos da estreita não há que desesperar. Casos como o do juiz Nogueira hão de reproduzir-se. A aura é contagiosa, pois brota do instinto de conservação social, e tudo vai de que um vanguardeiro desenrole pendão e arremeta contra os quadrados da rotina. Esse trabalho começa a fazer-se. Rompem-se de brechas as muralhas. Mem Bugalho Asinipedes acabará corrido, e uma Themis nua e linda como Vênus há de destronar aquel’outra vendada com o lenço de rapé dos Le Coigneux, soldadescamente armada dum refle e ingenuamente atrapalhada com uma balança muito própria para pesar toicinhos, mas inadequadíssima para galvanometrar os imponderáveis da vida.
As cinco pucelas
Quando Machado de Assis, nas “Memórias de Brás Cubas”, põe o herói a rabiscar, alheiadamente, sem consciência do que fazia, um verso da Eneida — “arma virumque cano”, traçou com a mestria incomparável do seu gênio um breve estudo da idéia fixa que se trai por tabela, como diz o povo.
Brás Cubas pensava em Virgília; Virgília trouxe Virgílio; Virgílio lembrou a Eneida — e a mão vadia foi repetindo no papel ocasional o único verso que esse personagem podia saber da Eneida, o primeiro, como todos nós conhecemos de Camões o — As armas e barões assinalados.
Não há quem por experiência não conheça isso do lápis escrever a esmo cem vezes, à margem dum jornal ou nas mesas dos cafés, o “arma virumque” que nos trai o pensamento enquanto conversamos sobre mil coisas diversas. Ou então é mentalmente que repetimos uma mesma palavra, ou trauteamos uma mesma ária, as quais insistem, voltam, teimam como moscas de verão por mais que mudemos o rumo ao pensamento.
A quem escreve em jornais sucede o mesmo. Temas há que insistem, e botam as orelhas de fora mesmo quando o articulista aborda assuntos que nem de longe a eles se relacionam. O remédio é desabafar, como o remédio para o apetite é comer.
O meu amigo Silva anda doente de uma idéia fixa, e em tudo que escreve ou fala — escreva sobre finanças ou fale do pivetismo do Brasil na Liga das Nações — trai-se escandalosamente. Amigo das mulheres, o problema que o corrói é o seguinte: qual a primeira mulher que veio ao Brasil?
Já consultou os compêndios de história e já foi à fonte das histórias, os historiadores. Consultou Rocha Pombo, o mestre que alia o saber à gentileza. Já consultou Capistrano e João Ribeiro.
Mas tanto histórias como historiadores o deixaram na mesma. E Silva definha. É um pálido Édipo que na Avenida em cada mulher que passa vê uma esfinge “a la garçonne”, murmurando, como a tebana:
— Decifra-me ou devoro-te: qual foi a primeira?
Do que há escrito, apurou na obra de Jean de Lery — “Histoire d’une voyage à la Terre du Brésil”, que na expedição de Bois le Comte vieram, a bordo do “Rosée”, cinco frescas rosas de França, acaudilhadas por uma venerável folha de tinhorão.
Diz Lery que embarcaram “cinc jeunes filles avec une femme pour les gouverner, qui furent les premières femmes françaises menées en la terre du Brésil.”
Chegadas que foram, e alojadas no forte de Coligny, logo se casaram duas delas com dois mancebos, criados de Vilegaignon — isso a 3 de abril de 1557, vinte e seis dias após à chegada — e estou que esperaram muito!
Realizaram-se os enlaces por ocasião da prédica religiosa que todas as noites se fazia no fórum, e Lery menciona o fato “não só porque foram os primeiros casamentos à moda cristã celebrados no Brasil”, como ainda para frisar o assombro dos convidados selvagens diante de mulheres... vestidas.
Nunca se tinha visto semelhante coisa na paradisíaca América, e a impressão foi positivamente de escândalo.
As desnudas índias, que acompanhavam seus desnudos maridos, retiraram-se da festa vexadíssimas, corridas de vergonha, à visão de colegas louras que assim tão despejadamente se revelavam só com o rosto, pescoço e braços nus! E ao regressarem para suas aldeias, com grande alvoroço contaram às outras o caso inaudito, provocando os mais desencontrados comentarios.
— Vestidas! Imaginem...
A moda futura
É sumamente difícil aos contemporâneos de uma transição social apreender as linhas mestras do fenômeno e sobretudo prever até que ponto ela irá. Só depois da transformação operada é que os sociólogos vêem claro. Sem o recuo do tempo, impossível visão de conjunto, como sem recuo no espaço impossível fazer a menor idéia da altura, forma, estilo de um palácio.
É inegável que sobretudo depois da guerra se acentuou o começo do fim do governo representativo com três poderes autônomos, harmônicos e independentes, em moda ainda hoje.
Os fatos cansaram-se de provar que isto de representantes são como os procuradores que procuram para si; não representam coisa nenhuma, a não ser o interesse pessoal ou de um grupo. O nosso Senado timbrou há pouco em mostrar mais uma vez que é assim, na votação da lei da receita.
Os fatos ainda provam que a tricefalia autônoma dos poderes não passa de pura pilhéria, nem sequer engraçada.
É anti-natural um monstro dessa ordem num mundo onde só as minhocas conseguem ter duas cabeças — e por isso vivem condenadas a não aparecer à luz do sol.
Uma das cabeças há de preponderar e engulir as outras, sob pena do organismo rebentar por excesso de órgãos. Quod abundat nocet, e se uma só cabeça nos leva a tantas asneiras, três, agindo simultâneas e livres, no mínimo seria ao suicídio que nos conduziriam.
De modo que o tricefalismo vigente não passa de pura mentira fisiológica na qual só os que vivem dela fingem acreditar.
Ora, à medida que uma mentira social vai perdendo os cabelos que lhe escondem a nudez do crânio, surge a inquietação, o mal estar, e o homem procura romper essa falsa forma de equilíbrio para adotar uma outra mais consentânea com a “verdade”.
É o que se dá no momento. A ânsia de sair da mentira representativa tricéfala entremostra-se em todos os povos, sendo que em alguns passou de ânsia a realização.
Na Itália, Mussolini, com rude franqueza, operou a mudança e vai aos poucos procurando a forma de cristalização que permita durabilidade ao sistema sucessor.
Na Espanha, Primo de Rivera fez o mesmo, embora sem a espetaculosidade do “duce” italiano; Rivera não tem a queixada napoleônica de Mussolini e parece agir mais como satélite do que como criador.
Na Rússia a transformação foi violenta demais para que possamos fazer qualquer idéia justa; as informações que temos são duvidosas, como oriundas da propaganda e da contra-propaganda bolchevista, fontes por igual suspeitas.
Na França sentem-se todos às portas de mais uma das suas numerosas rupturas de equilíbrio, sendo imprevisível o rumo que tomará a pobre Mariana, cujos sintomas de velhice não há “maquillage” que consiga esconder.
Outros países existem ainda onde, ou confessadamente, ou às hipócritas, só in nomine vigora a tricefalia representativa — e para atinar com um dele não é necessário que tomemos passagem no “Cap Polonio”.
A corrente avoluma-se, pois, e com ela a curiosidade de saber que moda virá substituir a atual moda de governo.
Teremos regresso à crinolina de Napoleão III, com o nome mudado? Iremos buscar na Grécia a elegante tirania dos Péricles? Virá o despotismo científico preconizado por Augusto Comte?
O despotismo não virá pela razão clara de não se ter ido nunca. Sob qualquer que seja o disfarce é sempre ele que de fato governa. Forma natural, tornou-se odiosa desde que o liberalismo acendeu nas chamas da Revolução Francesa o facho da indignação declamatória com que o vem fulminando ingenuamente. Mas apesar da condenação de 89 o despotismo tem sabido tão bem adaptar-se que às mais das vezes é ele quem mais furiosamente condena... o “despotismo”.
“Se payer de mots” é destino humano. As palavras despotismo, ditador, tirano, etc., horripilam. Mas a coisa com o nome trocado se torna suportável e muitas vezes reclamada.
O que a inquietação dos povos neste momento pede não passa de uma nova mudança de nome. Cansados da farsa representativa e das designações engenhosas com que o liberalismo disfarçou o irônico e eterno Mefisto, querem “algo nuevo”, esquecidos de que neste mundo inovar é mudar de roupa — mudar de nome.
Infelizmente para a humanidade tal operação não é simples como para o indivíduo. Não se faz sem o sangue, sem a dor que toda a ruptura de um estado de equilíbrio traz e sem os sofrimentos de toda a ordem conseqüentes à procura de um novo equilíbrio,
Crises, chamam-se essas passagens — ou revoluções, no caso de serem hemorrágicas.
O que custou à França mudar o nome de “rei” para “gabinete”! O que vai custando à Rússia mudar o nome de “czar” para o nome ainda em elaboração que o vai substituir!
A luta ideológica mantida contra o despotismo equivaleria no corpo humano à grita de todos os órgãos contra a cabeça, se fosse perfeito o símile entre os dois organismos.
Tem como fundamento a velha fermentação utópica, filha do erro de ter-se o homem como super-animal, ser fora das leis gerais que regem na terra a vida dos cavalos, das moscas, das sardinhas e dos elefantes.
Quando essa toxina utópica for de todo eliminada, então a humanidade aceitará sem disfarces, sem refolhos, sem folha de vinha a nudez do despotismo. Um pastor à frente e o rebanho atrás, pastando com deleitosa despreocupação já que o “duce” vela. A dificuldade para atingirmos essa idade de ouro reside apenas numa coisa, na aparência bem simples, na realidade dificílima: no nome a dar ao déspota. Quem achar um que satisfaça plenamente e nem de maneira remota lembre as denominações anteriores caídas em ódio, fará à pobre humanidade um presente, talvez de grego, porém maior que o que lhe fez Gutenberg com a imprensa, Papin com o vapor ou Edison com o gramofone.
Plágio post-mortem
A 11 de outubro de 1916, pela tarde, entra a esvoaçar em São Paulo um corvo sinistro: o boato da morte de Ricardo Gonçalves.
— Será possível!...
Era. O boato confirma-se. “La buffera infernal que mai non resta” tragara-o para sempre.
Ricardo, a tiros de revólver no coração, fechara o epílogo da sua tragédia de amor. E a Paulicéia tão fria, tão sem gestos, tão fechada consigo mesmo chorou-o com as suas melhores lágrimas — irmãs das que teria mais tarde para Moacir Piza.
Criatura de eleição, era Ricardo o feitiço dos seus amigos: nenhum possuiu que o não chore ainda hoje. Poeta dos que falam à alma, seus versos, dos mais ricos de poesia de quantos se fizeram no Brasil, viviam na boca dos amadores, passavam de álbum a álbum, perpetuavam-se nas folhas à força de transcrições. Esperança do povo, sua ação social relevada em discursos de perturbadora eloqüência, fazia os humildes enxergarem nele a aurora de um Graco. Paixão das mulheres, sua beleza física, de fundo romântico, culminava nos olhos divinos de expressão e nostalgia do além, tornando-o o homem fatal dos amores que fulminam.
Em suma: caso raríssimo de requinte racial, de confluência harmônica das três grandes forças: gênio, beleza, coração. Dessa amálgama feliz vinha o dom supremo — a bondade filha da suprema compreensão.
Uma bala de revólver roubou a São Paulo a flor peregrina ainda mal desabrochada.
Mas o perfume ficou: seus versos.
Ricardo os fazia de raro em raro, sem mira noutra coisa senão fazê-los. Linguagem natural do coração, exteriorizava-os despreocupado, como a violeta que recende à tardinha.
Não os publicava; a sede da perfeição inatingível não lh’o permitia. Seus amigos, porém, os foram levando a jornais e revistas, receosos de que se perdessem tão finos lavores.
Seis anos após sua morte esses versos foram reunidos em volume — “Ipês”. A coleção trazia além das suas produções originais algumas traduções de Leconte e Rostand. E Ricardo Gonçalves passou a viver a doce vida da sombra, em seus versos e na saudade dos amigos. Conquistara a paz. Dera a vida terrena em troca dessa mansa quietude.
Os anos passam. De súbito, uma revista carioca explode uma acusação hienal contra a memória do morto. Xavier Pinheiro impiedosamente o acusa de plagiário; mais, de gatuno de versos alheios. Acusa-o de haver furtado a Porto Carrero uma tradução de Rostand.
E o articulista esmaga a nobre sombra cotejando as duas produções — na realidade uma só porque absolutamente idênticas.
Mais que brutal, mais que grosseira, a conclusão do acusador era inepta. Se o livro de Carrero apareceu depois da morte de Ricardo como poderia este plagiar “post-mortem”?
Se plágio havia, plagiou quem apareceu por último. A cronologia, portanto, investia, virava pelo avesso o libelo e punha em má situação Porto-Carrero.
Era, entretanto, absurda qualquer das duas hipóteses. Nenhum dos dois poetas merecia que nem por sombras pairasse sobre eles tão infantil suspeita.
O caso devia ser bem outro, e era.
Havia acontecido o seguinte.
Como o livro dos “Ipês” só foi organizado muitos anos depois da morte do poeta o organizador do trabalho teve que lutar com muitas dificuldades. Teve que catar as produções esparsas aqui e ali, escabichando coleções de revistas e jornais, álbuns, memória de amigos.
E no afã da colheita... apanhou a tradução de Carrero e a incluiu na coletânea como sendo a de Ricardo.
Só agora, com o alarme de Xavier Pinheiro, se verificou o engano, e graças a uma busca rigorosa foi possível desenterrar de uma revistazinha antiga a tradução de Ricardo, que traz a data de 1904.
“A Manhã”, órgão de desagravos, vai desagravar a sombra caluniada publicando as duas traduções. E seus leitores, comparando-as, hão de forçosamente exclamar:
— Que criatura feliz este Rostand, cujos versos encontram tradutores de tal quilate!
A de Ricardo é esta:
MANEIRA DE FAZER PASTÉIS DE AMÊNDOA
Com três ovos — cada clara
Bem batida, uma por uma,
Se prepara
Uma xícara de espuma
Branca e leve qual se fosse
Neve pura; põe-se então,
Com leite de amêndoa doce,
Quinze gotas de limão.
Depois se bate e adelgaça,
Visando-se obra perfeita,
Fina massa
Que se deita
Numas formas especiais.
E em cada pastel, brocado
Lado a lado,
Põe-se a espuma e nada mais.
Os pastéis assim obtidos
São no forno muito quente,
Docemente,
Com cautela introduzidos.
Espera-se um pouco e, após,
Na bandejinha que os trouxe,
Enfileiram-se ante nós
Os pastéis de amêndoa doce.
(1904)A de Porto-Carrero é a seguinte:
TORTAZINHAS DE AMÊNDOAS E MODO DE AS FORMAR
Batam-se bem alguns ovos
Inda novos;
Nas ondas que a espuma trouxe
De cidra o sumo se deite,
Grosso leite,
Bom leite de amêndoa doce.
Passe-se dentro da lata
Fresca nata
Em formas de bom-bocado:
De damasco a borda peje-se;
E despeje-se
Gota a gota com cuidado
Tudo na forma, de forma
Que essa forma
Vá para o forno; e, rendendo-a,
Sigam-se as outras; saindo
Venham vindo
As tortazinhas de amêndoa.
Imagino (gratuitamente) que os próprios tradutores torceriam o nariz aos pastéis feitos pelas suas receitas — mas poeticamente as duas estão, ou devem estar certas.
Amigos do Brasil
Amigos do Brasil! Pois há disso? Há. Houve e há estrangeiros que se apaixonam das nossas coisas, vêm estudá-las e de volta às suas terras dão-se ao sentimentalismo de querer bem ao país onde a primavera e o estado de sítio são eternos.
O saudoso e recém falecido J. C. Branner, reitor da Universidade de Stanford, estudou na mocidade a nossa geologia e de regresso, até o fim da vida, conservou-se um amigo do Brasil. Quando publiquei meu primeiro livro recebi dele uma carta que conservo como prêmio. Discutia a “geringonça”, ou gíria como dizemos hoje, e falava disso com a segurança do homem de ciência para o qual tudo quanto representa criação tem valor.
Na Alemanha tivemos sempre inúmeros amigos, a partir do grande Martius. Hoje também os temos e um deles é o Dr. Frederico Sommer, que se empenha em verter e lá publicar os livros mais característicos da nossa literatura.
Até na França, tão de si própria, temos amigos. Mr. Le Gentil dedica-se a estudos brasileiros e em companhia de M. Gahisto, Martinenche e outros mantém na Revue de l’Amerique Latine uma seção dedicada amorosamente ao Brasil. Não contentes, criaram na Sorbonne um centro de estudos brasileiros e cuidam agora de constituir uma biblioteca de livros brasileiros. Tudo isto sem subvenções, à custa de enormes esforços e ao arrepio da nossa muçulmana indiferença. (Aviso aos autores de livros: essa biblioteca da Sorbonne aceita com grande prazer e pede a remessa de obras nacionais para lá, sobretudo as científicas. Endereço: Mr. Le Gentil, Centro de estudos portugueses, Sorbonne, Paris).
Outro, de nome menos conhecido entre nós, é Mr. Jean Turiau (Boulevard Murat, 29, XVIme). Já residiu no Brasil, conhece as nossas coisas e as rememora com saudades. O Brasil é uma coisa deliciosa vista assim de longe. Um meu amigo, grande patriota, dizia sempre:
— Meu ideal é a diplomacia. Viver do Brasil mas longe dele, de modo a sentir sempre doces saudades da pátria, que delícia!
Mas Turiau quer bem a isto aqui e gostos não se discutem. Trabalha em traduções e vai tornando conhecida em França a nossa esfarrapada literatura. Na última carta que me escreveu lamenta-se da sua situação de funcionário público, como toda gente em França, situação que lhe não permite adquirir obras sobre o Brasil. E chora por uma Rondônia, por uma História do Brasil, de Rocha Pombo, trop chère... (Aviso aos srs. Roquette Pinto e a Rocha Pombo: não percam a oportunidade de um tal leitor. Nada há mais raro e que mais honre a um escritor do que um bom leitor).
A interpenetração literária é o que há de mais profícuo na aproximação dos povos. Só ela suprime as muralhas que a estupidez dos governos ergue. Só ela demonstra que somos todos irmãos no mundo, com as mesmas vísceras, os mesmos defeitos, os mesmos ideais. Se a França tornou-se amada entre nós a ponto de bombardear Damasco e esmagar Abd-el-Krim sem que isso nos arrepie as fibras da indignação, deve-o aos senhores Perrault, Lafontaine, Hugo, Maupassant, Taine, Anatole e quantos mais nos trouxeram para aqui esta sensação da irmandade do homem. Se a Alemanha não se gozou de idênticas simpatias é que víamos os atos de violência dos seus homens de governo e não havia dentro de nós, para atenuar-lhes a repercussão, o coxim de veludo da literatura alemã bem absorvida como temos a francesa.
Grande serviço, pois, prestam aos povos esses homens beneméritos que trabalham na difusão da literatura alheia em seus próprios países. Estão a preparar os preciosos coxins de veludo, amortecedores dos choques. Criam a compreensão e a tolerância. Demonstram, com a exibição de documentos humanos, que somos iguais, todos filhos do mesmo macaco que rachou a cabeça ao cair do pau.
Mas o nosso descaso é imenso. Nenhuma livraria do Rio, por exemplo, tem à venda essa revista da América Latina. Por que? Não há procura. Estupidificados pelo estado de sítio crônico, parece que um desalento nos ganhou a todos, um desânimo de tudo, indiferença de chim.
Se alguma coisa valesse alguma coisa nesta terra: eis a frase com que um jornalista traduz tal estado d’alma. Frase horrível, reflexo do desespero do desânimo, e, no entanto, lógica, sempre que um povo perde a sua liberdade e tomba no boçalismo da escravidão.
Mas tudo passa. Depois da noite vem o dia. Depois da Idade Média vêm os 89. Tolice é desesperar. Esperemos, e enquanto esperamos não contaminemos com o nosso desalento de escravos os abnegados pioneiros das nossas letras em França. É noite? Não importa. Também de noite se trabalha e não há trabalho mais abençoado do que o que se faz dentro da noite para apressar a vinda do dia claro. E é trabalhar para um dia melhor meter mãos à obra da difusão literária.
Os morcegos passam e os livros ficam.
O inimigo
Muito se há dito contra a nossa república, mas para sermos justiceiros é mister não lhe neguemos os benefícios que trouxe. E trouxe-os, incontestavelmente. Há o estado de sítio permanente, há a dilapidação permanente, há o desastre da Central permanente, há o déficit permanente, há a seleção às avessas permanente. São erros, e só os erros dão na vista. Os acertos, esses permanecem ignorados. Gozamo-nos dos seus benefícios, esquecidos de exaltá-los e lançá-los num dos pratos da balança onde se pesam os crimes da república.
Entre esses acertos profundamente benéficos está o modo de proceder republicano em relação ao livro.
Como todo o mundo sabe, o livro é o causador de todas as desgraças que derrancam o homem moderno. Antes que Gutenberg inventasse o meio de pôr o livro ao alcance de toda a gente, a vida do homem no mundo era edênica.
Um rei em cima, uma corte em redor, plebe infinita em baixo e o carrasco de permeio. O rei queria, a corte dizia amém, a plebe executava. O carrasco mantinha a ordem da maneira mais eficiente, cortando a cabeça dos díscolos, enforcando-os ou assando-os vivos.
Mas veio o livro e toda esta bela organização desabou. Os homens deram de instruir-se, descreram do direito divino dos reis e dos sagrados privilégios da corte. O papa deixou de ser o dono das consciências e viu sua fogueira depuradora reduzida a tições extintos. O rei teve que submeter-se a delegações chamadas parlamentos e virou rei de baralho. A plebe folgou. Abriu os olhos e convenceu-se de que também era gente.
Isto foi bom para a plebe, porém péssimo para o papa, para o rei e para os valetes. Tivessem eles adivinhando as conseqüências da humilde invenção de Gutenberg e assá-lo-iam numa boa fogueira com todos os seus tipos de pau antes que a peste da cultura, que vai com os livros, se propagasse pelo mundo. Não se mostraram avisados, não acudiram a tempo e a conseqüência foi o que estamos vendo. O livro multiplicou-se e envenenou a humanidade com “a doença que abre os olhos”.
Aqui no Brasil começou essa doença a disseminar-se, como nefasta gripe, em virtude de termos por 50 anos um chefe de estado que sabia ler e era amigo dos livros. Esse mau homem favoreceu a propaganda da peste e acabou vitimado por ela: a república veio como conseqüência da difusão do livro entre nós.
A república, porém, logo que se pilhou instalada, reconheceu o perigo do livro e tratou de sufocá-lo. Como? Onerando de impostos proibitivos a matéria prima do livro, o papel. Quis assim precaver-se, e mui sabiamente, contra a peste que matara a monarquia e podia também pô-la de catrâmbias. E o vai conseguindo. Há quase 40 anos que a república subsiste talvez graças à sábia taxação que mantém asfixiado o gérmen letal. Eis, pois, uma das benemerências da república que valem por contrapeso dos muitos males que nos trouxe.
Essa abençoada guerra ao livro, inteligentemente surda para que não dê na vista do espírito liberal (que é a desgraça dos povos), intensifica-se de ano para ano com muito bons resultados. Criam-se aumentos progressivos de impostos contra a odiosa matéria prima, além de embaraços alfandegários que acabarão desanimando os seus petroleiros importadores. E neste andar chegaremos ao objetívo visado: tornar o livro só acessível aos ricos, gente comodista que não faz revoluções porque para eles tudo vai pelo melhor, no melhor dos mundos possíveis. No dia em que o livro for de vez arredado das mãos da plebe, a vitória republicana estará completa. Fica outra vez o rei em cima (tenha o nome que tiver), os valetes e damas em torno e a plebe em baixo, cavando a terra de sol a sol, sem caraminholas na cabeça, sem pensar em seus irrisórios direitos, reivindicações e outras bobagens.
No momento atual o papel para livro paga de direitos o “dobro do custo”. Já é alguma coisa, pois que já afasta o livro de três partes da população. A experiência, porém, demonstra que se um quarto do país ainda pode ler, continua o perigo. Cumpre ao Estado elevar o imposto ao triplo, e mesmo ao quíntuplo, se a triplicagem for insuficiente. Com um pouco mais de boa vontade lá chegaremos, para felicidade nossa.
Outra medida profilática muito sábia que o governo republicano tomou contra o livro foi a instituição dum protecionismo às avessas, de modo que a “indústria editora nacional não possa concorrer com a portuguesa”. Livro e papel impresso. Se o papel vem de fora em branco para ser impresso aqui paga, como dissemos, o “dobro do custo”; mas se já vem feito da Metrópole goza de “absoluta isenção de direitos”. Este protecionismo, instituído por D. Maria I quando mandou destruir os prelos do Brasil colônia, foi restaurado pelo governo republicano sob o hábil disfarce de favorecer o intercâmbio com a Metrópole, intercâmbio, está claro, que não existe nem pode existir.
Foi um golpe de mestre. A concorrência tornou-se impossível, porque não há concorrência possível quando o protecionismo intervém a favor de uma das partes.
Mas, dirão, tudo é livro, venha da Metrópole ou seja feito aqui na colônia. Logo a república não é de todo infensa ao livro.
Sim, mas os livros que nos vêm da Metrópole são livros estrangeiros, que não estudam as nossas coisas, que não gritam, que não petrolizam, que não esperneiam. Inócuos, portanto. Dum róseo cosmético de Júlio Dantas virá uma dose maior de gravatas ao caixeirinho da esquina — idéia nenhuma; mas dum livro indígena de Oliveira Viana ou José Oiticica podem vir idéias e isso, é o diabo.
Alta sabedoria, portanto, demonstra a colônia em manter a avisada lei de D. Maria I. Dos males o menor. Cosmético perfumado, sim. Idéias, nunca. É de cedo que se torcem os pepinos. Se a França tivesse queimado vivos os Elzevires e outros difundidos da peste gráfica, não andariam hoje as estantes cheias desse nefasto Anatole France, que sorri de Jeová, dos reis e dos valetes. País novo que somos é mister que tudo se faça para que jamais prolifere aqui a raça maldita dos que duvidam. E o meio é esse: taxar inda mais o livro, favorecer inda mais o protecionismo à indústria editora da Metrópole contra a sua rival da colônia.
Diz Antônio Torres que em Minas o povo inda não está convencido de que D. Maria I morreu. Supõe-na ainda no trono, velhinha, mas tesa.
Minas pensa muito bem, e a nossa felicidade está em sermos por ela governados.
Amém.
A rosa artificial
Primo de Rivera, num discurso pronunciado em Alcalar, acaba de dizer grandes coisas.
“Não consulto, disse ele, a vontade popular porque tenho a convicção de estar servindo-a e interpretando-a a contento. Com tais consultas se perderia tempo e a perturbação sobrevinda com as eleições seria inútil. E que iríamos fazer com os eleitos? Para que queremos eleitos? Temos órgãos de consulta para todos os problemas do estado. Por conseguinte é inútil ressuscitar esse artifício chamado Parlamento que os povos, que ainda o possuem, não sabem que fazer para abandonar.”
É a primeira vez que sai dum chefe de estado — Rivera não é outra coisa — a verdade nua, a verdade de amanhã.
O artifício chamado parlamento de fato não passa de um artifício, isto é, coisa inatural, não decorrente dum modo lógico da árvore da nação. Salvo na Inglaterra.
Só lá ele é natural, porque só lá se originou por força de uma contingência orgânica influtável e intraduzível por outra forma.
Abro a interessantíssima Little Arthur’s History of England, de lady Callcott, ingênuo livrinho onde as crianças inglesas aprendem a trágica história do seu país, e leio o trecho relativo às origens do parlamento.
“Às vezes os reis queriam mudar as velhas leis ou fazê-las novas. O povo, porém, se opunha, dizendo que não era direito que se fizessem leis para ele povo sem que ele povo fosse ouvido e dissesse se lhe convinha ou não. Assim, sempre que o rei queria fazer uma lei nova, ou reformar uma velha, reunia os aldermen (os homens mais velhos), os bispos e os thanes (primeiro grau da nobreza por merecimento) para saber deles o que convinha fazer, e conformava-se com o parecer desses homens. Depois também chamava o povo para opinar sobre as leis propostas.
E, se o povo concordava, fazia-se a lei e o povo a respeitava e os juízes puniam os desobedientes.
Mas isto trazia muito incômodo a muitas pessoas e o povo achou melhor escolher entre os seus homens mais avisados três ou quatro dos melhores e mandá-los ao rei para que decidissem pelo povo, que deste modo não se veria perturbado constantemente no seu trabalho dos campos. E então o rei e os nobres e os bispos e os homens do povo passaram a reunir-se, a fim de discutir as leis, num lugar chamado Witena-gemot, palavras do velho inglês que querem dizer “reunião de homens avisados”. Era alguma coisa parecida com o que chamamos hoje parlamento, que também significa “lugar de falar”, porque nele todos falam a respeito dos melhores meios de fazer as leis, antes de fazê-las. Por este processo os anglos e os saxões eram governados por leis que eles mesmos consentiam e ajudavam a fazer.”
Nesta lição em língua ingênua está patenteada, melhor que em qualquer tratado político, a origem natural e a formação orgânica do parlamento na Inglaterra. Nasceu por força da utilidade comum, como nasce a rosa da roseira — a seu tempo, da cor, forma e perfume logicamente predeterminados pela constituição orgânica e funcional da planta.
Mas há macacos no mundo. Há macacos-povos.
Os Bandar-Logs de Kipling não constituem ficção de novelista.
Os povos macacos, vendo o bom resultado do sistema inglês, adotaram-no bananescamente, esquecidos de que imitar o inglês seria, não tomar o rosa da roseira inglesa, mas deixar, como eles, que a planta nacional abrochasse a tempo na sua flor, qualquer que fosse. O resultado desse erro a história o vem registrando.
A rosa artificial que ocupa nos povos macacos o hastil da flor que o macaquismo impediu de abrochar, é rosa artificial. Não tem vida, nem cor, nem perfume — não harmoniza com a planta, não responde à sua organologia.
É o artifício de que fala Primo de Rivera.
Assim entre nós. Que relação tem o nosso parlamento — casa mais de xingar e “engrossar” do que de discutir — com o Brasil, suas gentes e coisas? Nenhuma, absolutamente nenhuma! É um corpo estranho, uma flor de papel, nem sequer de seda, um artifício e como tal nocivíssimo aos interesses da coletividade. Cuida de si, faz negociatas, vende-se a industriais, explora o imposto, agrava de ano para ano o parasitismo que entreva e entrava o país, e atamanca as mais extravagantes, ineptas e absurdas leis que ainda se viram no mundo. Não é um corpo técnico. Ninguém cai ali porque tem mérito, e sim porque sabe entrar por baixo do pano, como os moleques em circo de cavalinhos — pelo suborno, pelo parentesco, pela subserviência aos chefes ou pela eleição, isto é, pelo índice de papeluchos que uma gente ignara chamada eleitores leva a uma caixa chamada urna num dia chamado dia de eleição.
Não são os aldermen dos ingleses, velhos experientes; não são os thanes, homens que pelo mérito se destacam no conceito público; não são os cleverest of our neighbours, como os delegados da plebe inglesa. São negocistas ou títeres — e se não causam maior mal à nação é que têm o bom senso de, em quase tudo, escravizarem-se servilmente a um leader, portador da voz do Chefe do Estado.
Em Espanha a mesma coisa. Lá, como cá, foi o parlamento tomado da Inglaterra, por cópia conforme.
É artifício, é rosa de papel fincada num pé de cactus.
Primo de Rivera disse a grande verdade — para a Espanha. Quem dirá entre nós a nossa grande verdade? Quando o instinto de conservação despertará no Brasil e o fará varrer com o artifício, com a rosa de papel de embrulho, para que surja a flor natural?
Nota. O tom deste artigo mostra como estava agudo o ceticismo em relação ao Congresso nos últimos anos da República Velha. O Congresso não impunha o menor respeito e a grita geral tornara-se “varrer com aquilo”...
O perigro de voar
A insistência com que foram aclamados no Pará os aviadores argentinos acabou por apavorar os pobres homens. O entusiasmo da população de Vigia e outros lugarejos transitados a pé pelos heróis aéreos tornou-se asfixiante — sobretudo vindo de mistura com o calor, que é lá um caso sério, e as nuvens de carapanãs, caso seríssimo. Isto prova mais uma vez que o Brasil é bom para voar por cima, mas derrancador para ícaros que põem pé em terra.
O Brasil admira a gritos, a discursos inflamados e abraços de quebrar ossos o homem que voa. Está no sangue. Quando Dumont, depois da sua vitória em Paris, veio cá a passeio, tanto o maltrataram a marretaços de retórica, discursos e vivas que ele regressou a Paris correndo, e a fazer cruzes. E mais tarde, se amigos lhe perguntavam porque não vinha ao Brasil matar saudades, respondia:
— Vontade não falta de ir respirar os ares pátrios. Mas apavoram-me as manifestações!
Sacadura e Gago, idem. Foram massacrados pelo entusiasmo popular, vindo um deles a falecer em conseqüência do traumatismo psíquico. Tanto o vivaram e abraçaram que o homem se desarranjou de nervos, perdeu o controle das faculdades e na primeira ocasião em que voou foi a pique.
O Brasil ignora — e é natural visto como não lê coisa nenhuma — que a aviação já se tornou comezinha na América do Norte e nos grandes países europeus a ponto de industrializar-se como meio de transporte regular. Linhas normais de aviões e aeronaves funcionam ligando entre si cidades e capitais com a mesma regularidade das estradas de ferro. De Berlim e New York, por exemplo, todas as manhãs a tantas horas partem avejões ou charutões sem que o público dê ao fato maior importância que à partida dos trens diários. E à tarde chegam outros, no horário, como a coisa mais natural do mundo. Voar nesses países tornou-se, depois da guerra, uma forma de viajar perfeitamente equiparável ao deslisar dos trens ou ao correr do automóvel.
Mas nós aqui ignoramos isso, e quando um jornal qualquer traz notícia a respeito, dizendo que a empresa tal fez no ano tantas mil viagens com um infinitesimal zero vírgula de acidente, rimo-nos da piada.
— Estes yankees, que blefistas!
Não acreditamos, positivamente, e se um Sacadura, um Ramon, um Duggan passa por aqui, desconjuntamo-nos na epilepsia dos aplausos, convencidos de que o homem é no mínimo encantado.
Vem d’aí a impossibilidade de estabelecer-se uma linha regular aérea no Brasil, entre Rio e S. Paulo, por exemplo. O entusiasmo popular impediria o funcionamento dela. Ponhamos o caso na Central. Imaginemos que a cada trem que parte de S. Paulo o povo se aglomerasse na estação para vivar o maquinista e o foguista, e aclamá-los como os reis do “rail”, os Napoleões do apito, etc., e abraçá-los e coroá-los de flores. E que ao chegar ao Rio o trem outra catadupa de delírio fosse de encontro a esses homens cansados e só desejosos de um bom banho e melhor cama. Seria possível que a Central continuasse a funcionar? Claro que não. Pois esse nosso entusiasmo pela aviação, que não arrefece nunca, impede-nos de ver adotado aqui um meio de transporte já normal no velho mundo e na parte civilizada do novo.
Precisamos educar a nossa gente nesse sentido. Começar nas escolas a ensinar aos meninos que isto de voar não é novidade; que a guerra deu um tal empurrão ao invento de Dumont que hoje já se contam por dezenas de milheiros as máquinas de voar em uso lá do outro lado do mundo onde há dinheiro e civilização; e que a boa política quando um aviador passa sobre nossas cabeças, ou aterra, é segurarmos o abraço incômodo e engulirmos os vivas que incoercivelmente nos sobem da tripa à boca, pois isso é condição para que também aqui se aclime... a única invenção brasileira.
Porque a continuar como vai o certo é os aviadores de “raids” esportivos riscarem o nosso país das suas rotas, ou espetar no Brasil dos mapas-mundis um alfinete com papeleta:
— Zona perigosa, assolada de ciclones de entusiasmo e trombas de retórica. Passar de largo, ou a 5 mil metros de altitude.
Quer Antônio Torres que Minas não está convencida de que D. Maria Primeira já morreu. Diz que todos lá a têm como ainda reinante na corte de Lisboa, sendo os Srs. Artur Bernardes, Melo Viana e outros simples criaturas de sua real nomeação.
Mas será só Minas que pensa assim? O Pará, o Piauí, a Bahia, o país todo não pensará do mesmo modo?
Tudo leva a crer que sim. Só S. Paulo sabe que a boa velha já não existe — e o sabe porque os milhares de imigrantes que lhe chegam da Europa falam de Mussolini, Rivera, etc., e juram que em matéria de rainhas Marias só há hoje a da Romênia, que é linda.
Se houvesse um meio de convencer o país de que esses imigrantes estão bem informados e sabem o que dizem...
Forças novas
Vem de S. Paulo um livro que vale pela mais pura revelação artística destes últimos tempos. “O Estrangeiro”, de Plínio Salgado. É menos que um romance. Dá a impressão duma grande obra ciclica, ao molde da “Comédia Humana”, de Balzac; qualquer coisa como notas estenografadas com mão febril para ulterior desenvolvimento. E talvez por isso seja tão forte, tão nova a impressão que causa. A mesma que causaria a Comédia Humana se do estado de diluição analítica passasse ao de concentração sintética num só volume.
Plínio Salgado consegue o milagre de abarcar todo o fenômeno paulista, o mais complexo do Brasil, talvez um dos mais curiosos do mundo inteiro, metendo-o num quadro panorâmico de pintor impressionista.
Que formidável steeple-chase é São Paulo! Confluem para ele não só as incoercíveis energias do homem que arregaça as mangas na Itália, na Siria, na Alemanha, na Rússia, no inferno e vem para a América vencer, como os elementos mais eugênicos de todos os Estados do Brasil. E referve a curée da terra roxa, em torno do Café, ouro-fênix de eterno rebrotar. O atropelado rush ao Klondike repete-se. Faca nos dentes, músculos retesados e um grito só: Dinheiro!
Essa onda advena, arreitada de ambição, choca-se com os primeiros ocupantes, os desbravadores já vitoriosos, e deflagra o drama do struggle que Plínio Salgado traceja a espatuladas fulgurantes, com nababesco desperdício de tintas raras. E, como sempre, vence o mais forte.
Nos Mondolfis descreve Salgado o ciclo ascendente dos colonos de boa cabeça e rijos no trabalho. Com rapidez passam da Hospedaria dos Imigrantes à riqueza e à direção política. Formam o amanhã de S. Paulo.
Ao lado deles, ciclo descendente, os Pantojos, família antiga mas já dessorada das boas energias vitais, morrem na curva da parábola. Pantojo vende aos Mondolfis suas terras e vai para São Paulo esbanjar em farras o dinheiro. Morre na penúria, com os filhos já a se diluírem na massa anônima dos vencidos.
Zé Candinho, caboclo rijo de cerne, simboliza a velha guarda que se retira para o sertão mas não se rende. Vai continuar a obra dos seus maiores, neo-bandeirante que é, violador nato de terras virgens.
O professor Juvêncio resiste crispado no seu nacionalismo de raciocínio, mas vai sendo posto de banda pelo terrível parigato, como voz de eco impossível na algazarra da refrega.
O major Feliciano representa a política vitoriosa, safadíssima, toda em resumo no “vencer para gozar”.
Eugênio Fortes, o poeta, figura o intelectualismo doentio, sem forças para a violência da ação. Contempla e comenta, mas de palanque.
Ivan, um russo, constitui a figura central do livro. “Síntese de todos os personagens (diz o autor no prefácio onde esquematiza a obra), consciência de todos os males. Ação norteada por um realismo a priori, anulado por ceticismos cruéis em face do utilitarismo ambiente e do preconceito esmagador. Pletora de personalidades contrastantes e incapazes”.
Mas de nada valeria o belo esquema prefacial se o autor não introvertesse na realização da obra uma onda revolta de talento, e não a fizesse exatamente como fez, numa desordem procurada e sem preocupação de forma. De tontura em tontura segue o leitor pelo livro a dentro, empolgado pela força do estilo, que é única e sem rival entre nós. Quadros há pintados como os pintaria Júpiter — a coriscos. A outros esboça o autor com tintas novas, inéditas na palheta acadêmica, audaciosíssimas.
Um chá dançante: “Na nuvem dourada do jazz, corpos brancos e macios enroscavam-se na empernada delícia das mornas chamadas jeitosas e discretas. Os róseos lábios entreabertos e os olhos de ternura molhada adivinhavam premidas puberdades.
Mas os chás-dançantes, em geral, eram em benefício de Santa Terezinha de Jesus”...
Mais uma transcrição que dê medida do seu impressionismo. Juvêncio, o exasperado nacionalista, vai com seus alunos em excursão ao salto do Avanhandava e leva consigo os três papagaios que dera de presente a Carmine Mondolfi e que tomara de novo. Que tomara porque tinham as aves aprendido o hino fascista e outras italianidades. Queria, dentro da natureza selvagem, restaurar a brasilidade dos papagaios.
— “Vou curá-los no sertão”.
Mas foi inútil...
Uns caboclos de Santa Bárbara acercaram-se, curiosos.
Os fords pinoteavam como cabritos na estrada pedrenta que furava a mata-virgem.
O Tietê tombou, de chofre, com ribombo e estilhas. Catadupa de ouro líquido. Piscina larga de muros a pique. E os papagaios de Carmine gritavam, roucos:
— Giovinezza, giovinezza, primavera di belezza!
Uma grande arara gargalhou gostosa no alto de um ipê. Juvêncio, de pé sobre a rocha, exclamou:
— Quem ri desta cachoeira? E voltando-se para os discípulos e caipiras amontoados:
— Vamos! É algum de vocês capaz de rir-se desta cachoeira?
E explicou:
— Esta queda d’água poderia fornecer força a muitas cidades, mover usinas, iluminar. Assim é o homem da nossa terra. No litoral desmancha-se em arroio, mas aqui é bruto e forte.
Agarrou então os papagaios — giovinezza! giovinezza! — e um por um os foi estrangulando e lançando à onda brava da catadupa. — Indignos todos os seres que falam como papagaios, sem pôr nas palavras a força e o calor da Terra! Indignos os homens que falam com os lábios e acabam transformando-se na insensibilidade dos fonógrafos”!
Todo o livro de Plínio Salgado é uma inaudita riqueza de novidades bárbaras, sem metro, sem verniz, sem lixa acadêmica — só força, a força pura inda não enfiada em fios de cobre das grandes cataratas brutas.
Não cabe nesta página o muito que há a dizer de livro tão forte e novo.
Nela fique, pois, apenas um brado de entusiasmo pelo “algo nuevo” que vem de revelar-se ao país. Já tardava que São Paulo, terra de prodígios, desse da sua uberdade mental tão saboroso fruto. Plínio Salgado é uma força nova com a qual o país tem que contar.
“Em pleno sonho”
Outr’ora, no Brasil de anquinhas, ser poetisa era suspirar. Viera a moda do reino. “Desde 1848 a 1866, diz Camilo, contavam-se por dúzias as cantoras que em Portugal poisavam gorjeando nos periódicos do tempo, com grande riqueza de charadas e muitíssimos Suspiros dignos dos círculos mais lacrimosos do Dante”. Assim, mulheres lá, cá homens e mulheres — todos suspiravam de cortar o coração, quando a musa lhes tumescia o estro.
Hoje, tudo mudou. Se há suspiros é em casa das doceiras: clara d’ovo batida com açúcar e assada em pingões ao forno.
Suspiro poético, arrancado do imo d’alma, à força de contrações do diafragma e sibilo de nariz, isso morreu, saiu da moda, acabou. E é pena. Se não tinha graça num marmanjão de cabeleira que morria hético aos 20 anos, tinha-a demais nas representantes do sexo hoje ex-frágil, cujos corações não eram consultados nem para o negócio supremo das suas vidinhas: casar.
A poetisa de hoje emparelhou-se com o poeta moderno. E assim como este perdeu a cabeleira, a caspa, as atitudes fatais, e veste-se, come, bebe e lava-se como todo o mundo, assim também a poetisa desfatalizou-se e não há mais discerni-las à janela pelo negror das olheiras, nem à noite pelo modo canino de ferrar o olho na lua.
Compuseram-se. Alçapremaram-se a nível superior. Emparelharam-se às demais criaturas finas de elegância mental, distinção e sobriedade de maneiras.
Quem lê uma Francisca Júlia tem a impressão duma eleita da linha, no caráter e na mentalidade.
Gilka Machado dá a sensação nobre de quem está afeita a partir cristais com martelo de ouro.
Albertina Berta documenta a capacidade feminina para vôos elegantes sobre cumeadas alpestres onde esvoaçam d’Annunzios.
E agora Maria Eugênia Celso revela em livro a maneira galharda com que neta e filha podem empunhar um cetro de nobreza moral legado pelo avô, e uma pena refulgente que inda maneja o pai.
Nem resquício da poetisa à antiga, aves cômicas que “poisavam gorjeando nos periódicos do tempo”. Mas a criatura de fina sensibilidade e larga cultura, de nobilíssimo caráter e suave equilíbrio, à qual apraz traduzir em versos os mais sutis estados d’alma.
Surge em campo com um livro — Em pleno sonho — carruagem da rainha Mab que permite ao leitor um passeio inesquecível através duma alma. Passear pelas alamedas duma alma!
Pervagar, virgilinamente, pelo jardim das suas impressões, descortinando paisagens psicológícas, florestas palpitantes de anseios, riquíssima de tons emotivos!...
Prazer de encanto redobrado quando nos conduz mão de mulher. Abençoados os livros assim — cartões de ingresso permanente à nobre intimidade das almas encantadoras.
Sentir tais livros, sentem-no todos: é questão apenas de pertencer ao gênero homo. Já criticar, só os críticos. Fale pois o crítico. Venha um, com sua maleta de cirurgião, seus instrumentos de dissecar, seu olho de lince. Tome o livro; submeta-o à autópsia; desarticule-o; pese; meça; corte; prove; cheire, apalpe e fale. O operador é moço. Tem nariz adunco e olhos cansados da muita leitura. Incuba em si um déspota de amanhã. As nossas letras hão de curvar-se à sua férula como se curvaram as francesas ao bolo de La Harpe. Vai abrir a boca. Tosse, pigarreia e diz assim:
— “É a crítica a manifestação de arte que mais reformas tem sofrido em seus processos. Os estalões estéticos”...
— Não poderá o amigo saltar por cima desse nariz e ferrar logo o assunto?
— “Paciência. Somente Rodin atrevia-se a esculpir corpos sem cabeça. Comecemos do princípio. Os estalões estéticos, aferidores da obra d’arte, por mais firmes que pareçam em certas épocas, sofrem constantes reformas. Guerrilhados sem dó nem folga pelos iconoclastas, caem os padrões como caem os ídolos. E poucos vingam transpor o tempo que medeia entre uma geração de idéias e outra. Há, entretanto, idéias que sobrenadam e resistem às mais rudes provas. Dou um exemplo com a idéia de que em toda a obra d’arte a parte do sentimento é sempre maior que a parte puramente pensada. Disfarcem-no como o quiserem, humilhem-no à lamúria, dilatem-no à revolta, subjuguem-no à lógica: ele subsiste e predomina”.
— Até aí...
— “Espere. Em face dessa verificação força é convir que as mulheres são mais artistas que os homens, devendo, portanto, ser femininos os tipos mais superiormente representativos da arte. A conclusão é lógica”.
— Mas não tem sido verdadeira.
— “Perfeitamente. A causa dessa anormalidade, desse contrasenso residirá talvez no próprio excesso de sensibilidade muliebre, que redundaria assim numa sensível quebra de equilíbrio estético e numa conseqüente, não direi incapacidade, mas inadaptabilidade de poder de expressão artística”.
— Perfeitamente. Puxe, agora o “mas”...
— “Mas há casos em contrário. Neste livro, por exemplo, noto o milagre de conjugar-se o poeta com a mulher, isto é, noto um caso onde coexistem extrema sensibilidade feminina e forte poder de expressão artística.
Toda a poesia não passa duma confissão do que vai de anseios, torturas, desejos, frêmitos e volições na alma do poeta. E esta nova poetisa sabe ajoelhar-se ao confessionário da Poética e ir desfiando aos nossos olhos o rosário inteiro das vibrações emotivas de sua vida de moça: — seus sonhos. Já nos versos liminares declara que não fará senão confessar-se. E pelo livro a dentro confessa-se. Sua alma é cândida e ardente. Dai o tom pessoal e subjetivo da sua arte, a ternura repassada de nostálgicas tristezas que não chegam até o pessimismo. Isso enubla o livro na deliciosa névoa de melancolia e suavidade que lhe dá ambiente.
Sincera, seus versos brotam límpidos, duma fonte sempre feminina, sempre despida da preocupação de mascarar o próprio temperamento à força de preciosismos, atitudes de escola ou arrebiques falsos, tão do agrado do sexo.
Divide-se o livro em duas partes: Devaneios e Aquarelas e Sonho Interior. Se para intitular a primeira houvesse escolhido o titulo de Th. Gautier, não teria errado. São essas composições pequenos esmaltes de muito brilho e lindos camafeus de acabado lavor. As mesmas qualidades de fatura caracterizam-nos a todos. Finura de lavor, desembaraço, vivacidade, elegância nos recortes, riqueza de filigranas e em muitos deles grande pureza de traços.
É uma estreante. Por isso surpreende-nos umas tantas medalhas de ouro vivo, cunhadas dum golpe — desses golpes de que só têm o segredo os velhos ourives de mão trenada.
Cito O Cipreste, Crepúsculo, o Ruço, Os bambus, Canção do rio na serra. E cito Musmé, que se me revela aparentada na família dos camafeus de Heredia”.
— Parentesco próximo, ou...
— “Parentesco em primeiro grau. Nas baladas quero ver quase um gênero seu dileto, um tanto influenciadas algumas por mestre Rostand. Todas revelam riqueza de expressão, de cor e ritmo.
Sonho Interior é, como em toda obra lírica, a confissão do amor. Gênero escorregadio, hoje. Tropeçam nele até mestres, tais exigências lhe impõe o saturado paladar moderno. Se o poeta não possui um finíssimo senso do equilíbrio, ai dele! ou cai na pieguice ou rola pela rampa do ridículo. E por esse motivo o lirismo constitui hoje a prova suprema, a que o poeta só vence à força de tato e senso da medida. Ainda este passo, vence-o a sra. Maria Eugênia Celso com grande desembaraço. Revela-se artista seguríssima ao serviço de valente psicóloga. Destaco a poesia Antes do Amor. Devaneio de todas as moças na época em que deliram sob a pressão torturante do amor, estado d’alma por que todas passam, ela o interpreta com extrema habilidade
“E penso em ti, desconhecido amante,
“abro-te os braços sem saber porque”...Esta composição é um poema de sinceridade e de verdade psicológica, e está burilado com suma elegância. Aliás é a elegância uma das melhores características deste livro encantador”.
— Donde concluis...
— ...“que temos no campo das letras uma poetisa nova de singular valor pessoal, bastante para imprimir aos seus versos um cunho inconfundível e universal, o suficiente para fixar o sonho vago dum milhão de criaturas”.
Parou aí o crítico, para tomar fôlego e concertar o pigarro. Que prazer demonstram eles depois que anatomizam um livro, jogando com o tal arsenal de chavões revelhos que aplicam a todos os casos concretos! Alguém, entretanto, torceu o nariz ao La Harpe.
— Terás razão. Espetaste na tala de cortiça, com o teu alfinete de entomólogo, uma linda borboleta azul. Mas perdoa-me. Eu cá me fico a pensar que não homenageia em nada a um poeta a autópsia da sua arte, como nada de bem faz à borboleta o alfinete espetado e o latim classificatório em baixo. O que vale, a um e a outra, é ouvir ao passante que o lê ou a vê exclamações simples como esta:
— Inda há belas coisas na vida!
E esta homenagem rendem ao livro de d. Maria Eugênia, todos quantos abrem uma pausa no torvelim da vida, para nele repousar o espírito durante uma boa hora.
A influênciea americana
Havia em Roma um bull-dog de mau focinho, agressivo e avarento, mais venenoso e azedo que o próprio sal de azedas: Marco Porcio Catão.
Essa famosa bisca só sabia rosnar, rezingar e morder. Nenhum sentimento generoso encontrava guarida em su’alma de ácido cítrico. Seus conselhos reviam acidez. “Não emprestar dinheiro ou coisa que o valha a ninguém. Aos escravos inutilizados por doença ou velhice, vender a peso, como cacos velhos”.
Foi a Cartago, viu rica e florescente a metrópole africana e logo remordeu-se por dentro, como a cobra do ódio e da inveja. E veio com um abscesso que o empolgou pelo resto da vida: É preciso destruir Cartago. Nunca mais fez um discurso sem fechá-lo com o estribilho sinistro: Delenda quoque Cartago.
Nomeado censor, teve o mel caído na sopa, e o buli-dog pôde enfim rosnar, morder gozosamente. E passou a estragar, a azedar a vida dos seus contemporâneos sob pretexto de refrear a corrupção e forçá-los à volta aos bons costumes antigos.
A simplicidade de costumes desse homem, entretanto, explicava-se pela sordidez de sua avareza, que ia a ponto de auferir lucro até da coabitação dos seus escravos com as respectivas esposas. Não podiam unir-se sem pagar uma taxa de licença...
Catão deixou semente, a qual vem pelo tempo afora expluindo em catões minúsculos, todos ao molde da matriz romana — igualmente azedos, mordentes e de coração substituído pelo fígado engurgitado de mau fel.
Mas Catão e sua descendência caracterizam-se por uma coisa muito simples: incompreensão. Como não compreendem, condenam. Quem compreende sorri, como Anatole France.
O grande erro dessa casta de homens é confundir corrupção com evolução. Condenam as formas novas de vida, que se vão determinando em conseqüência do natural progresso humano, em nome das formas revelhas. Logicamente, para eles, o homem é a corrupção do macaco; o automóvel é a corrupção do carro de boi; o telefone é a corrupção do moço de recados.
Conheço um que não cessa de catonizar contra os Estados Unidos e sua nefasta influência na vida brasileira. Isto aqui seria o paraíso terreal se não fora o yankee com a sua penetração irresistível, diz ele. O país vai mal, a máquina administrativa não funciona, o povo não enriquece, não aprende a ler, não tem justiça, etc., tudo graças à influência americana. Rolamos por um despenhadeiro porque o americano nos empurra.
No dia em que m’o apresentaram estava ele num bar a sorver regaladamente um ice cream soda, muito bem posto dentro de um terno de Palm Beach. Viera da Tijuca de bonde, estivera no escritório a ditar cartas à datilógrafa, tinha falado três vezes ao telefone e dado um pulo ao Leblon, numa Buick de praça, para concluir um negócio. Depois do ice iria ao Capitólio ver a Gloria Swanson na Folia.
O ice refrescou-lhe as tripas; o terno de Palm tornava-lhe suportável o peso do calor; o bonde o trouxera da Tijuca em trinta minutos por três tostões; as cartas feitas numa Remington impediram que sua má letra fosse dar origem a atrapalhações comerciais; as telefonadas pouparam-lhe uma trabalheira insana; a Buick permitiu-lhe voar ao Leblon agradavelmente em minutos; o cinema ia fechar o seu dia com uma complexa e deleitosa impressão de arte e beleza.
Sem a influência do norte-americano esse homem teria de vir da Tijuca a pé, a cavalo ou de carro de boi. Gastaria três horas e chegaria escangalhado. Sem o americano consumiria ele três horas no mínimo para fazer o que fez com as telefonadas. Sem o americano teria de gastar seis horas para ir e vir do Leblon, se não morresse pelo caminho de insolação. Sem o americano teria de escrever à unha suas cartas, com poucas probabilidades de se fazer entendido no seu aranhol de gatafunhos. E se acaso depois de tamanha trabalheira inda lhe restassem forças para tomar uma hora de teatro, sem o americano teria ele de ir ver sua beiçuda e morrinhenta cozinheira a figurar de “estrela negra” no Largo do Rocio, em vez de maravilhar-se com o encanto da sereia de olhos de gata, que é a Gloria Swanson.
Catão malsina justamente das únicas coisas que se salvam nesta terra, todas devidas à influência norte-americana. Se a cidade funciona, isso o deve ao engenho do povo que lhe deu o presente máximo: a velocidade. A velocidade no transporte da carga, a velocidade no transporte do pensamento. E que lhe dá, com os maravilhosos espetáculos da arte muda, uma lição de moral que, se fora seguida, tiraria ao Rio o seu aspecto de açougue do crime passional. O cinema americano ensina o perdão...
Entretanto, cada vez que o nosso censor deblatera contra a influência americana, os basbaques, com preguiça de pensar, murmuram em coro:
— É mesmo!
Krishnamurti
As religiões nascem, crescem, esclerosam-se e morrem. É ridículo dizer isto, porque o próprio dos truísmos é se tornarem ridículos à força de evidência.
No entanto, ao nascerem, tais truísmos provocam espanto e suscitam a mais cruel repulsa por parte das verdades de cabelos brancos, bem instaladas no oficialismo.
Os exemplos clássicos destas verdades que viram axiomas — ontem tímidas revoltosas, amanhã ferozes legalistas, são também ridículos. Tornaram-se ridículos à força de repetição, como acontece com as árias célebres, a “La donna é mobile”, por exemplo, que não perdeu a beleza, mas cansou. Por isso deixo de citar o caso de Galileu às voltas com a polícia censora da época, firmíssima na verdade oficial do sol em rodopios à volta da terra.
Ora, pois, as religiões nascem e como nascem, crescem, salvo quando nascem mortas. E, como crescem, atingem a maturidade, encruam na artério-esclerose do oficialismo e acabam agonizando às mãos de débeis religiões meninas.
Erro pensar que é a ciência que mata uma religião. Só pode com ela, outra religião.
Um período da História sobremodo interessante ao estudioso ocidental é o do choque entre o cristianismo revoltoso e a legalidade pagã. Como abundam documentos que refletem a mentalidade greco-romana durante o longo período do choque, fácil se nos torna a apreensão do quadro.
Luciano de Samosata, por exemplo, denuncia em inúmeros diálogos como estava combalida a crença nos deuses olímpicos, um século antes de Cristo.
No “Júpiter-Trágico” esse Voltaire sírio tem lanços de humor que lembram Mark-Twain ou Bernardo Shaw.
Travara-se na terra, em presença de numerosa assembléia, uma disputa entre o estóico Tímocles e o epicurista Damis. O estóico defendia os deuses e Damis os negava.
A disputa correu animadíssima e acabou interrompendo-se no meio para ser decidida no dia seguinte. Como, entretanto, a assistência se retirasse inclinada para Damis, o Olimpo assustou-se e Jove amarrou o burro. Vem Juno e indaga da causa da divina zanga. Teria acaso a Terra partejado novos gigantes que, à imitação dos Titãs, pretendessem escalar o céu?
— Nada disso, coisa muito pior! diz Júpiter. Estão lá embaixo, os homens, travados numa disputa de cujo desfecho depende a estabilidade do Olimpo. Se sai vencedor Damis, ai de nós!...
O caso foi tido como dos mais sérios, e Jove resolveu convocar todos os deuses para que, “debruçados na amplidão”, acompanhassem os debates e “torcessem” pelo paladino da boa causa.
Assim se fez. Quando, porém, os dois disputantes novamente se enfrentaram, um arrepio de pressentimento perpassou, gélido, pela espinha de Júpiter.
— Tímocles parece-me trêmulo e perturbado. Vai estragar tudo. Já vi pela cara que não pode medir-se com Damis.
E os deuses, em desespero de causa, põem-se a rezar pela vitória do campeão...
Começa a disputa. Júpiter manda que as Horas arredem umas nuvens que lhe estão tapando a vista.
Trava-se o duelo de argumentos. Damis leva o outro à parede, “dá-lhe na cabeça”, como se diria hoje, e a assistência percebe que em poucos “rounds” estará Tímocles nocaute.
Em certo ponto o estóico puxa um argumento espadagão: o fato de serem deístas todos os povos. Damis responde com o antropomorfismo e toda a bicharia ou natureza deificada: no Egito o boi, na Assíria a pomba, na Etiópia o dia, na Pérsia a água, na Pelúsia a cebola, em outros países o gato, o íbis, o cinocéfalo, o crocodilo, etc.
O deus Momus dá um aparte inquieto:
— Eu não disse, Júpiter, que os homens ainda acabavam descobrindo isso?
Júpiter, jeitoso, sossega-o:
— Tens razão, mas havemos de dar um jeito no caso.
A causa dos deuses era positivamente insustentável depois do rapto de Ganimedes e outros escândalos olímpicos, e Tímocles, falto de argumentos, resolve fazer como os Tímocles de todas as épocas: insultar o contendor e apedrejá-lo. E atira-lhe em rosto um vocabulário muito nosso conhecido: infame, desenterrador de cadáveres, esterco imundo, filho das ervas, adúltero, “cocu”, monstro de impudicícia, etc.
Os deuses regozijam-se com a “derrota” de Damis; Júpiter, entretanto, cisma:
— É, mas eu preferia ter do meu lado um Damis a dez mil apedrejadores...
Em toda a obra de Luciano o que se vê é a inquietação dos deuses em face dos progressos do epicurismo, isto é, do livre exame.
Estavam as coisas da legalidade religiosa nesse pé quando irrompe a revolta de Cristo.
O choque foi tremendo e a repressão feroz. Mas se a repressão esmaga o que resiste, nada pode contra o que não resiste. É o caso da bala que espedaça a pedra, mas morre de encontro ao saco cheio de paina.
A religião revoltosa venceu, entronizou-se, fez-se legalidade, assumiu o cetro de única verdadeira e passou com o tempo de ingênua menina a moça belicosa, e de moça a matrona inimiga de novidades. Por estas alturas é que costuma sobrevir a artério-esclerose. Os músculos emperram, as articulações endurecem, as veias calcificam-se. Em matéria de religião isto equivale a dizer que a religião se “igrejifica”, e ao invés de convencer acha mais cômodo impor uma rígida disciplina partidária. É a fase do Crê imperativo e absoluto, prenúncio de que o terreno está apto para o advento de uma religião nova.
Assistimos hoje ao belo fenômeno do choque de uma religião velha com uma religião nascente, em estado de nebulosa ainda, muito vaga e tateante, mas perfeitamente perceptível em suas linhas gerais. É o espiritismo.
Ninguém mais de boa fé, nem sequer a ciência positiva, nega as manifestações do que Crooks chama “força psíquica”. E como tudo leva a crer que essa força cresce na humanidade e cada dia que se passa mais amplia as suas manifestações, o homem volta-se para ela e inconscientemente a vai ordenando em religião.
Surgem “verdades”, cristalizam-se dogmas, uma moral viva e praticante vai-se codificando enquanto cresce prodigiosamente o número dos adeptos. Inutilmente a religião velha guerreia a nova, e de todos os seus baluartes lhe despeja em cima obuses anatematizantes. Inutilmente a ciência positiva, cansada de negar os fenômenos, resolve-se a estudá-los declarando de antemão que nada há sobrenatural nesse psiquismo.
A religião nova, em estado cósmico, segue o seu curso, indiferente à negação ou à analise. Já tem fanáticos, e terá mártires se a antagonista conseguir reacender suas fogueiras depuradoras.
Depois do espantoso abalo mental que sofreu o mundo com a guerra, e por influxo da formidável injeção de espíritos frescos com que a hecatombe enriqueceu o intermúndio astral, o espiritismo ganhou um avanço enorme.
Reflexo disso temos na imprensa. Todos os jornais abrem seções permanente às coisas do espiritismo, ao lado das seções consagradas à religião velha.
E os que o não fizeram ainda fá-lo-ão amanhã, por injunções da clientela. Editores surgem, especializados em livros espíritas — e prosperam grandemente, num país de editores ou falidos ou queixosos. Grandes nomes nas letras e nas ciências passam-se com estrondo para os novos arraiais. O espiritismo já não é um riacho. Tem tudo da onda que rola.
Para os sectários da religião anciã é isso um mal horrível. Para o filósofo não é bem nem mal. É apenas um fato. E um fato muito lógico do espírito humano.
Que é que determina o surto de uma religião? A aflição humana. A pobre humanidade sofredora — e sofre 99% da humanidade — para alívio dos seus males, apela para o céu. As formas desse apelo chamam-se religiões, e perduram enquanto funcionam como bálsamo minorador da humana angústia.
Quando deixam de o fazer, os sofredores, cheios de inquietação, agitam-se em procura de uma forma nova. E esta mata aquela.
Estamos em pleno período de entrechoque de duas formas de apelo ao incognoscível. Quanto tempo durará ele? Cem, duzentos anos? O futuro o dirá. O presente só diz que a luta está travada.
E que diz o passado, por meio de suas férreas lições? Diz que sempre vence a forma que “promete mais”. Ora, uma nos deu a imortalidade da alma, com o paraíso para a alma dos bons legalistas e o inferno para a oposição. A outra dá-nos o paraíso perto de nós; deixa-nos as almas dos entes queridos ao alcance do nosso espírito; podemos ouvi-las, receber seus conselhos, vê-las em certos casos. Não é isso o “mais” que vai decidir da vitória? Foi muito sabermos que as almas dos mortos não acabavam com o corpo; mas é muitíssimo tê-las à mão, consultáveis e manejáveis.
O homem não se conforma com a morte. Teima em não morrer. Aferra-se a todos os meios de sobrevivência, inclusive a imortalidade acadêmica. Mas já se não contenta com a imortalidade dogmática, sem prova provada. O espiritismo será a religião de amanhã porque “prova” a sobrevivência.
E tudo se precipita, no choque entre as duas religiões, para uma batalha de Waterloo, das decisivas.
No fundo da Índia, eterno ninho de religiões, um messias vem sendo criado a preceito para o grande embate. Iniciou-o Annie Besant, essa mulher-força, talvez a que mais tem influenciado cérebros de quantas mulheres apareceram no mundo a partir de Eva.
Chama-se Krishnamurti, o eleito da luz nova, e seu campo de ação vai ser imenso; abrangerá desta vez todo o mundo budista e todo o mundo cristão.
A moral da religião nova, provisoriamente denominada espírita, participará das duas mais belas morais existentes, a de Buda e a de Jesus, ecletismo que a fará superior a ambas.
Quem viver verá... e verá um dia o Krishnamurtismo vitorioso esclerosar-se em igreja, e por sua vez morrer contrabatido por uma religião que ainda prometa mais — e só poderá ser a que prometa a supressão da morte.
O “Conto do Petróleo”
O “Globo”, do Rio, publicou uma reportagem sobre a excursão feita pelos acionistas da Cia. Petróleos do Brasil às margens do Araquá, onde essa empresa está perfurando um poço de petróleo. Ao lado da notícia o vespertino carioca inseria comentários recordando a opinião sobre as nossas companhias de petróleo, dada àquela folha pela maior autoridade oficial do Brasil — o sr. Euzebio de Oliveira, diretor do Serviço Geológico Federal. “Conforme frisamos então, diz o “Globo”, esse técnico não teve dúvidas em classificar as iniciativas desse gênero entre nós como idênticas aos célebres “contos do petróleo” muito comuns na América do Norte, onde se improvisam e se desfazem grandes companhias para devorar não menores capitais de acionistas incautos”.
Realmente, o sr. Euzebio tem razão. O que andamos a organziar, nós, os petroleiros do Brasil, não passa do velho “conto do petróleo”, conhecido no mundo inteiro tanto quanto por aqui o “conto do vigário”.
Nos Estados Unidos o “conto do petróleo”, consistente em atrair dinheiro de acionistas bobos para perfurar o chão, começou a ser praticado muito cedo, logo depois da descoberta do petróleo na Pennsylvania — e a conseqüência foi que com o dinheiro assim tomado ao público os piratas abriram até hoje nada menos de um milhão de poços, dos quais jorrou, até a presente data, a brincadeira de 15 biliões de barris, no valor de 22 biliões e meio de dólares. Ao câmbio azul do Banco do Brasil isso corresponde a 292 milhões de contos de réis.
Graças à esperteza desses “contistas”, o “otário” americano, que “caiu” com o dinheiro para as perfurações, beneficiou-se com uma soma equivalente a várias vezes a riqueza nacional do Brasil — apesar de ser apenas uma parte do que essa matéria prima rendeu depois de desdobrada, pela refinação, na série de produtos sob cuja forma entra no comércio.
Para melhor realçar o fantástico desenvolvimento que tomou o “conto do petróleo” nos Estados Unidos, aqui pomos os algarismos referentes aos anos de 1929, 1930 e 1931. Unicamente nesse triênio o “célebre conto” fez resultar uma produção de 2.761.323.000 barris, no valor, ao pé dos poços, de 54 milhões de contos de réis — ao câmbio azul...
Em vista do excepcional sucesso do “conto do petróleo” entre os yankees, outros países da América principiaram a sentir coceiras, e a pedir pelo amor de Deus, que os espertalhões fossem operar em seus territórios. E os resultados da pirataria insigne não foram menores.
No México, só nesse triênio, o “conto do petróleo” deu como resultado a extração de 118 milhões de barris. O “otário” mexicano hoje esfrega as mãos e olha com muita ternura para os “contistas” que o enriqueceram.
Na Venezuela os “contistas” conseguiram perfurar poços em número suficiente para, nesse triênio, jorrarem 394 milhões de barris. O “otário” venezuelano também esfrega as mãos e lambe as unhas, sorridente.
A Colômbia quis logo entrar no bolo. Abriu a bolsa aos “contistas” e obteve em igual período uma produção de 60 milhões de barris. Ótimo! exclamou o “otário” colombiano, piscando o olho.
Depois veio o Peru. Quis da mesma forma ser “tungado” pelos “contistas do petróleo” — e conseguiu, no triênio em causa, arrancar ao seu subsolo 37 milhões de barris do precioso líquido. Magnífico! grugulejou o Peru, de papo cheio.
Lá em cima, a pequena ilha de Trinidad, invejozinha, deixou que os “contistas” viessem operar em seu exíguo território — e obteve, nesses três anos, a ninharia de 4.600.000 barris. Serviu, serviu...
O Canadá, aflito, chegou a importar da terra de Tio Sam hábeis “contistas” — e graças a eles pôde, nesse período, extrair do solo 4.300.000 barris. O rei Jorge, lá em Londres, congratula-se consigo mesmo.
A Bolívia deixou de puritanismo e entrou no jogo. Está hoje, graças ao “conto”, com os seus “otários” rejubilantes.
A Argentina foi nas águas dos demais. Importou “contistas” e deixou que operassem livremente os “contistas creolos”; tomou muito capital de acionistas incautos e já perfurou 1.600 poços, dos quais, só no período acima, obteve 28.300.000 barris, quase o bastante para o consumo nacional. Está também, essa nossa vizinha, satisfeitíssima com ser “otária” de tal “conto”. Abençoa-o.
Como se vê, na quase totalidade absoluta dos países das três Américas o “conto do petróleo” deu os melhores resultados, sendo que num deles, os Estados Unidos, contribuiu com altíssima quota para fazê-lo mais rico e poderoso país do mundo.
Emquanto todos esses países deixavam que os espertalhões aplicassem livremente o fecundíssimo “conto do petróleo”, consistente em tirar dinheiro de acionistas incautos a fim de perfurar a terra, aqui neste Brasil de imenso território, por si só quase metade da América do Sul, ficamos todos nós — quarenta milhões de bobos — assistindo, de boca aberta, à cômica aplicação do “conto do Euzebio”.
Em que consiste? Em aplicar anualmente uma verba de 2 ou 3 mil contos “na demonstração de que não há petróleo no Brasil” e na barragem sistemática dos “contistas do petróleo”. Com esse dinheiro extorquido ao povo sob forma de impostos dolosos, Euzebio diverte-se abrindo buracos de tatu nas zonas mais indicadas e dizendo: “Não há petróleo; vocês estão vendo que não há petróleo”. E se acaso um desses buraquinhos de tatu atreve-se a dar indícios indiscretos de petróleo próximo, baforando gás, Euzebio, furioso com a irreverência, tapa-lhe a boca com cimento...
Nem fura, nem deixa furar — é sua política geológica.
A desgraça do Brasil e sua derrocada financeira decorrem em grande parte disso — de Euzebio, o Todo-Poderoso, não deixar que se aplique aqui o “conto” que está a enriquecer “todos” os países da América. Mal um grupo de “contistas” se reúne para apanhar dinheiro do público a fim de perfurar (meio único que se conhece de tirar petróleo), o Cérbero de cócaras no pico do Serviço Geológico dá o grito dos gansos do Capitólio e em entrevistas aos jornais previne os possíveis “otários” contra a “marosca”. “No Brasil não há petróleo, diz ele. Eu, que sou onisciente, sei disso. Deus, o Supremo Arquiteto das Anticlinais e Sinclinais, informou-me em nota confidencial”. E o “conto” falha.
Quando o dr. Romero veio ao Brasil, contratado por uma companhia que se formou especialmente para fazer uso do seu aparelho indicador de óleo e gás, o Júpiter Tonante do Hidrocarbureto trovejou do alto da sua pilha de tamancos: “Mistificação! Ignoro tudo a respeito desse tal aparelho — mas é uma guitarra. Adivinho-o. Eu, eu, eu, eu, o Grande, o Infalível Euzebio, o juro de mãos postas sobre uma camada do Devoneano”.
Mas apesar do escabujamento délfico da Vestal Hidrocarbúrica, firmíssima no seu dogma de NÃO HA PETRÓLEO NO BRASIL, acionistas incautos apareceram, e quatro companhias aplicadoras do “conto” estão hoje a pefurar o solo com resultados já bastante promissores.
Mas Euzebio tem razão. O que essas companhias fazem no Brasil não passa de tirar dinheiro de acionistas incautos para perfurar a terra. Logo, “conto do petróleo” perfeitamente caracterizado, do legítimo, do que foi tão intensamente praticado na América do Norte. Sua maldade, porém, esconde o resto, e ele “esquece” de acentuar que justamente por ter sido já comuníssimo esse gênero de “conto” é que Tio Sam conseguiu abrir um milhão de poços e tirar de dentro deles o “big stock” com que mantém a sua hegemonia do mundo. Se tivesse havido em Washington uma Vestal Anticlínica ao tipo da nossa, com suficiente prestígio oficial para impedir a intensa aplicação do “conto do petróleo”, os Estados Unidos da América estariam hoje no mesmo pé dos Estados Unidos do Brasil — na miséria, com o serviço da dívida externa suspenso pela quarta vez, sem isca de crédito e forçado a sangrar-se fundo no bolso para a aquisição no exterior dum combustível básico que toda a América retira do seu subsolo.
Há treze anos que este senhor Euzebio mantém o Brasil no regime puritano do “dar para trás no conto do petróleo”, impedindo assim, com a sua imensa autoridade de Iluminando-que-sabe-o-que-está-escondido-lá-no-fundo-da-terra, a fecundíssima aplicação do “conto do petróleo”. Graças à sua heróica resistência contra os piratas petrolíferos, o pobre e surrado Brasil teve, só nesse período, de despender 4 ou 5 milhões de contos para a compra do que já devia estar produzindo e exportando.
Por que, santo Deus ? Qual o segredo da fúria euzebiana contra todos os que se atrevem a perfurar — isto é, “a fazer aqui o que no mundo inteiro se faz para descobrir petróleo?”
Muito simples. Euzebio dirige a seu bel prazer, e sem controle, uma gorda verba para “investigações de petróleo”, com a qual vai abrindo os seus buracos de tatu e orientando a campanha contra os “contistas”. Se vier petróleo, raciocina ele, não vem para mim — e a verba some-se do orçamento. Ora, entre o Brasil ficar com petróleo e eu sem verba, todo seria se vacilasse. A verba é uma realidade; o petróleo é uma hipótese. Viva quem quiser de hipóteses; eu vivo de realidades.
É este o “conto do Euzebio”.
Índice
Prefácio
Manuelita Rosas
O primeiro livro sobre o Brasil
País de tavolagem
O hipogrifo
Fala Jove
Uma opinião de M. Jerôme Coignard
Bacillus virgula
Idéias Russas
Doloi stid
O Drama do Brio
Literatura de cárcere
Novo Gulliver
O pátio dos milagres
Vatel
O nosso Dualismo
Herói nacional
A feminina
O bocejo de leoa
Catulo — voz da terra
Justiça Oxigenada
As cinco pucelas
A moda futura
Plágio post-mortem
Amigos do Brasil
O inimigo
A rosa artificial
O perigo de voar
Forças novas
“Em pleno sonho”
A influência americana
Krishnamurti
O “Conto do Petróleo”
Notas:
(1) De H. P., as letras simbólicas da modernidade apressada.
(2) Alusão ao grande número de prisões que caracterizou a presidência Bernardes.
Proibido todo e qualquer uso comercial.
Se você pagou por esse livro
VOCÊ FOI ROUBADO!
Você tem este e muitos outros títulos GRÁTIS
direto na fonte:
www.ebooksbrasil.org
©2003 — Monteiro Lobato
Versão para eBook
eBooksBrasil.org
__________________
Agosto 2003
eBookLibris
© 2008 eBooksBrasil.org