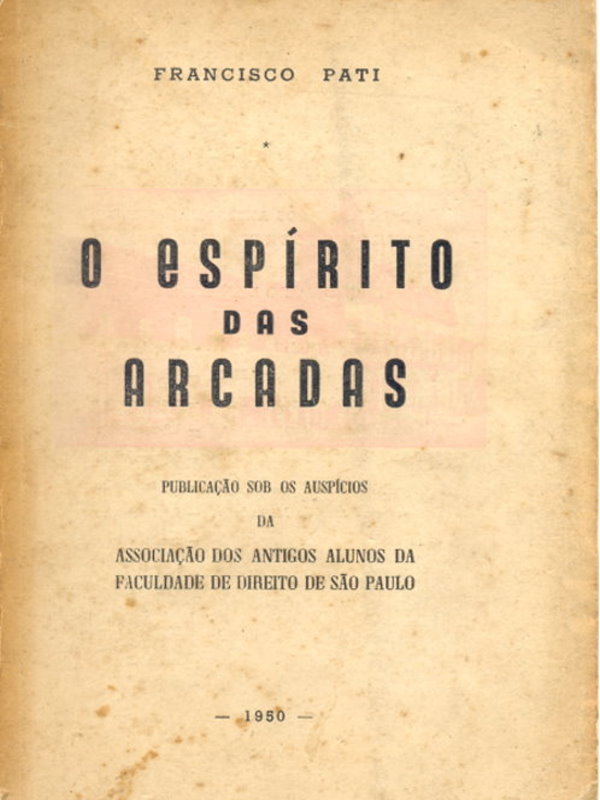
O Espírito das Arcadas - Francisco Pati
Fonte digital
Digitalização de edição em papel
Publicação sob os auspícios da
Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito de São Paulo
DIRETORIA DO BIÊNIO 1949-1950
Lúcio Cintra do Prado - presidente
Augusto Otávio de Oliveira Pinto - vice-presidente
Otávio Augusto Machado de Barros - secretário-geral
Roberto Vitor Cordeiro - 1º secretário
José Luís de Anhaia Melo - 2º secretário
Ubirajara Keutenedjan - 1º tesoureiro
Bartolomeu Bueno de Miranda - 2º tesoureiro
Dina Lisboa - sec. administ.
- 1950 -
Composto e Impresso pela Gráfica São José - São Paulo
Transcrição para eBook
eBooksBrasil
© 2008 Francisco Pati
USO NÃO COMERCIAL - VEDADO USO COMERCIAL
FRANCISCO PATI
*
PUBLICAÇÃO SOB OS AUSPÍCIOS
DA
ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DA
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO PAULO
— 1950 —
A
Antônio Gontijo de Carvalho,
meu amigo
O.D.C.
APRESENTAÇÃO
Duas palavras de apresentação — não, por certo, do autor, grandemente conhecido pelos seus títulos e méritos próprios — mas, apenas, do livro e, mesmo assim, para expor os motivos por que ele vem à luz da publicidade.
É que a atual diretoria da “Associação” julgou prestar bom serviço a muitas gerações de antigos estudantes, hoje distintos bacharéis, relembrando-lhes um largo período da vida acadêmica, através de páginas não somente evocativas, senão também documentárias e, sobretudo, fidedignas.
As crônicas de Francisco Pati revivem episódios e protagonistas que, pela tradição, abrangem algum tempo anterior ao quinquênio do seu curso jurídico e, ainda, por sua influência, alcançaram repercussão em anos posteriores.
Com efeito, “O Espírito das Arcadas” recorda figuras daquela época distante, que não tem limites precisos, projetando-as em vários acontecimentos da vida estudantil, ocorridos em São Paulo de outrora; e, isso, com um poder descritivo, que há de despertar reminiscências aos alunos de muitas turmas, as que precederam e as que se seguiram às de 1919-1923.
Ameno repositório de lembranças, ele constituirá evocação de grandes e queridos professores, bem como de estudantes daquele tempo, quando a Faculdade tinha o cenário das velhas taipas do convento franciscano, hoje substituído pelo rico edifício que é uma nota moderna na arquitetura do célebre Largo, “território livre” no chão de Piratininga.
Falar da nossa Academia desperta, sempre, um deleite indizível; qualquer mínima referência ao seu passado — o que está presente dentro de nós e nos acompanha pela existência afora — suscita na alma de todos os bacharéis o enlevo duma história, de que fomos testemunhas, atores principais ou simples observadores, com participação maior ou menor, mas, em todo caso, personagens dispostos a confirmá-la.
Para nós, falar da Academia de São Paulo é como reacender uma luz suave, nunca amortecida; é como abrir um vidro de agradável perfume, que se evola e impregna o ar ambiente, pondo-nos de pronto na memória o dulçor dos versos de Celso Augusto, que, não há muito, partiu numa das derradeiras revoadas de colegas nossos:
Saudade,
minha saudade,
único bem que me resta...
Em toda parte, em que estou,
eu sinto um cheiro de festa
— e eu sei que a festa acabou!Arcadas, na sala da “Associação”, junho de 1950.
Lúcio Cintra do Prado
presidente
Não tive a intenção de escrever um livro.
Pensei, a princípio, unicamente, em registrar episódios de que fui testemunha ou participante. A vida acadêmica, em S. Paulo, sob as Arcadas, é rica em incidentes pitorescos, uns, cheios de ardor cívico, outros, repassados de entusiasmo juvenil, quase todos. A minha geração veio a bem dizer da primeira Grande Guerra. Mas o Brasil, a despeito de sua solidariedade aos países que combatiam a Alemanha, manteve-se calmo. Provocava mais inquietação a política interna do que a nossa política externa. O único motivo de descontentamento que se ligava à Europa e ao conflito que a tinha agitado desde 1914 era a escolha do delegado brasileiro à Conferência da Paz. A mocidade acadêmica ficou com Rui.
Vivíamos intensamente a vida acadêmica.
Era ainda o tempo das “mesadas”, e, por conseguintes, das “pensões”. Muitos dos nossos colegas poderiam ter inspirado a Henri Murger as páginas da “Vida Boêmia”. Um deles, que depois foi líder revolucionário, quando mandava lavar a camisa precisava ficar em casa, fechado no quarto, porque não tinha outra para substituí-la. Outro usava sapatos sem meias. Pululavam as “repúblicas”. As redações dos jornais estavam cheias de estudantes e o jornalismo de então nada tinha de comum com o de hoje. Predominava nas folhas paulistanas a nota essencialmente literária.
Olavo Bilac, em outubro de 1915, mobilizara os estudantes de S. Paulo para a campanha em prol do serviço militar obrigatório. Seu discurso famoso na velha sala 2 fornecera aos moços o estribilho para a mobilização: “a carta do abc e o banho”. Fundou-se, então, a Liga Nacionalista, por iniciativa de Frederico Vergueiro Steidel. Os estudantes fizeram-se apóstolos. Os que não tinham jeito para discursos e conferências davam aulas nas escolas públicas primárias que a Liga mantinha nos bairros.
Foi, em verdade, o nacionalismo, a grande paixão dos moços do largo de S. Francisco, depois da exortação do cantor de “Alma Inquieta”. Queríamos uma pátria unida e próspera. Causava-nos sérias apreensões a posição que o nosso país ocupava nas estatísticas internacionais, no setor do analfabetismo. Pesavam-nos na consciência o estado de abandono em que viviam as populações do interior, privadas totalmente de assistência médica, roídas por toda a sorte de enfermidades, entregues principalmente ao curandeirismo profissional. O desgaste físico provocava a inércia cívica.
Em 1922, coube-me saudar Coelho Neto, em recepção do Centro Acadêmico “XI de Agosto”. Terminada a cerimônia, em companhia de Lúcio Cintra do Prado e Odécio Bueno de Camargo, acompanhei o romancista de “Inverno em flor” ao Hotel Regina, no largo de Santa Ifigênia, onde ficara hospedado. Tomamos um automóvel à porta da escola, descemos a rua XV e fomos desembocar no largo de São Bento, a caminho do Viaduto. Quando passávamos em frente à igreja do Mosteiro, Coelho Neto, que tomara para tema da conversa conosco o discurso de Bilac em 1915, disse-nos espetando no ar as mãos de dedos enormes:
— “Vocês, estudantes paulistas, têm aos ombros uma responsabilidade desmedida. Apavora-me a perspectiva de desagregação nacional. O Norte e o Sul desunem-se cada vez mais. É preciso represar a avalancha. Conto com os moços de S. Paulo. Não sei quantos anos tenho ainda de vida. Vocês são a última esperança da minha velhice. S. Paulo é rico e feliz. Ponha, então, toda a sua riqueza, toda a sua felicidade, a serviço do Brasil!”
Havia muita sinceridade nas suas palavras. Despedimo-nos sob o peso da maior emoção. A esperança de Coelho Neto, depositada em nós, era um estímulo e ao mesmo tempo o reconhecimento da hercúlea campanha em que nos achávamos envolvidos. Sabia o estilista inimitável do “Sertão” que estava falando aos representantes de uma geração eminentemente nacionalista.
* * *
Não tive a intenção, repito, de escrever um livro.
Tracei perfis de mestres e alunos e recolhi fatos. Mantive-me objetivo o mais possível. Não retoquei os retratos porque não pensei em ser agradável aos retratados. Não tive, mesmo, a preocupação de ser agradável. No fundo, o meu único interesse foi o de perpetuar no papel uma quadra feliz da existência. Não há vida melhor que a de estudante. Não existem outros dias tão inflamados como os que vivemos sob as Arcadas, em contato com a tradição e a lenda.
Antes de mim, outros fizeram obra mais séria.
Almeida Nogueira, por exemplo, é um nome que precisa ser citado sempre que estejam em jogo as reminiscências da vida acadêmica em S. Paulo. Sua obra intitulada “Tradições e Reminiscências”, em 9 volumes, só tem uma lacuna. Refiro-me à inexistência de quaisquer apontamentos sobre a turma de 66 a 70, a que pertenceram Rui, Nabuco, Castro Alves, Rodrigues Alves; Afonso Pena, Carlos Ferreira. Sabe-se que eles foram reunidos em volume e que os originais deste se perderam em Paris. A lacuna em todo caso existe.
O sr. Antônio Constantino, diretor da Biblioteca da Faculdade de Direito, tem suprido as deficiências de Almeida Nogueira, em crônicas na imprensa de S. Paulo sobre “a turma de Rui”. O material coligido e divulgado por ele, se reunido em livro, completaria a empresa a que metera ombros o “Doutor Fardão”. Possuindo estilo próprio e ligado como se acha à escola pela sua função, o distinto bibliotecário prestou valioso serviço às tradições acadêmicas de S. Paulo. Suas pesquisas, quase todas frutíferas, revelam paciência e amor.
Antônio Gontijo de Carvalho tem estudos sobre Rui e a Faculdade. Fez conferência sobre “Rodrigues Alves, estudante” e perfilou professores mineiros com vasto material inédito. Promoveu, além disso, a vinda de Antônio Batista Pereira a esta capital, para uma conferência sobre “Rui, estudante”. Batista Pereira fez-nos revelações curiosas, que dizem muito de perto com a história da Faculdade de Direito, no período que ficou fora do livro de Almeida Nogueira. Aliás, na obra poética de Castro Alves e bem assim na sua correspondência encontramos anotações preciosas para a história do “Velho Convento” naquele quinquênio. Em carta a Luís Cornélio dos Santos, datada de 20 de março de 1868, diz o poeta das “Espumas Flutuantes”: “Estou na Academia, ouvindo o grande José Bonifácio.”
As cartas e as poesias do imortal adolescente baiano ajudam-nos, com efeito, a reconstituir não só a paisagem da capital paulista como a atmosfera reinante na Faculdade, onde alunos e mestres competiam em erudição e talento. S. Paulo surge aos nossos olhos, através da carta a Augusto Álvares Guimarães, como uma cidade de névoas e mantilhas, cortada de ruas estreitas e escuras: “...casas que parecem feitas antes do mundo, tanto são pretas; ruas que parecem feitas depois do mundo, tanto são desertas”.
Spencer Vampré, devotado à causa da Faculdade, renovou com brilho o esforço de Almeida Nogueira. Orgulho-me de ter pertencido à turma que mais o estimulou à realização da obra de evocação e saudade. Antônio Gontijo de Carvalho e Aguinaldo de Melo Junqueira, por ele citados com agradecimento no prefácio à edição da Livraria Saraiva, perlustraram os bancos acadêmicos ao meu lado, de 1919 a 1923. Foi precisamente nesse período que Spencer Vampré revelou, em conferências no Centro Acadêmico “XI de Agosto”, as excelentes páginas de memórias do seu livro em dois volumes.
Sá Viana, em 1879, escreveu sobre os seus colegas de turma, entre os quais Pedro Lessa, Teodoro de Carvalho, Júlio de Mesquita, Bueno de Paiva, Leonel de Resende, Davi Campista, Martim Francisco. Sobre os bacharelandos de 1912, turma de Teodureto de Carvalho, Vicente Ráo, Jorge Americano, Marcelino Gonzaga, Macedo Vieira, Vicente Penteado, João Melo Franco, José Rubião e outros, existe o folheto do dr. Nardy Filho. O meu amigo Pelágio Lobo escreveu com minúcias e agrado a crônica de 1906 a 1910. Joinvile Seabra Barcelos perfilou em versos os bacharelandos de 1917. Aqui e ali, em prosa ou verso, reponta o amor à velha escola, em páginas repassadas de saudade e ternura.
Entendo que a história da vida acadêmica pode ser feita também através da biografia dos seus grandes filhos. Há umas páginas de Monteiro Lobato sobre Ricardo Gonçalves que bem poderiam ser incorporadas às nossas “tradições e reminiscências”. O “Minarete” foi, a bem dizer, um prolongamento da Academia. Outro poeta cuja obra está intimamente ligada à vida acadêmica é Batista Cepelos. Não consigo declamar os langorosos alexandrinos de “O Tietê” sem evocar S. Paulo, a Faculdade, os seus poetas e os seus boêmios:
“Muitas vezes, aqui, sob a calma divina
De um divino luar cândido como um véu.
Castro Alves, levantando a cabeça leonina,
Se punha a interpretar as estrelas do céu.”Dirijo um apelo caloroso a todos os ex-alunos. Cada um de nós tem sempre algo que contar acerca da vida acadêmica “no nosso tempo”. Contemos o que sabemos ou o que vimos. O nosso depoimento juntar-se-á ao das gerações passadas, formando com ele a história de uma escola tão estreitamente ligada à história da nacionalidade, quer no terreno da política, quer no do magistério e da literatura.
***
Nós, Bacharéis de 1923...
(Palestra realizada na Faculdade de Direito de São Paulo)
A “gripe espanhola” de 1918 foi, em toda a extensão da palavra, uma calamidade. Calcula-se em cerca de vinte milhões o número de suas vítimas. Só nos Estados Unidos, em dez meses, a partir de outubro de 1918, houve 543.452 mortes. Na Índia morreram mais de 12 milhões. A doença chegou ao Rio de Janeiro no dia 17 de setembro daquele ano, a bordo do “Demara”, procedente de Lisboa. Do Rio a São Paulo foi um pulo. Não se sabe de uma única região do Brasil que não tenha sido visitada pela importuna. O dr. Edwin O. Jordan, da Universidade de Chicago, vai mais longe: na sua opinião, não houve uma única família, em todo o orbe civilizado, que lhe não tenha pago o seu tributo.
Nós, bacharéis de 1923, calouros de 1919, pertencemos, louvado seja Deus, ao grupo que escapou da morte. E o mais curioso é que pleiteamos junto às autoridades federais de então, uma espécie de prêmio pelo fato de não termos morrido na epidemia. Quisemos ser indenizados por isso. Por sinal que a recompensa não tardou: veio sob a forma de “exames por decreto”, nos primeiros dias de 1919. O regime escolar não era igual ao de hoje: os candidatos à Faculdade de Direito precisavam submeter-se ao “vestibular” e a inscrição neste dependia da apresentação de 13 certificados de exames ginasiais.
A lei providencial dispensou-nos do exame vestibular. As portas da Faculdade escancararam-se à nossa frente. O saudoso Júlio Maia, de lápis vermelho em punho, tinha apenas o trabalho de contar os certificados: um, dois, três, quatro e assim por diante. Em pé, junto à sua secretária, nem sequer olhava para nós. Membro proeminente da Liga Nacionalista, não aprovava as excessivas facilidades em matéria de ensino fundamental. Era de ver o seu desconsolo quando o matriculando, já favorecido pela dispensa do exame de seleção, exibia, no meio dos treze certificados, quatro obtidos também por decreto!
A atitude da Liga Nacionalista contribuiu grandemente para tornar desagradável o nosso primeiro contato com a velha escola. Formaram-se dois grupos de estudantes: os que pertenciam à prestigiosa instituição de Frederico Vergueiro Steidel e que sob a inspiração deste recusavam os favores do decreto, e os que não pertenciam senão à Academia e que receberam, com hosanas, o famigerado benefício. Nós, que não pertencíamos nem a uma nem a outra, e que ainda não nos sentíamos ligados nem às tradições da Faculdade nem aos princípios da Liga, evitamos qualquer participação no dissídio. As portas da escola estavam abertas e nós nos metemos por elas, contentes de todo.
A sala de aulas do primeiro ano era a sala 2, também chamada “sala dos esqueletos” e “sala dos calouros”: dos esqueletos, por dizerem que nas suas paredes de metro e meio de largura havia padres enterrados; dos calouros, porque, sendo a maior, possuía capacidade para grande número de alunos. Achava-se situada, como todas as outras, no pavimento térreo, junto ao pátio, em frente, quase, ao corredor de entrada. Depois de transposto o saguão, o calouro ganhava o corredor e, quebrando um pouco à direita, dava logo com o Pedrão de guarda à porta.
Os calouros de 1919, quase trezentos, puseram à prova a lotação da sala 2: não sobrava sequer um banco. O bedel Pedro, o Pedrão, “mãe dos calouros”, conforme batismo dos veteranos, em pé junto à cátedra, suava em bicas, fazendo a chamada. Os nomes eram lidos duas vezes, solenemente precedidos pelo vocativo “senhor”. Eram nomes compridos, a saber: senhor Joaquim Celidônio Gomes dos Reis Filho, senhor Antônio Castilho de Alcântara Machado d’Oliveira, senhor Elias Antônio Pacheco e Chaves Neto, senhor Manuel Alves Serafim da Silva Barcelos etc. Ora, a leitura, em dobro, de mais de duzentos nomes tomava, no mínimo, quinze minutos do tempo destinado à preleção dos mestres. Esta ficava reduzida a meia hora.
O curso iniciou-se com uma aula de Direito Romano, nos primeiros dias de março. A figura do professor Reinaldo Porchat impressionava. A cátedra era alta e o imponente mestre ficava, então, lá em cima, sentado com o rosto apoiado entre o polegar e o indicador da mão direita, abertos em forquilha, o antebraço descansando na tribuna. Seus olhos brilhavam através de um “pince-nez” verdadeiramente professoral. O calor abafava. A voz fina e acaboclada do Pedrão arrastava-se como num responso, claudicando na prosódia dos nomes difíceis, como, por exemplo, os de Samuel Wallace Mac-Dowell Neto, Nerval José Nitsch Figueira, Gúdulo Bornacina, Pedro Resende Puech.
Lá fora, os veteranos apupavam-nos e ameaçavam-nos:
— Caloooooouro!
Após a chamada, o catedrático de Direito Romano empertigou-se na tribuna e ordenou-nos que nos recompuséssemos.
O verbo recompor, naquele dia, naquele sítio, naquela hora, queria dizer uma porção de coisas. Era preciso, em primeiro lugar, arrancar os paletós vestidos pelo avesso, sacudir a farinha de trigo que nos empoava, endireitar o cabelo, passar o lenço pelo rosto, calçar os sapatos. Em homenagem à turma, que era muito numerosa, em conseqüência dos exames por decreto, os veteranos trotearam-nos desde o primeiro dia. Os gritos de “queremos sangue” atroavam a sala comprida, baixa e escura.
Quando o professor Reinaldo Porchat tomou a palavra, faltava menos de meia hora para o toque da campainha tradicional.
— Meus senhores! — começou ele. — É a primeira vez, em tantos e tão longos anos de magistério, que me cabe dirigir a palavra a uma turma beneficiada por um decreto vergonhoso. Os senhores não entraram pela porta da frente, mas pela do fundo. É um péssimo começo. Não vejo diferença entre um homem que pratica um estelionato e um estudante que foge à revelação da própria inteligência pelos meios legais de aferição da capacidade individual. O governo errou, mas os senhores, endossando-lhe o erro, erraram duas vezes. Já nos fora demasiada uma calamidade: a gripe. Não havia motivo para outra: o decreto.
Os veteranos, grudados às paredes ocas da sala mal-assombrada, não nos davam tréguas.
A descompostura — seja-me permitido dizê-lo, à distância de tantos anos — empolgava-nos. O professor Porchat, notável professor de Direito Romano, era, também, notável orador. Não estávamos estarrecidos nem penitentes: estávamos entusiasmados. As palavras jorravam-lhe dos lábios em catadupas. Sim, senhor, aquilo era bonito! As formas sintéticas de falta de brio, “desbrio”, de falta de caráter, “descaráter”, de falta de lustre, “deslustre”, os adjetivos altissonantes, os substantivos preciosos, os verbos raros faziam-nos esquecer a atoarda que vinha do corredor e do pátio.
De vez em quando, um veterano semi-abria a porta, ludibriando a vigilância do bedel, encaixava a cabeça na fresta e gritava para dentro:
— Queremos sangue! Caloooooouro!
Mas nós estávamos longe. Nós estávamos muito alto, numa região de sonho, corpo e alma dependurados à eloqüência do estimado mestre, que nos descompunha a valer.
Finis coronat opus, diz um latinório muito conhecido. O final do discurso, em verdade, coroou tudo. Disse-nos o professor Porchat que, no fim de contas, como professor de Direito, lhe cabia dar o exemplo de cumprimento à lei. A lei era má, sem dúvida, mas era lei. A lei, apesar de má, criara um direito, do qual nós éramos, naquela ocasião, titulares e beneficiários. Cumpria-lhe, por isso, acolher-nos de braços abertos, com efusivos votos de boas-vindas:
— Senhores, sede bem-vindos!
As palmas tentaram abafar o barulho ensurdecedor dos veteranos, que se acotovelavam à porta de saída, à nossa espera.
O estratagema não surtiu, contudo, o efeito ambicionado. O trote foi violentíssimo. Levaram-nos para o pátio interno e dali nos conduziram, descalços, enfarinhados, vaiados, até o largo de São Francisco. Não é fácil dizer como galgamos o pedestal da estátua de José Bonifácio, rente à igreja de São Francisco, no meio de um gradil de ferro. Não é fácil, também, reconstituir os discursos que tivemos de improvisar debaixo de cacholetas, sob as risadas dos transeuntes.
II
O ano de 1919 era, sob o ponto de vista político, um ano de armistício. Antônio Carlos de Abreu Sodré, presidente do Centro Acadêmico “XI de Agosto”, representava uma candidatura de conciliação. Tinham desaparecido os partidos. A diretoria do querido grêmio trabalhava em paz, empenhada na ereção do monumento a Olavo Bilac. As sessões do Centro decorriam num mar de rosas: vossa excelência para cá, vossa excelência para lá, o ilustrado colega que me precedeu na tribuna, o querido amigo que me honra com o seu aparte — mais isto mais aquilo. O “XI de Agosto”, órgão oficial, teve calma até para sair em edição de luxo, com um “portrait” de Abreu Sodré a bico de pena, por Wasth Rodrigues...
Logo após as férias de inverno, o ambiente começou a modificar-se. Ao contrário do que sói acontecer, a turma de calouros de 1919 assumiu, no microcosmo acadêmico, papel preponderante. O vírus da gripe espanhola não nos contaminara; contaminara-nos, todavia, o da política. Antônio Gontijo de Carvalho, de um lado, Joaquim Celidônio Gomes dos Reis Filho, de outro, puseram-se em campo. O primeiro ano e o quinto eram os maiores da Academia; as turmas do meio, 2.°, 3.° e 4.° anos, eram pequenas. A nossa, a maior de todas. Apesar de calouros, éramos também estudantes. E como estudantes, membros natos do Centro, o que quer dizer eleitores.
A partir de julho, dominávamos a escola. Estimulados pela catilinária do professor Porchat, quisemos provar que a aceitação do exame vestibular por decreto não significava incapacidade para o estudo. Começaram a aparecer os “aços”. Basta dizer que um deles, Paulo Barbosa de Campos Filho, se chamou logo “Papiniano”, graças à sua prodigiosa intuição jurídica. Eles davam muito prestígio intelectual ao bando. Eram apontados a dedo. Por ocasião das provas parciais, todos nós queríamos sentar-nos perto deles, à espera de que um raio de luz, sob o pseudônimo de “apontamentos” e “notas”, iluminasse as trevas em que nos debatíamos. À entrada da sala, em tais ocasiões, havia um corre-corre desenfreado. A disposição das carteiras não permitia, entretanto, que o sol nascesse para todos, o que era, evidentemente, um desaforo, porque assim ficava desmoralizado o provérbio.
O aniversário da fundação dos cursos jurídicos, em 11 de agosto de 1919, encontrou-nos, portanto, em situação verdadeiramente privilegiada. Disputados como eleitores próximos e considerados rapazes de talento (graças, está claro, aos que o não malbaratavam nas sessões cinematográficas do “República”, nem nos “cafés” do “triângulo”), tomamos conta da festa comemorativa. Cássio Egídio de Queiroz Aranha, logo pela manhã, apareceu de fraque na Faculdade. Jogou futebol de fraque no Parque Antártica. Voltou de fraque para a cidade, encarapitado no alto de um bonde, a segurar a alavanca. Sua voz fanhosa entoava aquela cantiga em que as rimas em “ático”, “ético”, “ítico”, “ótico” e “útico”, davam nos nervos da gente.
Os “aços” mostravam-se solenes nas suas expansões de júbilo. Mas a turma era muito rica em tipos. Havia nos lábios de Artur Tarantino um permanente sorriso de desafio à vida. Albertino de Castro, cognominado “o Monsenhor”, distribuía indulgências, em latim de igreja, aos pecadores do Velho Convento. Antônio Campos de Oliveira, com a vocação da concórdia, doce nas palavras e nos gestos, desfazia equívocos, semeando cordialidade. Gilberto Vidigal, grande ledor de Vieira e de Rui Barbosa, tinha suavidades de pregador evangélico. A irreverência encarnava-se em Paulo Whitaker. Roldão Lopes de Barros, pedagogo emérito, os bolsos do paletó transformados em bibliotecas circulantes, pontificava entre ex-discípulos. José Hildebrando da Silva Leme, às voltas com apostilas, suportava superiormente, com bastante elegância, um título nobiliárquico obtido durante uma preleção do professor Spencer Vampré, na cadeira de Direito Constitucional, sobre condecorações. Carlos Monteiro Brisola e Francisco Pati, os jornalistas da turma, exibiam com satisfação nos olhos tresnoitados, o prestígio das médias chocolatadas com pão petrópolis, em madrugadas boêmicas. Leonardo Pinto, jovial e franco, tinha sempre uma nova edição de “Verbos franceses” para oferecer aos amigos.
Os poetas não eram em grande número, posto não fosse intenção dos entusiásticos rapazes desmentir o conceito segundo o qual, aos dezoito anos, somos todos poetas no Brasil. Eu era, nesse assunto, o mais desembaraçado, porque não me limitava a fazer versos: publicava-os. Convidado por Jairo de Góis, então bacharelando, para servir-lhe de secretário na direção de uma revista humorística, intitulada “O Pimpão”, lembro-me de que me vali bastante das páginas desta para propaganda política no Centro “XI de Agosto”, em favor do candidato à presidência, em 1920, Soares de Melo, hoje professor de Direito nesta Casa, competidor, naquelas eleições, de Alcides de Araújo Sampaio, advogado ilustre na comarca de Ribeirão Preto.
III
As eleições de 19 de novembro de 1919, foram disputadíssimas.
O Centro “XI de Agosto” tinha sede numa sala de aula no pavimento térreo, junto à calçada do largo de São Francisco, à direita do “hall”. À direita, ficava a sala do grêmio; à esquerda, a “sala de armas”. Em frente à “sala de armas”, num pátio interno, entre o corredor que dava para a rua Cristóvão Colombo e a sala 3 — o túmulo de Júlio Franck. As janelas do Centro eram tão baixas, para o lado da rua, que os acadêmicos dificilmente se serviam da porta para entrar ou sair. Entravam ou saíam pulando as janelas.
Soares de Melo perdeu por meia dúzia de votos, se tanto. A primeira apuração — contagem dos envelopes, conforme praxe então adotada pela mesa — dera, no entanto, a vitória ao nosso candidato (digo nosso porque Soares de Melo reuniu, em torno do seu nome, em 1919, quase toda a nossa turma). Ao ser anunciado o primeiro resultado, fomos ao encontro do candidato vitorioso, içamo-lo aos ombros e saímos com ele através do largo de São Francisco, até à Livraria Acadêmica. Uma banda de música, postada nas proximidades, executava a marcha da vitória. Rojões espoucaram no ar. Hurras, pique-piques, vivas, morras, tudo era pretexto para tradução de júbilo.
A segunda apuração, — contagem das cédulas, conforme praxe também adotada pela mesa, — deu a vitória a Alcides de Araújo Sampaio, por poucos votos, meia dúzia ou pouco mais de cédulas de Alcides metidas em envelopes do Soares. A reviravolta desnorteou-nos. Houve discussões, brigas, como resultado da satisfação dos partidários de Alcides de Araújo Sampaio e do desapontamento dos partidários de Soares de Melo. O saudoso Agenor de Urbina Teles, então no último ano, isto é, nos últimos dias do curso, ao ser cantada a vitória de Alcides, tomou de uma estatueta do Barão do Rio Branco, pousada à mesa do Centro, e arremessou-a, com estrépito, para o fundo da sala, em direção a um armário de guardar papéis e livros, simulacro de almoxarifado.
Daí por diante, a política cindiu-se. Não houve mais unanimidade no seio da turma. Joaquim Celidônio Gomes dos Reis Filho passou a chefiar um grupo; Antônio Gontijo de Carvalho, outro; Antônio Campos de Oliveira, que desde os primeiros contatos, se revelara apaziguador e tolerante, não teve mãos a medir, nunca mais, em estratagemas destinados a reatar simpatias interrompidas. Sua função de anjo-da-guarda não lhe deu descanso. Aliás, fomos nós que não lhe demos descanso, visto como a questão política assumiu proporções absurdas. Tão absurdas que os ressentimentos a que dera causa preponderaram no segundo semestre de 1923, quando cogitamos de festas de formatura, escolha de paraninfo, missa, retrato e quejandos.
Em 1923, éramos, ao todo, 113 acadêmicos; noventa ou noventa e tantos tinham ficado pelo caminho. Se dividirmos 113 por dois, teremos, se não exatamente, quase exatamente, o número de bacharelandos que coube a Estêvão de Almeida paraninfar, e o que coube a Pacheco Prates. Houve duas colações de grau: uma no dia 17 de dezembro, outra no dia 19. Tivemos duas missas e dois quadros. E dois oradores também!
IV
O caso dos oradores é hoje, à distância de vinte anos, engraçado e ridículo, ao mesmo tempo.
Eu pertencia à turma que deveria ser paraninfada por Pacheco Prates e que tinha como orador oficial Gilberto Vidigal. No dia da colação, 19 de dezembro, lá comparecemos, de fraque e cartola, às 3 horas da tarde, na antiga “sala das becas”, onde o paraninfo e as nossas famílias nos aguardavam. Combinara-se, de véspera que depois de carimbado o último bacharelando da turma, Gilberto Vidigal pediria a palavra e ali mesmo, em pé, os bacharelando em roda, deitaria o verbo, lendo a oração que deveria ser escrita ao sabor de Vieira e de Rui Barbosa.
Havia no pequeno recinto, além do paraninfo, além das nossas famílias, além de outros professores e de uma porção de fotógrafos, numerosos bacharelandos da outra turma, isto é, — da turma que colara grau dois dias antes, a 17 de dezembro, — grau simples, sem fraque, sem cartola e sem discursos, com assistência, apenas, do paraninfo, que era o grande Estêvão de Almeida. Aquilo se nos afigurou um gesto elegantíssimo. Era sinal (pensávamos nós, com os nossos botões) que a responsabilidade do diploma agira beneficamente sobre o espírito dos colegas e que estes estavam resolvidos a pôr um termo na desarmonia, voltando às boas conosco.
Começou, então, a festa. O fraque e a cartola, as famílias, os mestres, os fotógrafos davam solenidade ao ato e este passava, assim, de colação simples a colação solene. Só estavam faltando as autoridades, a banda da Força Pública e os vestidos compridos das senhoras.
O professor Pacheco Prates, emitindo as palavras dificilmente através da bigodeira branca, foi-nos chamando um a um. À medida que nos aproximávamos dele, colocava com a esquerda a borla na nossa cabeça, apertava com a direita a nossa mão direita e ia recitando conosco o juramento. Estrugiam palmas. Algumas lágrimas corriam pelas faces de mães e noivas. O novo bacharel ia de braço em braço. Lá pelas tantas, quando se acercava do lugar onde pontificava o paraninfo, o último bacharelando da turma, Gilberto Vidigal, empurrado por nós, avançou para a frente. A turma, já prevenida, rodeou-se. Pacheco Prates, também, já ensinado pelo Ildefonso (o Antônio Ildefonso da Silva Júnior, bacharelando de 1923, que gostava tanto do Pachecão a ponto de o imitar na bondade e no amor ao estudo). Pacheco Prates empertigou-se e fez um grande esforço para ouvir.
Gilberto puxou o calhamaço do bolso interno do fraque, enxugou o suor e começou:
— Prezados colegas, ilustrado mestre e paraninfo, minhas senhoras e meus senhores...
Não pôde prosseguir. A turma do dia 17, obediente a um comando único, prorrompeu em vivas e de mãos em concha batia palmas alucinantes. Gilberto esperou. Restabelecida a calma, pediu de novo a palavra e começou:
— Prezados colegas, ilustrado mestre e paraninfo, minhas senhoras e meus senhores...
Novas palmas, estas mais atroadoras que aquelas. Nova interrupção por parte do orador. Nova situação de estupor em toda a assistência. Mas o barulho amainou, a ordem foi reconstituída e Gilberto, já suando em bicas, voltou à carga:
— Minhas senhoras...
Aí as palmas não serenaram mais. O professor Pacheco Prates sorriu paternalmente e disse aos ouvidos de Antônio Ildefonso da Silva Júnior algo que não ouvimos. Gilberto reembolsou o calhamaço e nós debandamos, perdendo, por essa forma, nova ocasião de ouvir, num Português de Vieira e de Rui Barbosa, palavras de amizade e de carinho.
V
Rui era, em verdade, o ídolo da nossa geração. No dia 1.° de março de 1923, ao chegar a esta Capital a notícia do seu falecimento na Capital da República, o presidente do Centro “XI de Agosto”, Aguinaldo de Melo Junqueira, constituiu uma comissão de acadêmicos para completar a grande embaixada de estudantes paulistas que deveria representar-nos nos funerais do grande brasileiro. A Faculdade de Medicina designara cinco de seus alunos; a Escola Politécnica, idem. Aguinaldo de Melo Junqueira não hesitou em lhes seguir o exemplo. Foram convidados: Aguinaldo, como presidente do Centro; Francisco Ribeiro da Silva, Antônio Gontijo de Carvalho, Clóvis Cordeiro e eu, bacharelandos; Odécio Bueno de Camargo e Francisco Franco de Abreu, de outros anos, também se incorporaram à comitiva.
Tratamos, incontinenti, de arranjar passe. Fomos, então, a Alarico Silveira, secretário do Interior:
— Senhor secretário, — disse-lhe Aguinaldo de Melo Junqueira — o falecimento de Rui cobre de luto a nação inteira, mas a Faculdade de Direito de São Paulo, de que ele foi o maior dos filhos, chora uma perda irreparável. Resolvemos, por isso, embarcar hoje mesmo para o Rio e tomar parte em todas as homenagens que lhe forem prestadas.
Alarico Silveira aplaudiu-nos. Era isso mesmo, — disse. A velha Academia estava de luto. A iniciativa dos estudantes era uma prova de que sob as Arcadas ainda se cultuava a memória das glórias nacionais. Parabéns, parabéns, aos moços. O Brasil não era, naquele momento, tão rico em filhos da têmpera de Rui, que pudesse desinteressar-se pelo infausto acontecimento. A hora era grave, o espírito revolucionário começava a manifestar-se aqui e ali, a responsabilidade de São Paulo era enorme, etc, etc. De repente, como querendo encerrar a entrevista, levantou-se e perguntou-nos:
— A que horas os senhores embarcam?
Respondemos que pretendíamos embarcar no primeiro noturno.
— Pois o governo do Estado — disse — far-se-á representar no embarque da delegação acadêmica paulista.
Diante dessa declaração categórica, uma de duas: ou nos contentaríamos com os elogios e, reduzindo o número de componentes da caravana, viajaríamos por conta própria, ou daríamos ao ilustre titular, lealmente, conta do principal objetivo da nossa visita. Foi o que fizemos. Alarico Silveira explicou, porém, que por determinação do sr. Washington Luís, presidente do Estado, estavam suspensos os passes. Podia, quando muito, auxiliar-nos com quinhentos mil-réis.
Saímos com os quinhentos mil-réis no bolso e na esquina da rua Anchieta fizemos uma repartição fraternal: cem mil-réis para cada um. Fomos à Estação da Luz e adquirimos as passagens, cada uma das quais nos custou, se não me falha a memória, sessenta mil-réis, — só a ida. De regresso à cidade, despedimo-nos, marcando encontro, novamente, na estação minutos antes da partida. Os quarenta mil-réis restantes, somados a mais alguma coisa que conseguíssemos arranjar, dariam de sobra para dois dias de estada na Capital Federal. No Rio — pensamos — obteríamos passe de volta, por ser paulista o ministro da Fazenda de Artur Bernardes, o sr. Rafael Sampaio Vidal.
Os jornais cariocas tinham chegado a São Paulo, naquela manhã, tarjados de preto. As manchetes, em letras garrafais, diziam isto: “Pesado luto envolve a Capital da República. Os lampiões estão cobertos de crepe. Compunção e tristeza por toda a parte.” Metemos, então, um terno preto, de casimira, camisa engomada, colarinho duro, gravata preta e levamos, numa pequena pasta, apenas objetos de “toilette”. Descemos na Estação Pedro II com uma fisionomia que convinha ao luto da cidade: fisionomia de enterro. Já depois de Barra do Piraí, entretanto, o calor de março começara a torturar-nos. O terno preto, a camisa de peito duro, o colarinho engomado eram instrumentos de martírio. Demos, na estação, ao motorista, o endereço do Rio-Palace-Hotel, um dos pioneiros, na Cidade Maravilhosa, dos quartos com banho, café da manhã e sem comida.
O enterro de Rui estava marcado para quatro horas da tarde. Como jornalista, lembrei-me de sugerir uma visita à “Agência Americana”, dando conta da nossa missão. Carvalho de Azevedo acolheu-nos afavelmente. Desejou saber o que pretendíamos fazer.
— Daqui a pouco, — respondeu um de nós — visitaremos o corpo do grande brasileiro na Biblioteca Nacional e à tarde compareceremos aos funerais, depositando uma coroa sobre o esquife.
— Quais os dizeres da coroa?
Nós levávamos, de fato, um pouco de dinheiro para a coroa: cerca de duzentos e cinquenta mil-réis. Ainda não tínhamos tido tempo, todavia, de pensar nem no tamanho, nem nos dizeres dela. Improvisamos, por isso, ali mesmo, uma legenda. Carvalho de Azevedo chamou, então, um dos redatores da “Americana” e ordenou-lhe que transmitisse para S. Paulo, pelo telefone direto, a notícia da nossa chegada áo Rio, da nossa visita à “Agência” e das homenagens que projetávamos a Rui Barbosa, inclusive a coroa.
Na Biblioteca Nacional o espetáculo era em verdade imponente. O grande “hall” de entrada fora transformado em câmara ardente e o esquife de ébano, no meio do salão, colocado sobre um estrado muito alto, guardava os sagrados despojos. À direita e à esquerda do “hall”, dois grandes salões estavam cheios de coroas. Havia-as de todos os tamanhos e de todos os feitios. Só podiam ver-se, porém, as da família, do Estado da Bahia, da Presidência da República, do Senado Federal e da Câmara, do governo e da Faculdade de Direito de São Paulo. Todas as outras não eram mais do que um montão de flores: nem os dísticos estavam à mostra. E a nossa, perguntamos, mudamente, um ao outro — onde iria ficar? Como era possível arranjar-se, ali, um lugarzinho condigno para a nossa modesta coroa de duzentos e cinquenta mil-réis?
Era quase meio-dia quando batemos à porta de uma floricultura. Cruel decepção: não existiam mais coroas de flores naturais ou artificiais em todo o Rio de Janeiro! Que fazer? O melhor que tínhamos a fazer, naquela hora, era conseguir mesa na “Brahma”, junto à Galeria Cruzeiro, almoçar e beber chopes. O mau funcionamento do nosso cérebro devia ser conseqüência do calor asfixiante, mesmo porque nós éramos, na Capital do Brasil, os únicos cidadãos de preto e de colarinho duro. De luto, na realidade, só estávamos nós e os lampiões da avenida Rio Branco, da praça Marechal Floriano e do Passeio Público.
O almoço esteve à altura da nossa decepção, do nosso calor e da nossa fome. Em lugar de dois dias, teve o Rio a satisfação de hospedar-nos quase uma semana. Em São Paulo, já reintegrados no meio acadêmico e no “struggle for life”, corremos às coleções dos jornais. Lá estava, em grande relevo, a notícia das homenagens dos estudantes de São Paulo ao grande morto. Lá estava, principalmente, a legenda da coroa!
VI
Entre os componentes da turma de 1919-1923, o sentimento de solidariedade, muito forte, manifestava-se, não raro, sob forma jocosa.
Lembro-me de que nos coube inaugurar, no fim da avenida Paulista, a cavaleiro do vale do Pacaembu, o monumento a Olavo Bilac. O orador oficial saiu do nosso meio. Sucedeu, porém, que o ato se revestiu de uma solenidade com a qual não contávamos. O governo do Estado, tendo à frente o sr. Washington Luís, compareceu em peso. Compareceram também da. Cora Bilac Guimarães, saudosa irmã do excelso poeta, e seu marido, o não menos saudoso sr. Alexandre Lamberti Guimarães. Armou-se no extremo daquela via pública, na esquina da rua Minas Gerais, um coreto para autoridades, convidados e comissão acadêmica, inclusive o orador.
Em toda a extensão da avenida, desde o “Trianon” até o monumento, de lado a lado, soldados da Força Pública e alunos de escolas primárias e secundárias. Os convidados desciam do automóvel no “Trianon” e faziam o resto do percurso a pé, de cabeça descoberta. Traje de rigor: fraque e cartola. Só obtinha ingresso no coreto quem estivesse de fraque e cartola. À última hora, no entanto, descobriu-se que o orador oficial não tinha nem uma coisa nem outra. Que fazer? Ocorreu-nos bater à porta do Mascigrande. O Mascigrande queria muito dinheiro pela indumentária. Vendo o orador em apuros, Clóvis Cordeiro saiu generosamente a socorrê-lo:
— Cartola, eu creio que arranjo. Ou, melhor, eu arranjo claque. Será que não serve?
Serviu. Mas ficaram faltando o fraque e a calça listrada. O providencial Antônio Campos de Oliveira entrou com ambas as coisas. O orador levou tudo para casa. Ao vestir-se, verificou, primeiro, que o fraque era grande demais, principalmente as mangas; segundo, que o diabo da claque, ao contrário, era pequena: não lhe entrava na cabeça. Tratava-se, aliás de uma relíquia da família e contava, seguramente, naquele ano de 1922, cerca de meio século de existência.
Antônio Gontijo de Carvalho encontrou solução para o impasse.
— Você, — disse-me ele — desce do automóvel e atravessa a avenida de claque na mão. Quanto às mangas do fraque, nada mais fácil: você encolhe os braços ou, então, mete as mãos nos bolsos da calça.
— Bonito. Se ponho as mãos nos bolsos da calça, com que mão segurarei a claque? Tem que ir na cabeça. — obtemperei.
Felizmente, correu tudo mais ou menos bem. Durante o discurso, a claque-relíquia de Clóvis Cordeiro teve uma honra com a qual não sonhara: esteve o tempo todo às mãos do dr. Abelardo Vergueiro César, secretário da Liga Nacionalista. Eu, em todo caso, não podia fazer muitos gestos: segundo os movimentos, as mangas do fraque ultrapassavam os punhos da camisa e iam cobrir o papel na mão direita. Mas o discurso foi proferido e a estátua entregue ao público. Hoje não se conserva memória nem do discurso nem do monumento: ambos desapareceram.
VII
A turma, já o disse, era enorme. Às vésperas de eleições, tornava-se maior. Colegas que moravam no interior apareciam sob as Arcadas com um arzinho ressabiado:
— Você, por aqui? Quando chegou?
— Cheguei ontem. O Gontijo chamou-me.
Os dois ilustres chefes políticos viviam com a “lista geral” à mão e conheciam os estudantes da Faculdade um por um: onde moravam, o que faziam, do que gostavam. Assim que os eleitores do interior apareciam, os chefes não os largavam mais. Os chefes possuíam uma porção de cabos e estes, nos impedimentos daqueles, vigiavam os ádvenas. Os “cafés” eram os nossos pontos de reunião. Havia um “café”, a bem dizer, para cada grupo político. Sabia-se das preferências e idéias políticas dos estudantes pelos “cafés” que freqüentavam. Até isso não escapava à perspicácia de Joaquim Celidônio e Antônio Gontijo de Carvalho.
Poetas, escritores, filólogos, pedagogos, sociólogos (a Sociologia não estava ainda muito em moda), filósofos, jurisconsultos, — havia um pouco de tudo na turma. Antônio de Alcântara Machado, João Batista Marques da Silva, Luís Nogueira Martins, Osvaldo Rodrigues Dias, Elias Pacheco Chaves, Paulo Machado de Carvalho, formavam um bloco à parte: eram os requintados, sob o ponto de vista literário. Antônio de Alcântara Machado já denunciava um temperamento forte. Os jurisconsultos, isto é, os que revelavam excepcionais aptidões para as letras jurídicas, e mesmo para a advocacia de gabinete, eram Paulo Barbosa de Campos Filho, Eduardo e Olímpio Carr Ribeiro, José Hildebrando da Silva Leme, José da Costa Machado de Sousa, Antônio Ildefonso da Silva Leme, Teotônio Monteiro de Barros Filho. Filólogos: Gilberto Vidigal e Leonardo Pinto. Escritores, uma porção deles. Sociólogos e políticos: Celidônio, Gontijo e Rui de Azevedo Sodré. Francisco Ribeiro da Silva era o grande pianista.
Nem todos continuaram na vida prática as inclinações que manifestaram na vida acadêmica. Nem todos seguiram a mesma profissão. A poesia de Olímpio Carr Ribeiro passou de satírica a verdadeiramente sentimental: confirma a observação um formoso poema de sua autoria, integrado no espírito das comemorações desta noite:
Há vinte anos atrás, alegres e fagueiros,
entrávamos o lar da velha Faculdade;
regressando hoje aqui, meus caros companheiros,
eu sinto regressar convosco à mocidade.
E vejo que cada um de vós encontra, ufano,
através do calor das efusões sinceras,
aquele riso bom do tempo do Herculano,
aquele riso bom das 20 primaveras.É pena que não possamos, hoje, sob este teto acolhedor e amigo, convidar o saudoso Pedrão para “fazer a chamada” dos alunos de 1919 a 1923. Se ontem as palavras do querido bedel se lhe engrolavam na boca, diante de nomes tão compridos e tão difíceis, hoje, à distância de vinte anos, a sua voz seria embargada pela emoção, à vista dos claros que a morte abriu nas nossas fileiras. Virgínio José de Alencar, Francisco do Nascimento Pinto Júnior, Antônio de Alcântara Machado, Luís Nogueira Martins, Gustavo Ribeiro de Mendonça, José Carlos Siqueira, Edmundo de Castilho, Tomás Galhardo Júnior, Aarão Seabra Barcelos, Alfredo Guedes Lopes e Adolfo Guimarães Correa, — esses não responderiam “presente”. Foram-se. Fazem companhia, a estas horas, aos queridos mestres cujos panegíricos ouvimos, inda há pouco, da boca de tão distintos componentes da turma que entrou nesta Faculdade ao som de uma tremenda descompostura do catedrático de Direito Romano, colou grau debaixo de vaias, mas abriu caminho na vida por entre aplausos, posto que, não raro, através das maiores dificuldades.
A experiência foi mais forte que as ilusões da mocidade. A experiência da vida uniu-nos. A mocidade parecia querer convencer-nos de que o mundo era pequeno demais para a nossa ambição e sonhos de conquistas. Ensinou-nos, no entanto, a idade madura, que só é pequeno, com efeito, o tempo de que dispomos para as alegrias da afeição, da solidariedade e do coleguismo.
O Espírito das Arcadas
Recordo-me das famosas preleções de Herculano de Freitas, na Faculdade de Direito de S. Paulo, sobre o problema da intervenção federal nos Estados. Isso me aviva a saudade da sua inteligência e da sua figura. Que faz — pergunto, ansioso, — o nosso “Velho Convento”, que não trata de recolher as anedotas em que o querido mestre aparece como protagonista?
Um livro ainda sobre Herculano de Freitas, professor e político, seria um dos capítulos mais interessantes da história de São Paulo e do Brasil. Temos tido homens muito inteligentes e espirituosos, tão inteligentes e espirituosos como Herculano de Freitas. Mais do que ele, não. Não há homens mais brilhantes do que o famoso genro de Francisco Glicério. Inteligência e cultura, talento e graça, ironia e piedade, eis aí os elementos que entravam na formação da sua complexa e simpática personalidade.
Como diretor da velha e querida escola do largo de São Francisco e professor catedrático de Direito Constitucional, cabia-lhe presidir, por ocasião dos exames finais, à banca do 1.° ano, ao lado de Reinaldo Porchat e João Arruda. Ao contrário de todo mundo, porém, Herculano não se sentava: esparramava-se na cadeira. Afundava. A tal ponto que a cabeça quase desaparecia da mesa e as pernas, por sua vez, quase tocavam as do examinando, no outro lado. Sua posição contrastava com a de Porchat, ereto como um verso parnasiano, e a de João Arruda. Este fazia-nos pensar na cegonha de Aníbal Teófilo, a que vivia debruçada “sobre a dúvida eterna de si mesma”.
Certa vez, no dia do exame final, apresentou-se perante a banca do primeiro ano, um dos maiores boêmios de São Paulo, figura indispensável nos cabarés da cidade, onde dançava tangos “a media luz”. Na véspera, altas horas da noite, por um desses azares que costumam acontecer na vida dos estudantes de Direito, o calouro tinha-se encontrado com o catedrático de Direito Constitucional numa daquelas casas. Ele ia entrando e o mestre saindo. Já era tarde. O mestre, político prestigioso, saía em companhia de outros próceres paulistas. O calouro viu-o e quis esconder-se. Herculano percebeu o estratagema do rapaz e deu-se pressa em cumprimentá-lo, chamando-o pelo nome:
— Boa noite, “dr.” Fulano! — disse dirigindo-se a este.
No dia seguinte, logo pela manhã, o exame. Exame com Herculano de Freitas. Estava perdido!
O saudoso catedrático, a horas tantas, chamou o boêmio. Este apresentou-se constrangido e tímido. “Tire o ponto”. Tirou o ponto. “Vá para a mesa do pensamento”. Foi para a mesa do sacrifício. Daí a 10 ou 15 minutos, a prova decisiva. “Exponha o seu ponto”, disse-lhe Herculano, quando chegou a vez do Direito Constitucional. O rapaz sabia muito pouca coisa sobre a matéria sorteada. Achava-se além do mais sob a impressão do malfadado encontro da véspera, à porta de uma elegante casa de diversões. O pouco que sabia não conseguia tomar forma no seu espírito. Fugiam-lhe as palavras.
Herculano de Freitas esperou alguns minutos. Tomou depois a palavra. Disse em voz alta, forte e bem timbrada:
— Vejo que o senhor está nervoso. Devo dizer-lhe, em todo caso, que não existe razão para isso. O senhor é um moço estudioso. Ainda ontem à noite, tive o prazer, como seu professor e amigo, de encontrá-lo à porta de...
Parou. O estudante suava frio. Muitos colegas do examinando conheciam a história do encontro e divertiam-se a valer com as suas atrapalhações. Herculano debruçou-se à esquerda, pôs a mão direita em concha no ouvido do professor Arruda e segredou-lhe algo. Debruçou-se depois à direita, pôs a mão em concha no ouvido do professor Porchat e segredou-lhe algo. Virou-se finalmente para o jovem. Este aguardava uma tremenda descompostura.
Herculano concluiu a frase:
— ... à porta de uma biblioteca. Sim, de uma biblioteca pública. O senhor deve estar muito preparado.
A gargalhada foi geral. Todo o mundo riu, inclusive os dois ilustres companheiros de banca examinadora, que esperavam tudo, menos aquela “trouvaille” do grande mestre da ironia.
* * *
Por ocasião de um concurso para professor catedrático da Faculdade de Direito de São Paulo, as simpatias dos estudantes voltaram-se para o lado de um candidato que parecia representar na ocasião o oposicionismo em luta contra o situacionismo. Foram dias memoráveis de agitação e indisciplina, principalmente porque quase todas as simpatias da Congregação pareciam voltadas para o lado contrário.
No dia em que se anunciou o resultado do concurso, os estudantes, comprimindo-se junto à antiga sala n.° 3, também chamada “sala do 3.° ano”, a primeira à esquerda, no corredor interno, junto às Arcadas, aguardaram a saída dos mestres. Estes já sabiam o que os esperava lá fora. Saíram, não obstante, de cabeça erguida, entrincheirados na tradição e no prestígio das suas vestes talares. À frente deles, de beca ao vento, o eterno charuto ao canto da boca, Herculano de Freitas.
Assim que Herculano de Freitas apareceu, a estudantada começou a vaiá-lo. Uma vaia estrepitosa, ensurdecedora, tremenda. Uma coisa do outro mundo. Herculano, imperturbável, atravessou a onda rumorejante, que abria alas à sua passagem. Chegou até o pequeno saguão de entrada, junto às escadas que davam acesso ao primeiro andar. Subiu os primeiros degraus de uma delas, sempre debaixo de vaia. No quinto ou sexto deteve-se. Segurou o charuto com a mão esquerda. Endireitou a beca. Disse, olhando para baixo, para os estudantes:
— Antigamente, esta escola era um viveiro de poetas. Hoje...
A estudantada parou para ouvir as primeiras palavras do notável tribuno, cuja eloqüência exercia sobre ela um fascínio singular. Vendo, porém, que o grande político fizera uma pausa, redobrou os apupos. Os assobios cortavam o ar como chicotadas. Herculano concluiu:
— Hoje, é um ninho de pardais.
Muitos aplaudiram-no. Ninguém mais pensou, a partir desse momento, nem no concurso, nem no candidato classificado, nem nos candidatos preteridos. A serenidade, a presença de espírito, a graça e o talento de Herculano de Freitas reconciliaram os estudantes com a Congregação. A expressão “ninho de pardais” agradou aos rapazes. Só a Herculano poderia mesmo ter ocorrido a imagem. Os pardais do jardim do Anhangabaú, junto à estátua de Carlos Gomes, não fazem mais barulho do que fizeram os acadêmicos naquele ano, ao tempo do concurso a que me reporto.
Certa vez, um profissional de comícios políticos ouviu dizer que os estudantes de Direito, insuflados pelo “Correio Paulistano”, pretendiam perturbar o seu “meeting” na praça Antônio Prado.
A praça Antônio Prado era a bem dizer o centro cívico de São Paulo. Nela se achavam instaladas as redações dos principais jornais de S. Paulo, a começar pelo “Correio Paulistano”. Nela se realizavam todas as manifestações políticas. Os oradores da oposição estavam certos de que em realizando comícios aos pés do “Correio”, que era o órgão oficial do P. R. P., os estavam realizando aos ouvidos do próprio governo. Então, o tal orador independente foi pedir garantias a Herculano de Freitas, que era, na ocasião, secretário da Justiça.
— Pois não. O governo garantirá ao senhor o direito da palavra. Mandarei um soldado à hora do comício.
— Um soldado, doutor? Um soldado é pouco — exclamou o suplicante. — Preciso, no mínimo de 60 praças.
Herculano de Freitas levantou-se, estendeu a mão ao orador e acompanhando-o até à porta da rua, disse-lhe:
— O governo dá-lhe garantias e não auditório...
Quanta coisa, como se vê, não se está perdendo, mantida apenas, como o vem até agora, pela tradição oral. Conviria, portanto, recolher tudo quanto se refere à vida e à obra do ilustre político e professor, a fim de compor com ele, sobretudo, uma antologia da graça e do bom humor.
* * *
Herculano de Freitas exerceu as funções de ministro da Justiça no governo do marechal Hermes.
Não foi um período de absoluta tranqüilidade. Muito pelo contrário, a agitação política dos dias de propaganda continuou a dividir os homens em “hermistas” e “civilistas”. A fórmula “civil e paulista”, que depois de 1930 estaria tão em voga no Estado de São Paulo, não foi mais do que uma paráfrase da que os “civilistas” tinham desfraldado naquele tempo, por todo o país. Tornou-se um tabu o “civilismo”, graças, aliás, ao prestígio de Rui Barbosa, vencido pela fraude nas eleições de março de 1910.
Uladislau Herculano de Freitas atravessou o inquieto período presidencial sem sofrer o menor arranhão em seu prestígio de político e de professor. Apesar das intervenções federais nem sempre felizes (ou nem sempre necessárias), praticadas pelo governo Hermes, chegou ao fim da missão que lhe tinham posto aos ombros. Pertencia ao número, dia a dia, menor, de homens que engrandecem as posições que ocupam: não dos que à custa delas se engrandecem e às vezes se locupletam. É possível que a amizade pessoal de Pinheiro Machado tenha influído na escolha do marechal. A verdade, porém, é que Herculano era uma personalidade. Tinha nome próprio. Levou a sua personalidade e o seu nome para a pasta.
Encerrado o quadriênio de Hermes da Fonseca, voltou Herculano, como sempre acontecia, ao deixar os postos de governo, ao exercício da cátedra.
Foi no ano seguinte, ou talvez no mesmo, que se verificou, então, o episódio que rememoro. Realizavam-se os exames finais do 1:° ano, em presença da mesma banca de que falei há dias: Arruda, Filosofia do Direito; Porchat, Direito Romano; Herculano, Direito Constitucional. Herculano, como de costume, afundado na cadeira. Certo aluno passou das mãos do saudoso professor João Arruda para as do emérito professor Reinaldo Porchat. Direito Constitucional era o último. “Qual é o seu ponto?” “O artigo 6.° da Constituição Federal”. “Sabe do que trata esse artigo 6.°?” “Sei, sim, senhor.” “Então, pode falar.”
O estudante disse o que sabia a respeito do artigo 6.°. Leu a Constituição e comentou-a, parágrafo por parágrafo. Lá pelas tantas, meteu-se a criticar a intervenção decretada pelo marechal no Ceará. Acusou o governo de haver obedecido a intuitos exclusivamente político-partidários. Tornou-se eloqüente. Através da sua exposição quente e sincera, como que repontou a ação desenvolvida pela Faculdade de Direito de São Paulo, quatro ou cinco anos antes, por ocasião da “campanha civilista”.
Herculano já se tinha empertigado na poltrona. Perdera aquele ar longínquo que o caraterizava. Ouvia atentamente a exposição do aluno. Assim que este terminou de falar, perguntou:
— É só? O senhor tem mais alguma coisa a dizer?
O jovem primeiranista respondeu que não. A voz de Herculano de Freitas, a certas horas, era voz de taquara rachada. A boca rasgava-se-lhe toda, de ponta a ponta, num ar de desprezo ou de ironia. As palavras, não obstante, jorravam em catadupas. Era um orador empolgante e persuasivo. Tornou, então, a endireitar-se na cadeira, em presença do estudante, e começou com estas palavras que ainda hoje ressoam sob as velhas Arcadas:
— Estranho que idéias tão baixas se aninhem no cérebro da mocidade! Não houve nada disso.
E fez ali mesmo, numa banca de examinar calouros, uma arrebatadora exposição do fato, defendendo o governo de que fizera parte como ministro. Seu discurso foi uma lição de Direito Constitucional. O famigerado artigo 6.°, que ele mesmo, um ou dois anos depois, estudaria a fundo, numa série de preleções memoráveis, foi explanado na hora, como se a modesta sala n.° 2, do extinto Convento de São Francisco, fosse uma sala de debates, no Congresso da República.
Todo o mundo saiu da Faculdade de Direito convencido de que a razão estava com o grande mestre.
* * *
À turma que colou grau na Faculdade de Direito de São Paulo no ano da Proclamação da República pertenceram, entre outros, Edmundo Lins, Mendes Pimentel, João Luís Alves, Luís Aranha, Carlos Peixoto, Edmundo da Veiga, Otávio Mendes, Afonso Arinos, Paulo Prado. É a turma de Herculano de Freitas.
Não seria possível reunir-se, numa turma de bacharelandos, tanta gente ilustre. Tenho a impressão de que, conjunto como esse, raramente se reproduzirá no tradicional instituto universitário. Em regra, salvam-se, em cada nova fornada de bacharéis, cinco ou seis, talvez dez nomes. O resto dilui-se por aí, no magistério secundário, nas repartições públicas, na advocacia do interior. Da turma de 89, no entanto, salvaram-se quase todos. Ela deu-nos os maiores jurisconsultos, os maiores professores de Direito, os maiores parlamentares, os maiores escritores. E deu-nos Herculano de Freitas.
Esse era, principalmente, orador.
No tocante à arte da palavra, parece-me supérfluo repetir que, em se tratando de oradores de verdade, os discursos escritos raramente chegam aos pés dos discursos improvisados.
Herculano de Freitas não escreveu as suas orações, salvo a de 1919, quando lhe coube paraninfar, na Faculdade de Direito de São Paulo, uma turma de bacharelandos. Mas improvisando no aceso dos debates parlamentares é que se acentuavam nele qualidades invulgares de precisão vocabular, profundeza de conceitos, elegância da frase, propriedade dos gestos. Nada lhe interrompia o curso das idéias. Tinha tudo para ser o grande orador que foi: até a majestade física.
Escrever-se-á, um dia, a história da representação de São Paulo, quer no Congresso da praça João Mendes, aqui na capital, quer no Parlamento da República. Antônio Gontijo de Carvalho chamava-me a atenção, um dia destes, para o desequilíbrio de valores entre o Senado Estadual e a bancada de São Paulo na Câmara Federal. Ia muita gente ilustre para o Rio, sem dúvida, mas era na composição da Câmara Alta que se esmerava o partido político então dominante no Estado. Herculano de Freitas, por exemplo, teve como companheiros, no Senado da praça João Mendes, a homens como Dino Bueno, Duarte Azevedo, Pinto Ferraz, Fontes Júnior, Luís Piza, Almeida Nogueira, Gabriel de Resende, João Sampaio, Rafael Sampaio, Cândido Mota, jurisconsultos, oradores, mestres de Direito.
No meio de notabilidades viveu Herculano ao tempo de estudante, — e foi um grande estudante. No meio de notabilidades viveu ele na Faculdade de Direito, como professor, — e foi um grande professor. No meio de notabilidades viveu no exercício de cargos públicos ou eletivos — e foi um grande político. Era homem de decisões rápidas e de atitudes enérgicas. Possuía o dom de sobrepairar aos imprevistos da política. Usando de uma expressão bastante surrada: não se desconcertava com as mutações da mais caprichosa de todas as amantes do homem: a política. Sabia dominar as suas emoções e com isso dominava os próprios acontecimentos.
Francisco Glicério soube que o genro, então ministro do governo Hermes, não se recolhia à casa antes do amanhecer. Foi ao Rio e advertiu-o. “Senador, — respondeu-lhe Herculano — o senhor mesmo não diz que a justiça não dorme?”. As suas réplicas, na tribuna ou na cátedra, eram obras-primas de oportunidade, inteligência e graça. Só o fato de ter conseguido impor-se, como a figura principal, no Senado de São Paulo, ao tempo em que o Senado era em verdade uma câmara de eleitos, prova a excelência dos seus dons naturais e a solidez da sua formação intelectual. Não foi um “simulador de talento”. Teve, ao contrário, talento para dar e vender. Só lamento que ninguém se tenha lembrado, até hoje, de fixar-lhe em obra condigna o perfil do professor e do político. A parte anedótica da sua vida é inegavelmente muito interessante, mas o extraordinário “blagueur” que ele foi não sobrepuja a do homem de ação e de pensamento.
* * *
Como jornalista, Herculano de Freitas deixou afirmações de talento e vivacidade nas colunas do “Correio Paulistano”.
Antônio Carlos da Fonseca morreu sem ter podido reunir em volume as suas memórias de velho profissional da imprensa. Foi ele quem nos contou o episódio em que figura como protagonista o grande professor de Direito Constitucional. Se não me engano, já foi divulgado também em letra de forma, num “número de aniversário” do citado matutino.
Altas horas da noite, já inteiramente vazias as salas da redação, no velho edifício da praça Antônio Prado, o chefe das oficinas sobe aflito à procura do secretário ou do diretor. Havia uma coluna a preencher, na página de artigos e comentários. Com um pedaço de barbante em punho, o zeloso paginador dizia, à moda de estribilho: “Preciso de matéria para tanto de coluna”, e esticava o barbante, segurando pelas pontas. O diretor e o secretário eram, respectivamente, na ocasião, Herculano e Fonseca. Vasculham os dois, todas as mesas e gavetas, à procura de originais. Telefonam para as agências. Revolvem os cestos de papéis. Vão, por fim, às coleções de jornais dependuradas à parede.
— Está salva a pátria — exclama um deles. — Vamos reproduzir um artigo qualquer.
E põem-se a procurar um artigo.
Dão preferência a uma nota em que se falava do governo. Órgão do Partido Republicano Paulista e porta-voz do governo, ficava bem ao “Correio Paulistano” reproduzir tudo quanto, na imprensa de São Paulo e do Rio, se referia ao governo, quer em notícias, quer em comentários. Herculano de Freitas, inadvertidamente, assinala um artigo com um lápis vermelho, arranca a página do jornal — era um jornal da oposição — e entrega-o ao chefe das oficinas.
— Isso basta? — pergunta.
— Basta, sim, sr. — respondeu aquele, calculando a olho nu o tamanho da composição e do espaço a preencher.
No dia seguinte, houve um corre-corre dos diabos nos meios governamentais de São Paulo. O telefone da redação começou a tilintar desde cedo. Todo o mundo queria falar ao diretor ou ao secretário. Ora, o presidente do Estado em carne e osso, ora o secretário da Justiça, ora o presidente da Comissão Diretora. Onde está Herculano? Vamos procurar Herculano! Como é que o “Correio” faz uma coisa destas? Ora, o “Correio”! “O vovô” está caducando“, diziam os mais sôfregos.
O caso fora o seguinte: o “Correio Paulistano”, então empenhado numa vigorosa polêmica, por causa de atos do governo, com um jornal da oposição, reproduzira, em sua coluna de honra, a catilinária dele. A coisa, além do mais, tinha saído com entrelinhas duplas. A oposição, pela pena do seu escriba, não fazia economia de ataques à administração. Era virulento o artigo. O governo ficava nele reduzido à expressão mais simples. Não só o governo como as pessoas que o exerciam. Nunca a imprensa oposicionista se exaltara tanto como naquele dia.
Herculano de Freitas, à noite, na redação do “Correio Paulistano”, mantinha-se imperturbável. Não tinha sido atingido, ao que parece, pela revolta do situacionismo contra a atitude do jornal que dirigia e orientava. Na própria redação, no entanto, o ambiente era de pânico. Antônio Carlos da Fonseca estava murcho, a um canto da sala, debruçado à sua escrivaninha. João Silveira não fazia piadas. Os redatores, moita. Percebia-se uma pergunta no ar, varando aquele ambiente de tragédia: “Como é que o “Correio” se sairá desta?”
Herculano de Freitas sabia por que motivo estava tranqüilo. O editorial do “Correio Paulistano”, por ele escrito, começava mais ou menos desta forma: “Muito de propósito, reproduzimos ontem, em nossas colunas, o artigo do jornal oposicionista contra a alta administração de S. Paulo. Quisemos dar aos nossos leitores oportunidade para conhecer os processos empregados pelos eternos descontentes, os quais não recuam sequer diante dos destemperos da linguagem”. E por aí a fora. Era uma réplica à altura: serena mas contundente. Herculano, por meio dela, tirava o maior partido, quer da sua inadvertência da véspera, quer da deselegância da “imprensa amarela”, como era chamada, naquele tempo, a imprensa de oposição.
* * *
Fez anos o professor Spencer Vampré.
Quantos? Não importa. Spencer Vampré tem sempre vinte anos. Cabelos brancos não são argumento. Sob os cabelos brancos, a expressão dos olhos trai a perpétua juventude do seu espírito. É uma das inteligências mais arejadas do Brasil. Um dos melhores corações do mundo. A bondade e a inteligência fazem dele um dos mais simpáticos exemplares da nossa espécie em São Paulo. Hesito em compará-lo quase a São Francisco de Sales ou a São Francisco de Assis. Se lembra o segundo pela ternura infinita que lhe inspira o gênero humano, lembra o primeiro pela sabedoria sem ostentação.
Spencer Vampré disciplinou o espírito desde muito moço.
Deixando de lado o que é resultado de inclinação natural, a sua cultura é um milagre de disciplina e método. Tendo-se especializado em Direito Romano, pode, no entanto, lecionar, na Faculdade de Direito, qualquer cadeira. Foi meu mestre de Direito Constitucional, no primeiro ano, em substituição a Herculano de Freitas, e de Direito Administrativo, no quinto, em substituição a Manuel Vilaboim. Tem substituído professores de Direito Civil, Direito Comercial, Direito Judiciário Civil, Direito Penal, etc. Nos exames vestibulares tanto o vemos à frente de uma banca de Latim como de Literatura.
O polimorfismo gera quase sempre culturas superficiais. Em Spencer Vampré, todavia, nada é superficial. Desde os bancos acadêmicos trabalha, a portas fechadas, em sua biblioteca particular, com fichas e pastas. Quando seu aluno, em 1919, no primeiro ano do Curso Jurídico, tive a honra de fazer parte de uma comissão que o visitou em sua casa, à rua Padre João Manuel, no Jardim América. Tínhamos ido convidá-lo para fazer uma conferência sobre Álvares de Azevedo. Pegou-nos pelas mãos e levou-nos ao seu gabinete de trabalho. Estantes por toda a parte. Estantes e gavetas. As estantes cheias de livros; as gavetas, de recortes de revistas e jornais. Todos os ramos do Direito lá estavam representados.
Disse-nos:
— Sou hoje apenas professor e ando com a cabeça cheia de sentenças e acórdãos, por causa de uma obra em vários volumes sobre matéria processual, que estou escrevendo. Como querem os senhores que lhes fale sobre poesia numa hora destas?
Não obstante, fez a conferência. Fará quantas conferências for preciso, uma vez que se trate de contribuir para o prestígio das tradições acadêmicas. A velha e sempre nova Academia tem nele o seu cronista mais dedicado e mais entusiástico. Não há o que os estudantes não consigam dele, em nome do seu amor ao “Velho Convento”. Não há festa acadêmica, seja de professores, seja de estudantes, que o não conte entre os presentes, a sorrir e a bater palmas. No meu tempo, volta e meia, íamos buscá-lo em casa ou no escritório, para presidir uma recepção ou uma eleição, uma assembléia ou um congresso.
Os meus exames do 5.° ano de Direito realizaram-se nos primeiros dias de dezembro de 1923. Spencer Vampré fazia parte da mesa, como lente-substituto de Direito Administrativo, ao lado dos saudosos catedráticos Sousa Carvalho, Rafael Sampaio, Amâncio de Carvalho e Estêvão de Almeida. Na cadeira de Sousa Carvalho coube-me o ponto “Soberania”. O ponto era fácil. Fiz, então, uma espécie de “artigo de fundo” oral: muita palavra bonita mas pouco recheio. Dei, no entanto, ao boníssimo “Pagé” a impressão de estar afiado na sua cadeira. Rafael Sampaio, responsável pelo meu comparecimento naquele dia à banca de exame, fez o exame por mim. Amâncio de Carvalho deixou-me ler em voz alta o programa “analítico” de Medicina Legal. Estêvão de Almeida contentou-se com a leitura do anteprojeto do Código de Processo do Estado de São Paulo. Spencer Vampré, meu amigo desde o primeiro ano, vendo que eu ignorava o “ponto” sorteado, levou-me em passeio (que era antes uma exibição de ignorância) através de todo o Direito Administrativo. Na hora do julgamento, quis reprovar-me.
Pedrão, o bedel, chamou-me a um canto, depois de afixadas as notas, e contou-me o seguinte:
— O dr. Vampré quis reprová-lo. Disse que o senhor tinha querido valer-se da sua amizade para não estudar nem uma linha de Administrativo. E que isso era um desaforo. Justamente por ser amigo dele, o senhor devia ter estudado a matéria. Foi o dr. Rafael quem não concordou com a reprovação.
Nunca me preocupei em pôr a limpo a informação do bedel. Esta é a primeira vez que me refiro ao episódio, publicamente. Faço-o, no entanto, sem remorso nem constrangimento. Quero, mesmo, aproveitar a oportunidade de tão festiva data, para dizer ao querido mestre, à distância de tantos anos, que a sua vigilante simpatia tem sido um prêmio para mim. Nunca me servi de sua amizade senão para orgulhar-me dela. Deus há de ouvir os votos de um coração sincero. Daqui lhe peço, pois, as maiores bênçãos para quem, como Spencer Vampré, só sabe fazer o bem como mandam as Sagradas Escrituras: sem pretender gratidão ou prêmio.
* * *
Tratava-se de dar aos calouros de 1919 uma idéia exata da proibição imposta aos homens públicos do Brasil pela Constituição Federal de receberem condecorações e títulos honoríficos.
Spencer Vampré lançou o olhar, do alto da cátedra, para a classe, que atentamente o ouvia. Quis dar um exemplo. Apontou, então, para um moço alto, gordo e corado, que lhe bebia as palavras:
— O senhor é o presidente de São Paulo e um belo dia recebe o título de barão...
Não pôde continuar. Calouro é a fauna mais curiosa que se conhece. Como está em lua de mel com a Academia, o primeiranista de Direito pensa que tem a obrigação de fazer discursos, bater palmas a toda hora, fazer pilhéria, perturbar as aulas. Nós éramos calouros. Pesava sobre a nossa cabeça a ameaça do trote diário, lá fora, sob as Arcadas. Queríamos, então, um pretexto para desabafar. Assim, quando Spencer Vampré conferiu, por hipótese, aquele título honorífico ao nosso colega, entramos a vociferar:
— Aí, barão! Tu, barão!
Bobagem. O caso não era nem para tanto barulho nem para tanta hilaridade. Mas, que fazer? Era preciso fazer jus à fatalidade que pesa sobre os calouros e que na Faculdade de Direito de São Paulo já se acha perpetuada numa famosa quadrinha com rimas em “ouro” e “urro”: “Nem tudo que luz é ouro, — Nem todo sopapo é murro”... Fizemos uma assuada de endoidecer e nosso colega virou nobre à força. O José Hildebrando foi barão o curso inteiro. É conhecido ainda hoje pelo título que Spencer Vampré lhe conferiu naquele remoto ano de 1919.
As aulas de Direito Constitucional não eram, sejamos francos, empolgantes como as de Direito Romano. Porchat era um malabarista da palavra. O professor Spencer Vampré, apesar da facilidade de elocução, falava quase em surdina. Sua voz quase não chegava aos nossos ouvidos, nos últimos bancos da sala n.° 2. De vez em quando, ouvíamos uma construção que lhe era muito peculiar:
— ... no sentido de que...
O mestre vinha comentando, por exemplo, o artigo 72, que na Constituição de 91 enunciava e definia os direitos do homem. Vinha até nós uma ou outra referência à Revolução Francesa, à “Declaração da Independência”, a Jefferson, a Hamilton no “Federalista”. A inviolabilidade do lar, o sigilo da correspondência, a proibição de prisão sem culpa formada. Até que a construção, quase o cacoete, se encaixava na exposição:
— ... no sentido de que...
Não sei, até hoje, se entre os catedráticos da Faculdade de Direito existe o hábito da preparação prévia das aulas. Spencer Vampré deu-nos sempre, todavia, a impressão de estar improvisando. Como, porém, possuía o hábito do estudo e era principalmente uma inteligência disciplinada pelo método, falava com desembaraço. Não titubeava. A variedade dos conhecimentos levava-o a fazer incursões pelos demais ramos do Direito: Civil, Penal, Comercial, Romano. A Literatura era-lhe também um campo preferido para os vôos da imaginação e do espírito. Gostava de saber que entre os seus alunos havia jornalistas e poetas. Merecia-lhe especial culto a trilogia acadêmica: Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Castro Alves.
Hoje, na Faculdade de Direito, quando se quer dar uma idéia de que a “coisa” não vai bem, sei que se emprega esta expressão: “Até o Vampré está reprovando”. Já era assim no meu tempo. Há de ser assim pelo resto da vida. Spencer Vampré, a bondade em carne e osso, dá-se, às vezes, ao luxo de reprovar. Mas é o primeiro a sofrer com as reprovações. Tendo passado a vida entre livros e estudantes, só se sente bem no meio de tão leais amigos. Em se tratando de estudantes, tem invariavelmente à flor dos lábios uma palavra de compreensão, de justificação ou de estímulo. É um mestre em toda a extensão da palavra: compreende e perdoa as deficiências da formação mental dos universitários. Sabe que a culpa não é dos moços.
* * *
No dia 9 de novembro de 1943, houve em S. Paulo o atentado contra os estudantes de Direito. É uma página de história: não invento.
À noite, no auditório da Biblioteca Pública Municipal, um adido cultural dos Estados Unidos, de passagem por esta capital, deveria falar, a meu convite, sobre “A Cultura na América do Norte”. Vencendo mil e um obstáculos, consegui chegar à rua Xavier de Toledo. A cidade, como os leitores sabem, estava em pé de guerra. A cavalaria andava às soltas pelas ruas. Soldados de carabina embalada pelas esquinas dispersavam ajuntamentos. Ouvia-se de vez em quando um estampido. Pairava em tudo um ar de tragédia.
A primeira pessoa que encontrei na Biblioteca Municipal, já à espera do conferencista William Rex Crawford, foi Spencer Vampré. Estava inconsolável. Nunca imaginou pudesse ser dispersada a ferro e fogo uma passeata de estudantes. A mocidade, dizia-me, é generosa e deixa-se facilmente conduzir pelo coração. Se me houvessem pedido para falar aos moços, acrescentou, estou certo de que os teria demovido do “comício sem palavras” projetado para hoje. “Sei como se fala aos moços”, concluiu.
À hora marcada para a conferência do sr. Crawford, havia meia dúzia de pessoas no simpático anfiteatro. O conferencista, porém, não aparecia. Às 9 horas e 15 minutos, sou procurado por um emissário daquele adido cultural. Disse-me que o conferencista não se sentia com ânimo para falar sobre cultura depois das cenas de que fora testemunha ao escurecer, na rua José Bonifácio. Como era possível falar-se em cultura numa noite daquelas?
Saímos, o professor Vampré e eu. Tinham-nos dado, momentos antes, informações acabrunhadoras. Dizia-se que se contavam por centenas os acadêmicos chacinados.
Spencer Vampré convidou-me para acompanhá-lo até o largo de São Francisco. Pretendia informar-se pessoalmente da extensão da calamidade. Sentia-se obrigado a estar junto dos seu alunos. Sem querer entrar, naquela hora, no exame da boa ou má causa em jogo, fazia questão de prestar assistência aos feridos. “A Faculdade de S. Paulo, dizia-me pelo caminho, deveria ser erigida à categoria de monumento nacional e os seus alunos deveriam ficar a salvo das truculências policiais. Deus nos livre de que se estiole um dia, ou esmoreça, o idealismo da juventude! Que mal pode causar aos governos uma passeata de estudantes?”
Estávamos no Viaduto do Chá, quase à esquina da praça do Patriarca. À direita, lá embaixo, a praça da Bandeira, festivamente iluminada. Num segundo plano, um resto do S. Paulo antigo e as favelas do “Bexiga”. No fundo, ao alto, o espigão da avenida Paulista. Pousando sobre a cidade um céu de oleogravura, dentro da noite fria. Spencer Vampré nada me disse. Percebi, no entanto, que ele concluía mentalmente a frase:
— Quando os governos começam a ter medo dos estudantes é porque sentem fugir-lhe o terreno aos pés...
Não pudemos atravessar a praça. A soldadesca disseminada por todos os cantos parecia convencida de que havia em cada um de nós um inimigo da ditadura. As ordens eram-nos dadas aos berros, com grosseria: “O senhor não vê que não pode passar? Está querendo levar um tiro na barriga?” Não. Não queríamos um tiro na barriga. O professor e o seu antigo aluno queriam unicamente partilhar com os estudantes da Faculdade de Direito as dores que sofriam em homenagem às liberdades públicas. Queríamos ambos, como paulistas, receber também em nosso corpo as feridas que o Estado Novo abria, mais uma vez, no coração de S. Paulo.
* * *
REINALDO PORCHAT — Professor de Direito Romano, grande orador e poeta bastante apreciado. Sabíamos de cor a sua “Lição de Francês”, em que o poeta, para ensinar a mulher amada a pronunciar corretamente a palavra “baiser”, acaba pespegando um beijo nela.
O beijo foi, aliás, o tema do discurso com que ele acolheu Olavo Bilac na Faculdade, em outubro de 1915, por ocasião da campanha em prol do serviço militar obrigatório. “Para o advogado, homem da lei, — dizia — o beijo pode ser, às vezes, simplesmente, elemento de um crime — o crime de sedução. Para o poeta, não. Para o poeta é o beijo, invariavelmente, um tema de poesia. Bilac não se contenta, por sinal, com um beijo igual ao de todo mundo. Ele quer um “Beijo Eterno”, um beijo que não acabe nunca, um beijo sem fim...”
Na cátedra, Reinaldo Porchat era um espetáculo.
De estatura mediana, trazia o corpo modelado regularmente por um jaquetão irrepreensível. Uma cabeça inteligente sobrepairava ao rosto oval, em que o elegante “pince-nez” punha uma nota acentuada de espiritualidade. Voz magnífica, admiravelmente timbrada, mais cheia de bemóis do que de sustenidos. Gestos curtos e precisos. Quando ele, dissertando sobre a “História Externa do Direito Romano”, nos falava da decadência de Roma, a velha sala n.° 2 transfigurava-se. Imponente, no alto da tribuna, recostava-se à direita, com o braço para fora. Espetava o polegar, apontava-o para trás e ao dizer “em Roma” nós víamos a dissoluta cidade dos Césares e dos Papas refletir-se na parede. Era como se Roma lá estivesse ao nosso alcance.
Assíduo e pontual, esgotava o primeiro semestre com a “História Externa”. No segundo, demorava-se longamente sobre Direito Adquirido e Interpretação das Leis. Ai de quem não soubesse a definição de Gabba na ponta da língua! Coitado de quem não conhecesse o “Scire leges”! Porchat exigia os textos em Latim. No fim do ano, o exame se resumia, não raro, a uma demonstração, por parte do aluno, da arte de consultar o “Corpus Juris”.
Dizia Porchat:
— Sua exposição deixa muito a desejar. Vejo, em todo caso, que o senhor possui alguma noção da matéria. Agora, faça o favor de me mostrar onde se encontra o “Juris precepta sunt haec”. Entrego-lhe o “Corpus Juris”.
Às vésperas do exame, com efeito, durante três ou quatro dias consecutivos, os estudantes do primeiro ano não faziam outra coisa senão aprender, com os colegas mais distintos, a arte de procurar os textos no monumental código. Era preciso conhecer, em primeiro lugar, os autores das sentenças, depois os livros e acabar procurando fragmento por fragmento. Na banca do exame a gente atrapalhava-se. Seus olhos faiscantes atravessavam-nos e pareciam surpreender, no fundo do nosso cérebro, a hesitação ou a ignorância:
— Ora, o “Scire leges”! Os senhores perguntem ao primeiro indivíduo postado no largo de S. Francisco pelo “Scire leges” e estou certo de que ele não hesitará sequer um minuto: “Scires leges non est verba earum tenere sed vim ac potestatis”. Que quer dizer isso? O senhor será um dia defensor ou intérprete da lei. A força da lei está porventura nas palavras? Conhecer as leis é conhecer o que as palavras dizem.
Porchat, nos seus grandes dias, era a mais alta expressão da cátedra universitária. Iam ouvi-lo não só os que tinham obrigação de fazê-lo, mas também advogados, juízes, intelectuais, poetas. O estilo das suas preleções mantinha-se numa esfera superior e os textos romanos, por ele declamados, pareciam escritos no mármore. Nunca mais nos esquecemos deles. Vivíamos com eles à boca e ainda hoje, depois de tantos anos decorridos, muitas vezes nos surpreendemos a recitá-los em voz baixa, como se fossem versos de Leconte!
Apesar de exigente e rigoroso nos exames, era a sedução da mocidade acadêmica. Nas noites de festa, quando o descobríamos no meio da assistência, os nossos gritos e aplausos o provocavam:
— Fala o Porchat! Fala o Porchat!
Porchat fazia-se de rogado. Meneava a cabeça, sacudia os ombros, como a dizer “Ora, ora, que idéia!”. Acabava, porém, assomando à tribuna e sob palmas ensurdecedoras começava:
— A mocidade quer que eu fale: aqui estou! A mocidade manda.
Então, durante quinze, vinte ou trinta minutos, ninguém mais respirava. Todo o mundo abafava a respiração no peito com medo de perder uma só das coisas bonitas que o grande professor ia executando aos nossos ouvidos, em voz abemolada e profunda.
* * *
JOÃO ARRUDA — Professor de Filosofia do Direito. Foi meu professor em 1919, no primeiro ano do Curso de Bacharelado.
Eram duas as advertências que ele fazia de início aos estudantes. A primeira dizia respeito à matéria.
— Os senhores vão ser vítimas da falta de critério que preside, em nosso país, à organização dos programas do ensino superior. Onde se viu Filosofia do Direito no primeiro ano? Que é que os senhores sabem de Direito? Que sabem os senhores de Filosofia? Os exames vestibulares têm revelado sistematicamente insegurança de conhecimentos. Os ginásios não ensinam nada.
E por aí além.
Falando aos arrancos, de cabeça baixa, mal-humorado, João Arruda parecia brigar com as palavras. Soltava-as, por isso, com azedume: “Os senhores não têm culpa. Mas os senhores não estão em condições de entender Kant. Que é que se estuda de Kant nos cursos preparatórios? Pouca gente sabe Kant no Brasil. A Filosofia do Direito deveria figurar no programa do 5.° ano. No 5.° ano, sim, depois de conhecidos os outros ramos do Direito em suas aplicações específicas, poder-se-ia estudar e compreender a minha disciplina!”
A segunda advertência era relativa ao mestre.
— Os senhores não precisam constranger-se em minha presença. Dou inteira liberdade aos alunos. Fui advogado no interior do Estado durante longos anos, em comarcas famosas pela truculência das paixões em jogo. Tenho o hábito de trabalhar no meio do maior barulho. Se os senhores quiserem conversar, conversem. Só lhes peço que não fumem. É um favor pessoal. O fumo incomoda-me.
Assim que o bedel encerrava a chamada, João Arruda lia o enunciado do “ponto” no “programa analítico” e iniciava a preleção.
Confirmavam-se desde logo os seus receios: a classe não entendia patavina. Formavam-se grupos: uns liam jornais, outros conversavam, alguns dormiam. O velho mestre nem olhava para a turma. Aliás, parecia não olhar para coisa alguma. Olhava para um ponto indeterminado no espaço. Olhava talvez para dentro. Anotei, a propósito de João Arruda, uma feliz observação de Antônio Gontijo de Carvalho: “Ele dava aula para si mesmo.”
Citava muito. O nome de Filomusi Guelfi era, no entanto, o que mais ouvíamos, musical como uma escala cromática. João Arruda soube, certa vez, que o acusavam de excesso de citações. No primeiro exame escrito deu como tema para dissertação o seguinte: “A opinião da Cadeira sobre Filosofia do Direito”. Quis, por meio desse estratagema, forçar os estudantes a descobrir o pensamento do catedrático no meio daquele imenso cipoal de autores, livros e doutrinas. Quis, principalmente, mostrar aos acusadores que não se limitava a citar. Tinha opinião própria.
Eram famosos os seus parênteses. Abria-os hoje, no meio de uma aula, e só se lembrava de fechá-los duas ou três aulas mais tarde. Por ocasião dos exames, quando nos debruçávamos sobre as suas apostilas, o maior trabalho, o trabalho preliminar consistia em localizá-los. A prova de que as preleções eram para ele mesmo, nós a encontrávamos, em tais ocasiões, nas disputas entre o professor e os autores, a cada página dos apontamentos taquigrafados “sem a sua responsabilidade”. João Arruda conhecia a matéria a fundo. Não tinha, sem dúvida, a elegância de Pedro Lessa. Não era um estilista. Não tinha dotes oratórios. Possuía, porém, uma cultura geral como poucas têm existido na Faculdade de S. Paulo. Estava a par de tudo, e não só em Filosofia do Direito como em tudo o mais: Direito, Sociologia, Política, Literatura, História. Quando em 1931 publiquei “Revolução e Democracia” recebi dele um cartão em que, através de meia dúzia de conceitos, me deu a impressão de conhecer como ninguém o fenômeno político então se produzindo à face da Terra.
Amigo dos estudantes não lhes dava, em todo caso, muita familiaridade. Mantinha-nos à distância. Nos dias de prova escrita, sorteado o ponto, retirava-se. Ficava o tempo todo fora. Voltava já na hora de recolher as provas. Mas, antes de entrar, fazia-se anunciar pelas passadas fortes no corredor, sob as Arcadas. Pigarreava. Dizia qualquer coisa ao bedel, à porta. Fazia questão, em suma, de não constranger os moços, pois uma entrada inopinada poderia surpreender-nos às voltas com uma porção de tratadistas esparramados sobre a mesa de trabalho...
* * *
A primeira vez que entrei na Livraria Acadêmica foi em março de 1919. Em lugar, porém, de entrar como todo o mundo entra, com um ar assim de quem vai saber das “novidades” jurídicas ou literárias, a mim me coube a oportunidade de entrar, correndo, de paletó pelo avesso, enfarinhado e humilhado.
Era o mês do trote na Faculdade. Os gritos dos “veteranos” enchiam o largo de São Francisco e vinham morrer à porta da livraria, quase aos pés de um homem alto e magro, sempre de mãos nos bolsos das calças, a brincar de gangorra com o próprio corpo:
— Calooooouro! Pega o calooooouro!
O estabelecimento comercial de Joaquim Inácio da Fonseca Saraiva foi-me, naquela ocasião, um porto seguro. Vendo-me esbaforido e medroso, Saraiva levou-me para os fundos da casa e ali me endireitou, ele mesmo, o paletó e a gravata. Disse-me o que costumava dizer, todos os anos, naquele mesmo mês, às turmas de calouros:
— Vocês deviam unir-se em sociedade de auxílio mútuo. Um calouro, afinal de contas, é um homem como outro qualquer. Essa distinção entre “calouros” e “veteranos” só existe para justificar as pancadarias que vocês levam no lombo. Eu, se fosse vocês, reagia...
A verdade, porém, é que ninguém menos autorizado para pregar a reação contra estudantes de Direito do que o ilustre amigo. Um estudante de Direito era, aos olhos dele, um ser à parte. Se protestava contra a violência do trote era precisamente por lhe sofrer o coração o espetáculo de um acadêmico enfarinhado e sovado. Em se tratando de estudantes, seus olhos transformavam-se em vidro de aumento e ele só nos via em atitudes vitoriosas. Só nos queria prestigiados e respeitados. Mandava reagir contra os “veteranos”, mas ai de quem pusesse as mãos nos “meninos”!
Era um homem bom em toda a extensão da palavra. Professores e alunos estimavam-no. Mas se os professores se lembravam de divergir dos alunos em qualquer episódio íntimo da Faculdade, Saraiva ficava com os alunos. Não era, porém, um professor de indisciplina. Ao contrário, tendo vencido na vida à custa da disciplina e do método, aconselhava aos moços o culto do Direito e da Liberdade. “Disciplina, — dizia-nos — não é submissão. Vocês devem ser disciplinados, sim, mas subservientes, nunca!”
A especialização do seu comércio de livros dera-lhe um conhecimento geral de todos os ramos do Direito. Mais do que um livreiro preocupado apenas em colocar a mercadoria na praça, era um conselheiro e um amigo. Jamais negociou por meios escusos a adoção de compêndios. Se a respeito de determinada matéria jurídica existiam dois, — um, editado por ele, outro, editado por um concorrente, — e se o segundo era mais “atual” ou mais completo que o primeiro, não hesitava em aconselhar o livro do competidor.
— Leve esse, — recomendava. Tem mais coisas que o nosso.
À força de lidar com estudantes, conhecia-lhes o coração, a inteligência e sobretudo o preparo.
Todo estudante de Direito, quando sai da primeira aula de Direito Judiciário Civil, tem vontade de levar a sério a disciplina e pensa imediatamente em nomes pomposos de tratadistas. Sai então da escola e vai direitinho à livraria do Saraiva, à procura de tratados e mais tratados. Se o professor citou dois ou três, o estudante pensa em ter seis ou sete. “O Processo é tudo! Como é possível exercer-se a advocacia sem o conhecimento profundo e exato do Processo! Todas as outras matérias são subsidiárias, só o Judiciário Civil é fundamental!”
De mãos nos bolsos das calças, equilibrando-se nas pontas dos pés, inclinando o corpo esguio e ossudo ora para a frente, ora para trás, deixava esgotar-se a verborragia acadêmica. Era o último a falar. E falava-nos pela forma seguinte:
— Tudo isso, meninos, é muito bonito e eu louvo muito as suas intenções: são, em verdade, magníficas. Mas eu tenho aqui um livrinho que é tudo quanto vocês precisam no momento. Não tem retórica, não tem filosofia, não tem conversa fiada; tem apenas realidade. Vocês levem-no e não me paguem nada por enquanto. Se o livro prestar, paguem-me quando puderem. Se não prestar, não se fala mais nisso.
Conta-se que essas recomendações do velho e estimado Saraiva eram do conhecimento de um dos mais ilustres catedráticos de Direito Judiciário Civil, na Faculdade de São Paulo. Tanto que no início de cada ano letivo, ao ter de indicar fontes para o estudo, o professor emérito se limitava a dizer aos alunos:
— Quanto a livros para estudo, deixo de indicá-los porque sei que o Saraiva muda completamente a orientação da Cadeira...
É que o compêndio recomendado aos estreantes pelo Saraiva tinha como autor um inimigo do catedrático. Os futuros bacharéis entravam na livraria à procura, por exemplo, de Chiovenda, e saíam de lá com o Gusmão debaixo do braço. Escusado é dizer que acabavam agradecendo ao saudoso livreiro o conselho recebido. Ao fim de quinze dias de aulas, vendo-se obrigado a atender a uma porção de matérias ao mesmo tempo, Direito Comercial, Direito Penal, Direito Civil, Direito Judiciário Civil, o estudante do quarto ano deixava para dias melhores o seu desejo de aprofundar-se no Processo...
Nos dias de festa acadêmica, nos dias de exame, nos dias de agitação estudantina, Saraiva ficava sobre brasas. Conhecia-nos a todos, um por um, pelo nome. Enchia-se de uma alegria verdadeiramente comovedora quando, no fim do ano letivo, em época de exame, os acadêmicos, de volta da escola, sobraçando livros, de rosto esfogueado, lhe entravam portas a dentro, à procura do telefone:
— Vai, vai, menino, pode dar a notícia auspiciosa à sua noiva, mas não se esqueça de dizer-lhe que o primeiro abraço de parabéns foi meu!
O convívio com os mestres facultava-lhe certas intimidades muito proveitosas para os “meninos”. Não raro, às vésperas de prova parcial, ouvíamos dele, à porta da livraria, uma pergunta que valia por uma insinuação ou uma advertência:
— Vocês, do segundo ano, estão estudando Direito Civil com o professor Pacheco Prates, não é verdade? Vocês já ouviram, porventura, falar em “Posse”? Acho bom se lembrarem de que existe isso nos livros...
Sei que a minha geração chorará inconsolavelmente a perda de tão querido amigo. Em geral, todas as gerações acadêmicas que têm passado pela Faculdade de Direito de São Paulo se julgaram, cada uma por sua vez, a predileta do velho Saraiva. Esse fato serve para provar que Joaquim Inácio da Fonseca Saraiva desempenhou uma função importantíssima: ele foi o traço de união entre as gerações que desde 1913 se têm revezado “sob as Arcadas”. Em razão do comércio a que consagrou a existência inteira, tornou-se indispensável aos estudantes e aos diplomados. Continuava a conviver com os bacharéis pela vida a fora, compartilhando as esperanças e as decepções dos profissionais, com o mesmo carinho com que lhes compartilhara as ilusões e os sonhos, ao tempo de estudantes.
Com a morte de Joaquim Inácio da Fonseca Saraiva não desaparecem apenas uma tradição e um livreiro, desaparece alguma coisa mais: um pedaço da nossa juventude.
* * *
Não é possível esquecer a figura do bedel Pedro, mais conhecido pela alcunha de “Pedrão, mãe dos calouros”.
Alto e gordo, com a barriga a cair-lhe sobre os joelhos, por um começo de obesidade, era uma mistura de português e índio. Tinha do português os bigodes espessos, mais negros do que a asa da graúna, como diria José de Alencar. Tinha do índio a cor. Cor de bronze, aquilo que se chama moreno bronzeado. Os cabelos, pretos e luzidios. Olhos pequenos e maliciosos servindo de comentário à expressão do rosto, que fazia um esforço desesperado para parecer severo.
Na rua, lembrava um mosqueteiro, para não dizer um guarda-noturno. Usava um enorme chapéu preto, abas largas, e andava brandindo um bengalão de alto-lá-com-ele. Um daqueles bengalões que no passado, sob o céu provinciano de Piratininga, serviam para garantir a intangibilidade dos lares. Nos dias de chuva substituía-o por um guarda-chuva amplo como uma barraca. Armava-o na esquina da rua Cristóvão Colombo, à espera do bonde. Os bondes passavam e ele ia ficando no mesmo lugar, junto à escola, como se tivesse medo de perdê-la.
Bom fisionomista, ao fim de três ou quatro dias de aula conhecia todos os calouros. Guardava o nome dos que lhe eram mais simpáticos. Ao bater do sino, postava-se junto à porta da sala, tangendo a estudantada para dentro. Vinha o mestre e ele deixava-o passar. Ia depois no encalço dele, com o livro da chamada na mão. O cortejo provocava invariavelmente a hilaridade dos moços, principalmente quando o mestre era por exemplo Pacheco Prates. A pujança física do bedel contrastava com a humildade do velho civilista. A solenidade deste, por sua vez, contrastava com a ingênua compostura daquele.
A voz não estava de acordo, nem com a sua estatura, nem com a sua exuberância. Era fina e cantada. A gente esperava que daquele corpanzil saísse um vozeirão de órgão de igreja e o que se ouvia, quando ele falava, eram sons de violino. Entoava os nomes dos alunos como se estivesse puxando a reza na igreja de Santo Amaro. Enunciava-o duas vezes. Quando o aluno não respondia, parava e olhava à esquerda e à direita, como a procurá-lo. É que o tinha visto momentos antes no corredor, sob as Arcadas. Sem querer, comprometia-nos aos olhos do catedrático. Só faltava exclamar: Uai!
Na hierarquia acadêmica, o Pedrão ocupava o segundo lugar.
Vinha em primeiro lugar Júlio Maia, secretário. Logo a seguir, o bedel. O diretor estava em terceiro lugar. A primeira preocupação do estudante era vencer a impassibilidade do secretário, que por muito conhecer os moços já lhes não dava demasiada atenção; a segunda, conseguir a simpatia do bedel. O caderno da chamada passava das mãos do bedel para as do secretário. O golpe era conseguir então que não passassem com ele as faltas. O Pedrão tinha o vício de molhar a ponta do lápis na língua, de maneira que qualquer sinal no livro se tornava, a bem dizer, inapagável.
Freqüentemente, advertia-nos:
— O senhor precisa tomar cuidado com as faltas. Eu posso ajudar, não resta dúvida, mas não faço milagres. Também, que diabo, o senhor não pode fazer um sacrifício duas ou três vezes por semana?
Na intimidade, gostava de recordar antigos estudantes ocupando posições políticas. Citava nomes. Contava fatos. Tinha orgulho em ser funcionário da escola e eram de ver a imponência e a gravidade com que, no fim do ano, fazia a Chave correr por todas as paredes internas do “Velho Convento”. Desempenhava tal incumbência como se fosse um rito. Pegava a Chave, dava dois ou três passos com ela e dependurava-a mais adiante. Guardava em tais ocasiões o silêncio mais absoluto. Não ria. Mantinha-se imperturbável. As perguntas dos estudantes encontravam-no mais duro do que um rochedo.
Por culpa dele, ninguém perdia o ano.
Antônio Gontijo de Carvalho promoveu, em fins de 1919, uma subscrição em favor da “mãe dos calouros”. Tivemos o prazer de entregar-lhe, alguns dias antes do Natal, a importância de dois contos de réis, a maior de quantas já lhe tinham passado pelas mãos, em anos anteriores. O jequitibá estremeceu em suas raízes mais profundas. Foi uma hora de emoção, que ligou para todo o sempre a nossa turma ao coração do querido bedel.
* * *
José Lannes era autor do “De Profundis”.
Quando, em 1915, essa plaqueta apareceu nas livrarias de São Paulo, houve uma desusada mobilização da crítica literária. Nuto Sant’Ana, pelas colunas do “Correio Paulistano”, posto que fazendo restrições à “tristeza paradoxal” do jovem poeta, saudou nele um dos mais perfeitos artífices do verso. Veiga Miranda, em São Paulo, Osório Duque Estrada, no Rio, teceram loas, igualmente, ao novo artista. Alberto de Oliveira, em carta ao irmão, Mariano de Oliveira, que fora professor de José Lannes em Santa Madalena, no Estado do Rio, embora lamentando também a tristeza de que estava impregnado o pequenino livro, acentuava a correção da forma e da linguagem.
Nos meios acadêmicos a consagração foi integral.
José Lannes era, como homem e como artista, um requintado. Freqüentava muito a Academia mas não comparecia às aulas. Passava a maior parte do dia no “Gazeaux”, à procura de obras raras. Trazia sempre um livro à mão. Ia-se ver e era habitualmente um clássico grego ou latino. Seu maior prazer consistia em dar livros de presente aos amigos. Escolhia para isso os autores da sua intimidade: Wilde, Baudelaire, Samain, Rimbaud, Verlaine, Rodenbach. O volume que possuo deste, “La Jeunesse Blanche”, foi-me dado por ele. Foram-me dados por ele “Les Fleurs du Mal”, de Baudelaire, e as tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípedes, na versão francesa de Leconte.
Em “De Profundis” havia um poema autobiográfico:
“Meu cérebro é um moinho tenebroso,
Um moinho que gira sem cessar...”Na realidade, porém, era o seu cérebro um moinho maravilhoso. Que de coisas aprendemos com ele. À noite, depois do jantar, descíamos a rua da Liberdade a pé, em direção ao centro. Pelo trajeto vínhamos recitando versos. Recitando e compondo. A mocidade é uma Castália; tudo, dentro de nós, eram motivos poéticos. Marcávamos “rendez-vous” para a inspiração em plena rua, sob o tintinabular dos bondes. A gente olhava-nos espantada. Quantas vezes não gritei à noite aquele desejo do poeta de ser enterrado “numa estranha alameda”, tendo junto dele, “como guardas parados”,
Dois renques laterais de palmeiras sem palmas.
Altas, quase tocando o azul dos céus profundos,
Para onde embalde voa a esperança das almas.José Lannes foi um dia fazer exame de Direito Romano, com Reinaldo Porchat na banca. Era hábito do grande catedrático mandar o examinando procurar os textos no “Corpus Juris”. O poeta do “De Profundis” não estava, porém, preparado para o terrível exercício. Para começar, não tinha o “Corpus Juris”. Com o seu invulgar “olho clínico”, Porchat percebeu logo que o seu aluno estava inteiramente a quo na matéria. Perguntou-lhe, então, à queima-roupa:
— O senhor conhece o “Corpus Juris”?
E ele, imediatamente:
— Se o conheço, excelência! Tenho-o até numa edição de bolso.
Terminado o exame, José Lannes cruzou no corredor com Herculano de Freitas. Herculano deteve-o:
— Escute, moço, — disse-lhe o diretor — gostaria de conhecer a sua edição de bolso do “Corpus Juris”. Deve ser um exemplar único. Foi feito especialmente para o senhor?
É pena que nem José Lannes nem eu tenhamos guardado cópia dos versos humorísticos do livro intitulado “Dias de Chuva”. Lembro-me do poema que ele dedicou “A uma mulher feia”. Júlio Dantas dissera: “O amor por uma feia é o maior que existe”. José Lannes, porém, não estava de acordo com ele. “Se feiúra matasse”, dizia, fechando o poema, “há dez mil anos estarias morta”.
* * *
Por efeito de um acordo na política interna da Faculdade, a presidência do Centro Acadêmico “XI de Agosto” coube, em 1919, ao sr. Abreu Sodré. Candidato de conciliação, entendeu, então, o ilustre acadêmico, que lhe cumpria associar-se a todos os movimentos estudantis, mormente dos que nasciam sob as velhas Arcadas.
A grande campanha daquele tempo foi o voto secreto.
Não se fundara para outro fim, aliás, a Liga Nacionalista. Sob a presidência de Vergueiro Steidel, catedrático de Direito Comercial, — “catedrático de civismo”, segundo se dizia nos discursos laudatórios da época — o grêmio fechado pelo sr. Artur Bernardes quebrava lanças em favor da renovação dos nossos costumes políticos. O voto secreto, posto em moda pelo professor Sampaio Dória, era preconizado como o elixir da longa vida dos regimes democráticos. Eu mesmo saí pelo interior do Estado em missão de propaganda e ainda hoje me lembro de uma conferência em Limeira, sob a presidência do juiz de Direito da comarca, acolitado pelo prefeito do município.
A verdade do voto afigurava-se-nos a chave misteriosa de todos os progressos cívicos. Com a boca transbordando de citações de Rui Barbosa, vivíamos a fazer discursos pelas esquinas. Nas reuniões do Centro Acadêmico “XI de Agosto” era o voto secreto um pretexto para o combate ao situacionismo. O sr. Abreu Sodré, tomando muito a sério o papel de conciliador, via-se em palpos de aranha para conter a onda da demagogia. Ia de um lado para outro, visitava todas as classes, tomava parte em todas as chopadas, dava palmadinhas nas costas de todos os estudantes, escrevia cartas de apresentação, arranjava passes, que sei eu?
A Liga Nacionalista batia-se a favor da verdade eleitoral, é certo, mas as suas campanhas visavam, de preferência, à educação do eleitorado. Em seu famoso discurso de outubro de 1915, Olavo Bilac pregara a necessidade de uma assistência completa ao homem no Brasil: assistência intelectual, assistência moral, educação política. A Liga Nacionalista queria, então, o voto secreto, a fundação de escolas de primeiras letras, o combate às endemias e a guerra ao álcool.
A guerra ao álcool repercutiu também no Centro “XI de Agosto”, em reunião presidida pelo sr. Abreu Sodré. Houve discursos e projetos. A certa altura, porém, pediu a palavra pela ordem o estudante Américo Franklin de Meneses Dória, que ouvira em silêncio, até então, tudo quanto fora debatido pelos seus colegas.
— Pedi a palavra, sr. presidente — começou o orador — para protestar contra “a guerra ao álcool”, em nome das mais puras tradições desta Academia!
Não se descreve o escândalo que tais palavras provocaram. Todos falavam ao mesmo tempo. Todos gritavam. O sr. Abreu Sodré, na qualidade de anjo da paz, só faltava pedir aos moços pelo amor de Deus que ficassem quietos. Falasse cada um por sua vez. Se queríamos, na vida pública, a liberdade de pensamento, por que não deixar falar o colega? Virou-se, então, para o sr. Américo Franklin de Meneses Dória, que de braços cruzados esperava amainasse o temporal, e disse-lhe:
— Está com a palavra o sr. Américo Franklin de Meneses Dória.
O orador entrou a justificar o seu protesto:
— Numa casa como esta, que inscreve no seu frontispício três nomes de poetas, Álvares de Azevedo, Castro Alves, Fagundes Varela, uma campanha contra o alcoolismo é uma profanação. Quem não se lembra das “Noites na Taberna”? Sr. presidente, a bebedeira é uma tradição acadêmica! Tenho dito!
Não foi possível chegar-se ao fim da reunião em paz. “Quel giorno piú non vi leggemo avante”, diz Francesca a Dante e Vergílio, no “Inferno”. Daquele dia em diante não se pensou mais em combater o alcoolismo sob a presidência do sr. Abreu Sodré.
* * *
São Paulo, em 1919, ainda era simplesmente o “triângulo”.
Não existia, com efeito, a praça do Patriarca, de maneira que a rua Barão de Itapetininga, vista de longe, fazendo fundo ao Viaduto do Chá, era ainda suburbana. Os estudantes só se lembravam dela à noite, como passagem forçada para o Cine República, ou nos dias de trote, quando a “peruada” demandava a Escola Normal. Toda a elegância paulistana se concentrava na rua Direita, aos sábados. Aos domingos, havia o Hipódromo. Nos bairros aristocráticos de além-avenida, havia os clubes recreativos, com tênis obrigatório.
Tito Pais de Barros, o Apolo da turma, exibia-se a cavalo nas pistas elegantes. Era um moço bonito e vistoso. Não ornava no interior da velha e escura sala 2. Sua linda cabeça de estátua grega exigia outra moldura. Nascera para andar de túnica, coroado de pâmpanos e rosas. Dava a impressão de ter fugido de um pedestal. A gente, sem querer, lembrava-se de um soneto de Heredia, “Le Coureur”:
“On dirait que l’athléte a jailli hors du moule,
Tandis que le sculpieur le fondait tout vivant”.Por ocasião das eleições de novembro de 1919, uma das mais renhidas da época, Tito chegou-se a José Hildebrando, no dia do pleito, e pediu-lhe para ver a cédula. Tito pertencia ao grupo favorável à candidatura do Alcides Sampaio. José Hildebrando, à de Soares de Melo. José Hildebrando figurava na chapa, como membro da Comissão de Sindicância.
Tito acercou-se do colega, à boca da urna:
— Deixa-me ver a tua cédula. Quero ver se é igual à minha.
Em três tempos, Tito tomou a cédula e substituiu-a pela do seu partido, devolvendo-a, em seguida. José Hildebrando não percebeu a escamoteação. Votou contra o próprio partido. Votou contra ele mesmo.
Brasílio Machado Neto, herdeiro de um nome ilustre, irmão e colega de Antônio de Alcântara Machado, não queria saber de literatura. Era um adolescente bem fornido. Jogava tênis. Só aparecia nas aulas para ler os jornais do dia. Em tais ocasiões, espichava as pernas, afundando no banco. Abria o jornal e lia-o da primeira à última página, indiferente às preleções. Às vésperas dos exames, homiziava-se em casa, com apostilas e compêndios.
Francisco Nascimento Pinto, rosto picado de bexigas, era dado a serenatas e piqueniques. Reunia um grupo no fundo do corredor, lá para os lados do túmulo de Júlio Franck, e cantava modinhas com uma linda voz de barítono. Continuava o sarau em sua casa, para meia dúzia de amigos íntimos. Era meu infalível companheiro nos dias de exame oral. Olhava para o meu lado, do alto da “mesa do pensamento”, esticava os beiços e sorria amarelo, como a dizer:
— Estou a quo.
Alexandre Sales de Oliveira arranjava sempre um jeito de encaminhar a discussão, nas rodas em que tomava parte, para questões de estética. Fingindo-se então, de desencantado, exibindo mesmo uma superioridade que lhe não granjeava demasiadas simpatias, citava Benedeto Croce:
— Isso já está na “Estética”, de Croce. Porque Benedeto Croce...
E ia por aí a fora, como aquele Monsieur de Santot, nas “Ilusões Perdidas”, de Balzac, que preparava de manhã as citações da noite, nas reuniões mundanas de Paris.
Elias Chaves Neto entrou brigando. Logo no primeiro ano, fiel à tradição de seu parente Eduardo Prado, autor de “A Ilusão Americana”, ofereceu espontaneamente uma tese contrária à Doutrina de Monroe. Não morria de amores pela política dos Estados Unidos da América. E antes que se arrependesse de pensar assim, escreveu a tese e entregou-a. Lavrou um protesto de moço.
Paulo Amaral Campos era o menos “acadêmico” de todos. Muito quieto, muito tímido, só se abrindo com o Gontijo, estudava Direito para satisfazer a um desejo do pai. Não tinha, todavia, a menor vocação para a advocacia. Queria viver na fazenda, entre árvores, e não num escritório da cidade, entre livros e autos.
Uma palavra de saudade, agora, para Cornélio Procópio de Araújo Carvalho, ledor de Maupassant e Anatole.
Cornélio Procópio só aparecia na escola em dia de eleição. “Vim cumprir um dever de amizade”, dizia, olhando para Antônio Gontijo de Carvalho. Trocava a noite pelo dia. À noite, depois do jantar, tomava um táxi, dava uma volta pela cidade e ia ancorar na rua Barão de Itapetininga, em casa da Fernanda. A italiana declamava-lhe a “Divina Comédia”, encarapitada no alto de u’a mesa, e Cornélio Procópio, por sua vez, declamava-lhe os seus versos próprios...
Foi um voluntário da morte. Escreveu uma carta de despedida ao Gontijo, tomou um trem e rumou para a sua fazenda em Porto Ferreira. Assim que penetrou em terras de sua propriedade, cumpriu o maior de todos os gestos de renúncia. Morreu em seu chão. O amor à gleba foi a última inspiração da sua vida.
* * *
Custódio Cardoso de Almeida chefiava a turma dos “vovôs”, a que pertenciam Roldão Lopes de Barros, professor da Escola Normal da Praça, Zulmiro de Campos, professor de uma escola normal no interior do Estado, Antônio Ribeiro de Miranda e Manuel de Matos Aires, fiscais do imposto de consumo, Adolfo Guimarães Correa, rábula em Rio Preto, com fama de “doutor” em “grilos”, Guilherme Nóbrega, Onofre Peres.
Não eram propriamente velhos. Eram apenas os mais velhos da tribo.
Custódio Cardoso de Almeida, banqueiro, possuindo tradição política, irmão do líder de S. Paulo no Congresso da República, sentia-se remoçar na nossa companhia. Todos os dias, depois da última aula, nós nos reuníamos em torno dele, à mesa de um “café”. Custódio pagava generosamente a consumação. Falando baixo e rouco, como se a voz se lhe engasgasse nas amígdalas, punha a mão no bolso num grande gesto, e chamava o garçom:
— Eu pago tudo — dizia.
Aguinaldo de Melo Junqueira, esfuziante e irreverente, retribuía a gentileza do colega em anedotas.
Falando e rindo ao mesmo tempo, com duas taturanas sobre os olhos, usando uma voz desafinada, que lhe saía pela boca muito aberta, o futuro presidente do Centro Acadêmico “XI de Agosto” não se deixava constranger pelas cãs de Custódio. Contava-nos coisas do arco-da-velha, sob gargalhadas indiscretas. Custódio ria muito. Ria com o corpo todo, em movimentos miudinhos. Levava de vez em quando a mão às orelhas como a querer segurar o algodão no ouvido. Enrolava cigarros de palha, um atrás do outro.
Aguinaldo não se sentava como todo o mundo se senta. Fazia uma espécie de balanço. Passava um braço pelo espaldar da cadeira ao lado. Equilibrava-se nos pés de madeira. Invocava freqüentemente o testemunho de Francisco Martins de Andrade, seu sócio em tudo. “Não é verdade, Chico?” — era o ritornelo. Aguinaldo e Chico Martins foram os precursores do condomínio: o que era de um era do outro. Em matéria de dinheiro, Aguinaldo servia de caixa a Chico Martins, Chico Martins servia de caixa a Aguinaldo.
— Não é verdade, Chico?
Chico Martins confirmava. Aguinaldo prosseguia. Custódio divertia-se.
Custódio Cardoso de Almeida matriculou-se no primeiro ano, em março de 1919, juntamente com o filho Paulo e um sobrinho. Pai, filho e sobrinho integraram-se completamente na vida acadêmica. Custódio, principalmente, fez-se estudante em toda a extensão da palavra. Nos dias de prova escrita, era de vê-lo debruçado sobre a mesa, às voltas com as “sanfoninhas”. A consulta aos apontamentos era praticada com mil e uma precauções. Mesmo quando permitida pelo mestre, tínhamos prazer em levá-la a efeito debaixo de mistério, como uma coisa ilícita.
Era um dos alunos mais assíduos. Na aula, ocupava habitualmente o primeiro banco, ao lado de Antônio Ildefonso, José Hildebrando, Paulo Barbosa, Roldão e outros. Uma alegria verdadeiramente infantil se lhe estampava no rosto quando o Pedrão ou o Argemiro, o Abílio ou o Claro informavam aos estudantes a ausência do catedrático. Com o cigarrinho de palha ao canto da boca, baixo e gordo, a cabeça diretamente apoiada nos ombros, rodeado de colegas, atravessava o largo de São Francisco, rumo ao “Café Acadêmico”.
Ao passar pelo Saraiva, o velho livreiro, sempre de mãos nos bolsos da calça, aparecia à porta e cumprimentava-o:
— Então, “doutor” Custódio, como vão os “meninos”?
Os meninos éramos nós.
Todos nós, em regra, estudamos para obter um diploma. Custódio, não. Custódio estudou para voltar a ser jovem. Foi-lhe a Academia um pretexto para a segunda mocidade. Ninguém se divertiu mais do que ele. Nada lhe causava maior alegria do que a nossa irreverência. Era dos que mais se deliciavam com a atitude do Raul Noce, que invariavelmente, houvesse ou não houvesse lugar, assistia à aula de pé, a um canto da sala, na primeira fila.
Nos primeiros tempos, alguns professores estranharam aquele cidadão de pé, num canto da sala. Viram depois que era u’a mania como outra qualquer. E ninguém mais se preocupou com ele. Só o Custódio não se cansava de comentar o fato. Tinha-se a impressão de que Raul Noce estava sempre à espera de uma oportunidade para um “béstia”.
* * *
Depois de uma sessão de cinema no “República”, vínhamos em bando para o “triângulo”.
Os estudantes de Direito disseminavam-se por todos os “cafés” da cidade. O “Guarani”, na rua XV, acolhia um grupo numeroso; o “Acadêmico”, à esquina da rua de S. Bento, outro grupo bastante numeroso. Nós preferíamos o “S. Bento”, na rua do mesmo nome. Era “café” e salão de bilhar. Juntávamos duas ou três mesas e em assembléia (diríamos hoje “tavola redonda”) discutíamos Política, Literatura, Direito.
Eram os dias inquietos do movimento futurista no Brasil, que contava em S. Paulo com o apoio do “Jornal do Comércio”. A Faculdade de Direito, não obstante, conservava-se à margem dele. No domínio da prosa, o ídolo dos rapazes era Anatole France, para cujo endeusamento Carlos Pinto Alves fundara um jornalzinho literário, que teve duração efêmera. Nos domínios da poesia, os parnasianos e simbolistas. Baudelaire, entre os franceses, era o predileto.
As reuniões no “Café S. Bento” começavam em prosa e terminavam em verso.
A pedido de Lúcio Cintra do Prado e Antônio Gontijo de Carvalho, eu tinha invariavelmente de declamar os sonetos reunidos mais tarde em volume sob o título de “Mãos Vazias”. A turma ouvia-me em silêncio, com bastante sirnpatia. Havia um soneto em alexandrinos que contava com a preferência do grupo. Era um soneto em que se falava de um amor que por não ter sido descoberto pela mulher amada teve de ser confessado aos gritos. Este verso — “Tudo quanto é preciso abafar, sufocar” — talvez por causa da ênfase com que o declamador acentuava os rr (abafar, sufocar), ganhava, todas as noites, o primeiro prêmio.
A certa altura, quando mais nostálgico parecia o ambiente, gritava-me Aguinaldo Junqueira:
— Recita “As meninas do sobrado”!
José Lannes, a figura literária de maior prestígio dentro e fora da Academia, convidara-me a colaborar com ele na confecção de um livro de poesias humorísticas. O livro deveria chamar-se “Dias de Chuva”. Naquele tempo, quando chovia, a gente ficava em casa, a olhar a rua através da vidraça. Eu compusera “As meninas do sobrado”, “O bode e a cabrita”, “O IX Mandamento” e outros poemas despretensiosos.
Aguinaldo Junqueira insistia. Eu declamava:
“Eu tive uma profunda simpatia
Por aquelas meninas do sobrado.
Namorava-as com o máximo cuidado:
— Uma, durante a noite; outra, de dia.
Era de ouvir tudo o que se dizia
Delas, de mim, do nosso idílio ousado!
De muita gente ouvi: “Moço escovado!”
De quase todos: “Que patifaria!”
Eu, porém, não ligava àquela gente.
Certo é que um belo dia, de repente,
O pai delas me viu... Mudei de cor.
E quando me dispunha a abrir o pala,
O velhote me chama e assim me fala:
— Não se importe cíomigo, sêo doutor!”“O bode e a cabrita” era, em dois sonetos, a história de uns amores contrariados. O bode gostava da cabrita. Houve oposição. O bode enlouqueceu, a cabritinha entrou para um convento e acabou casando com o capelão. Como nas histórias de crianças, o poema começava assim:
“Era uma vez um bode e uma cabrita.
Dentre as suas amigas do lugar
Era ela, com certeza, a mais bonita,
E ele... um bode de revolucionar!”A sessão poética terminava lá pelas tantas. Tinha início, então, a sessão de bilhar. Lúcio Cintra do Prado, Aguinaldo Junqueira, Francisco Ribeiro da Silva e eu organizávamos a parceirada. Gontijo recolhia-se mais cedo do que nós. O bilhar era, aliás, um pretexto para comer pastéis e beber cerveja. Servia, além do mais, para ajudar a passar as horas, à espera do primeiro bonde de Vila Mariana, sob o friozinho gostoso das madrugadas paulistanas.
* * *
Os convites do Centro Acadêmico “XI de Agosto”, aos homens ilustres de passagem por S. Paulo, para uma visita à Faculdade de Direito, têm servido invariavelmente de pretexto para provar:
1.° — Que a mocidade acadêmica paulista acompanha com o maior interesse a ação dos homens públicos e sabe fazer-lhes justiça;
2.° — Que o culto do “homem público” é uma das boas coisas que a velha escola ensina aos seus alunos;
3.° — Que a manifestação dos estudantes, na vida daqueles homens, equivale a um comentário cívico, uma espécie de antecipação do julgamento da posteridade.
Domício da Gama era, em 1919, conforme diríamos hoje, um grande cartaz. Ministro das Relações Exteriores. Pertencia à Academia Brasileira de Letras. Fora amigo de Eça de Queiroz, que se deixou até fotografar na sua companhia, vestido de mandarim. Carregava, além do mais, a alcunha de “Nabuquinho”, que lhe dera um deputado mineiro. Era uma das figuras mais prestigiosas da diplomacia brasileira. Gozava da intimidade de reis e príncipes.
Fisicamente não tinha nada de extraordinário. Magro e alto, com feições levemente orientais, sorria pouco. Tinha medo, talvez, de comprometer-se. Falava devagar e era evidente a sua preocupação de fazer estilo. Chegou à Faculdade pelas mãos de Altino Arantes, então presidente do Estado. Atravessou o saguão debaixo de palmas. Debaixo de palmas entrou no salão-nobre. Sentou-se. Tudo isso foi feito solenemente, com solenidade verdadeiramente diplomática.
Houve, porém, desde logo, uma quebra do protocolo elaborado para a festa. Falaram dois oradores. Um deles escolhido pelo presidente do Centro e o outro em função do seu cargo de orador oficial do grêmio. Este era o sr. Osvald de Andrade, bacharelando e jornalista, já bastante temido por causa da irreverência do seu espírito. O futuro autor das “Memórias de João Miramar” então se preparando para líder da sua geração literária, entendia que devia falar, pois para isso fora eleito orador oficial do “XI de Agosto”. E falou.
Domício da Gama andava na ocasião de relações cortadas com Rui Barbosa. O sr. Osvald de Andrade achou meio, então, de falar em Rui Barbosa. Foi a conta. A assistência parecia estar à espera daquele nome para vibrar. Desabafou-se. Rui era o nosso ídolo. Entre Domício e Rui não era possível senão estar com o segundo. Conhecíamos a existência e a história do desentendimento entre ambos. Os nossos aplausos traduziram o nosso desagrado pela ausência de Rui na Conferência de Versalhes.
Sob esse ambiente, levantou-se Domício da Gama para agradecer. Percebeu que pisava em terreno escorregadio. Não lhe passou despercebida a intencão dos nossos aplausos. Falou, no entanto, como se nada houvesse acontecido de anormal. Em dado momento, depois de haver exposto, em linhas gerais, os trabalhos da Conferência e de ter acentuado a sua importância para o mundo, citou três nomes de “Apóstolos da Paz”: Wilson, Lloyd George e Clemenceau.
Antônio Campos de Oliveira, aluno do primeiro ano, não se conteve:
— Exijo justiça para Rui Barbosa! — exclamou.
A assistência concordou com o jovem acadêmico e o nome do conselheiro, por ele invocado com tanta oportunidade, constituiu motivo para novo desabafo.
Quem salvou a festa foi Altino Arantes.
Eram os grandes dias de S. Paulo na política da República. Tínhamos prestígio. Mas, talvez por isso mesmo, considerávamos S. Paulo responsável por uma porção de coisas com as quais não estávamos de acordo. No meu grupo, pelo menos, Altino Arantes, mentor supremo da política paulista, não contava com simpatias incondicionais. Todavia, a naturalidade com que ele, fugindo ao protocolo, pediu a palavra para falar aos moços, depois de Domício, conquistou-nos. Começamos a ouvi-lo com interesse. Moço ainda, tendo iniciado no governo do Estado a tradição dos presidentes intelectuais, falou com correção e elegância. Falou com ênfase. Os problemas da política internacional não tinham segredos para ele. Era, em verdade, um estadista.
Ninguém mais se lembrou de Domício da Gama. Altino Arantes foi o herói do dia.
* * *
Vítor Manuel Orlando realizou em São Paulo, em 1919, três visitas: uma, ao Instituto da Ordem dos Advogados, outra ao Instituto Histórico, e a terceira á Faculdade de Direito.
Ex-primeiro-ministro da Itália, vinha da Conferência da Paz e trazia o nome aureolado, não só pelo seu prestígio de grande professor de Direito, uma das maiores autoridades em Direito Administrativo, como de parlamentar, político e diplomata. Era baixo e gordo. Era principalmente um homem sólido. Os cabelos brancos em desalinho, imitando juba, emprestavam-lhe uma sedução especial à tez morena de siciliano. Falava com ímpeto, batendo muito a mão na mesa.
Sua oratória empolgou-nos.
Professor e político, possuindo então do primeiro a compreensão e a tolerância, e do segundo a habilidade e a malícia, em três tempos descobriu o fraco dos estudantes de Direito. Ao levantar-se para o discurso de agradecimento, exaltou a política de aproximação Brasil-Itália. Descreveu-nos em largas pinceladas a política dominante na Europa, no seio da Conferência da Paz. Ligou tudo isso à posição do Direito no mundo. E perorou erguendo um hino a Rui Barbosa e falando muito em “paulistismo”.
Falar em Rui Barbosa na Faculdade de Direito e de “paulistismo” em São Paulo era mexer na nossa corda sensível.
De volta, igualmente, da Conferência da Paz, passou por S. Paulo o estadista uruguaio Juan Antônio Buero. Um dos mais jovens estadistas sul-americanos. Ministro das Relações Exteriores do seu país, representante deste na Conferência de Versalhes, achava-se ligado a São Paulo pela sua amizade com Spencer Vampré. Ambos tinham sido, como estudantes, membros de um congresso sul-americano de estudantes. Eram ambos muito moços ainda e o seu encontro na velha Academia ofereceu-nos ensejo para uma retumbante manifestação de simpatia à jovem inteligência da América.
O mexicano d. José de Vasconcelos, ministro e reitor da Universidade, grande autoridade em educação, estando em São Paulo, visitou-nos.
Lembro-me de um homem de estatura regular, moço ainda mas solene, envergando sempre um fraque. Era de preferência educador. Sentiu-se, porém, à vontade no meio dos acadêmicos de Direito. Contou-nos coisas interessantes do México. Falou no intercâmbio cultural e afetivo. Teve a franqueza de confessar que o nosso país era inteiramente ignorado ao Norte. Lamentou, no entanto, essa ignorância, dizendo que o Brasil, segundo já pudera averiguar, era um vizinho digno de ser conhecido, estudado e admirado. Saudou-o o estudante Oscar Stevenson.
A cada visita de homem ilustre, vibravam as Arcadas.
Tais visitas eram, invariavelmente, um pretexto para a afirmação de nossa consciência cívica. Em torno de Vítor Manuel Orlando, o nosso entusiasmo fixou-se principalmente na posição do Direito e fizemos votos pela vitória dele nas grandes assembléias políticas internacionais; em torno de Juan Antônio Buero, o nosso entusiasmo visou de preferência à cordialidade americana e fomos pan-americanistas antes de Franklin Roosevelt; em torno de d. José de Vasconcelos, pregamos o prestígio do continente americano e sobretudo da inteligência americana no mundo.
Se se reunissem em volume os discursos de saudação dos estudantes aos homens ilustres que um dia passaram pela Faculdade, em visita de aproximação e de aplauso, notaríamos a absorvente preocupação da mocidade acadêmica paulista: a exaltação do ideal na pessoa dos seus paladinos. Era o ideal o nosso inspirador e patrono, o ideal tal como o definira Ingenieros — “un gesto del espirito hacia alguna profeccion”.
Queríamos, naquele tempo, a perfeição política. Batíamo-nos em favor de um regime que aproximando os países aproximasse principalmente os homens, fazendo destes, não rivais, mas irmãos.
* * *
PACHECO PRATES — Era já um homem de idade muito avançada quando em 1920 nos deu a primeira aula de Direito Civil. Cabelos e bigodes brancos. No verão ou no inverno vestia um sobretudo espesso e andava de cabeça baixa, talvez por causa da miopia, que era excessiva. Nós nos descobríamos à sua passagem e respeitosamente o cumprimentávamos:
— Bom dia, professor.
E ele, sem levantar os olhos, como que temendo freqüentemente uma sortida dos rapazes:
— Bom dia.
No alto da cátedra, enquanto o bedel entoava a costumeira ladainha da “chamada”, soletrava o enunciado do ponto, com o programa quase metido nos olhos. Dava sempre a impressão de um homem zangado. Mas era só impressão. Não havia maior amigo dos alunos. Interrompia muitas vezes a exposição para dizer-nos: “O problema da “Posse” é um dos mais difíceis do Direito Civil. Peço-lhes, porém, encarecidamente, que me comuniquem as suas dúvidas. Eu moro na rua Olinda e não tenho o hábito de sair de casa. Podem procurar-me.”
Não me lembro de nenhuma estudantada nas suas aulas, durante os três anos em que acompanhou a minha turma. Apesar de santo, revelava, em se tratando de civilistas, predileções e idiossincrasias. O baiano Almáquio Diniz era invariavelmente “um tal sr. Almanaque Diniz”. Clóvis Beviláqua merecia-lhe especial atenção. De vez em quando, entremeava de citações literárias a exposição do “ponto”. Gostava de Dante e comumente lhe ouvíamos referência à “Divina Comédia”. Era, todavia, um homem enxuto, sob o ponto de vista do estilo. Pão, pão, queijo, queijo. Nada de divagações. “Em nosso país — dizia-nos — faz-se mais Literatura do que propriamente Direito. Nos domínios do Direito Civil, por exemplo, o que há de mais falado é uma obra de Português, em que se debatem problemas filológicos”.
Muito religioso, antes de entrar na Faculdade passava pela igreja de S. Francisco, ao lado, onde fazia orações três vezes por semana. À noite e aos domingos freqüentava a Ordem Terceira do Carmo, onde havia outros gaúchos ilustres, seus amigos do peito. Rezava em voz alta e dava a mesma entoação quer às preces, quer aos cânticos de igreja. Sei de muita gente que se atrapalhava quando, ao seu lado, tinha de cantar o “Ave, Ave Maria”. Pacheco Prates tinha um diapasão único. Na igreja ou na cátedra era invariavelmente em voz de cantochão que se exprimia.
Certa vez, não sei porque cargas d’água, entrou o velho mestre a defender-se da acusação de miopia:
— Os senhores estão muito enganados se pensam que eu não enxergo à distância. Enxergo muito bem. Daqui onde estou sou capaz de distinguir qualquer pequeno objeto sob o banco em que os senhores estão sentados.
Endireitou o busto, soergueu a cabeça e disse, apontando para baixo, à distância de três ou quatro bancos:
— Sei perfeitamente que aquilo é um lápis. Algum dos senhores deve tê-lo perdido.
Um dos rapazes atalhou, mais que depressa:
— Que pena, professor, não é um lápis, é um guarda-chuva!
No segundo semestre de 1923 fomos convidá-lo para paraninfar uma turma de bacharelandos. Ouviu-nos com lágrimas nos olhos. Custou a dizer palavra. “Muito obrigado, muito obrigado — repetia, tentando disfarçar a comoção. — Os senhores escolhem mal. O dia de formatura é um dia de festa. Eu vou estragar a festa dos senhores. Não sei fazer discursos. Nem sei se tenho autoridade para dar conselhos. A Faculdade de Direito de São Paulo é uma das poucas coisas sérias que o Brasil possui. Os senhores levam o curso inteiro a fazer piadas, mas a verdade é que no fundo, inconscientemente, fazem história — a história dos nossos grandes movimentos cívicos. Muito obrigado, muito obrigado.”
Contei em outro lugar o que foi a nossa festa de formatura. A nossa turma teve dois paraninfos: Estêvão de Almeida e Pacheco Prates. Nenhum dos dois conseguiu ler o discurso de praxe. Pacheco Prates limitou-se por isso a colar-nos grau e a abraçar-nos carinhosamente. Não era um paraninfo abraçando bacharéis novos em folha: era antes um pai abraçando uma porção de filhos e tendo para cada um de nós palavras de muita amizade. O ato, que nós quiséramos solene, tornou-se simples. Foi, porém, uma simplicidade tocante, que arrancou lágrimas.
* * *
BRAZ ARRUDA — Professor de Direito Internacional Público, o benjamim da Congregação, quase da idade dos seus alunos.
Apesar da opinião de Pacheco Prates, que considerava o Direito Internacional Público “perfumaria jurídica”, a matéria interessava-nos. O mundo emergia de um pesadelo, a primeira Grande Guerra. Na Conferência da Paz, alguns homens de boa vontade se esforçavam, à sombra dos princípios de Wilson, por uma Sociedade das Nações em que o sentimento de solidariedade apagasse a distinção geográfica entre “grandes” e “pequenas” potências. Aristides Briand lançava a idéia de uma Confederação dos Estados Europeus, espécie de Pan-Europa a “fazer pendant” com a Pan-América. Admitia até a hipótese de uma língua única.
Braz Arruda vivera como nós o portentoso drama: acompanhara-nos debruçado sobre livros e mapas, devorando tudo quanto existia nas bibliotecas. Ledor infatigável, dotado além do mais de invulgar memória, conhecia os tratadistas na ponta da língua. Entre os estrangeiros, preferia Oppenheim; entre os nacionais, Lafaiete. Fundira em seu cérebro todas as doutrinas em voga e um belo dia veio à tona das suas leituras e dos seus estudos com uma tese original sobre “Socialismo harmônico”.
O concurso em que disputou a cadeira ao dr. Antônio Sampaio Dória foi uma revelação.
O mocinho irrequieto que vivia discursando e piscando por toda a parte, ora atendendo, ora fugindo às solicitações de “Fala o Arrudinha! Fala o Arrudinha!”, enfrentou com entusiasmo a banca examinadora. Defendeu-se como um leão. O valor do adversário, que batia às portas da Academia com a autoridade de emérito constitucionalista e professor de curso secundário de altas qualidades pedagógicas, obrigou-o a um esforço considerável. Deu tudo o que podia na “prova didática”. E venceu.
É, em verdade, a “prova didática” a que melhor revela o professor.
Na dissertação escrita, o candidato afirma conhecimentos especializados da matéria, a par do conhecimento da língua; na defesa de tese, sustenta a força das suas convicções, por entre a fuzilaria das objeções e contraditas; na prova didática, entretanto, exibe, antes de mais nada, os seus dons de expositor, ou, melhor ainda, a sua capacidade de transmissão. Ensinar é transmitir. Exige disciplina do espírito, locução fácil, exposição metódica, dom de simpatia intelectual. Ensinar é comunicar. Pressupõe convicção. Um discurso convence ou empolga; uma aula não precisa empolgar, basta que convença. Basta que elucide, oriente ou informe.
Braz Arruda nem sempre manteve na cátedra, como professor, o equilíbrio revelado no concurso, como candidato. Não direi que tivesse dormido sobre os louros da vitória. Suas aulas, todavia, assumiam freqüentemente o tom de polêmica: o professor a discutir com o professor. A irrequietude do seu espírito afirmava-se, no entanto, em controvérsias que traziam o cunho da mocidade e que eram invariavelmente vivazes. A matéria, em época de exame, ficava reduzida a meia dúzia, se tanto, de teses com feição jornalística. Eram artigos de jornal as nossas provas escritas.
À saída, o jovem professor era envolvido pelos estudantes, muitos dos quais ligados a ele por velha amizade. Continuava então o debate sobre as doutrinas em choque no mundo inteiro. Braz Arruda saía apressado, em passinhos miúdos. Os estudantes tratavam de acertar o passo com ele. Era, nessas ocasiões, um estudante como os outros. Oferecia-lhes os seus livros. Pegava-nos pelo braço e atravessava conosco o largo de S. Francisco. À porta do Saraiva detinha-se. Entrava. Procurava as novidades. Fazia tudo a galope, como se tivesse pressa de voltar para a intimidade do seu lar e homiziar-se no recesso da sua biblioteca.
Bons tempos. No fundo, porém, cada um de nós estava de acordo com Tobias Barreto: o Direito Internacional Público era “a voz do canhão”.
* * *
CARDOSO DE MELO NETO — Professor de Economia Política, em plena lua de mel com a cátedra. Membro de uma família de advogados e incorporado pelo casamento a outra de políticos.
Suas ligações com a política dominante de S. Paulo e da República lhe criaram um ambiente de prevenção e de hostilidade na escola, durante o concurso para professor-catedrático. Os ventos da simpatia acadêmica sopravam para os lados de Arnaldo Porchat, concorrente de Cardoso de Melo Neto, juntamente com Gastão Neto dos Reis. No dia da defesa da tese, na hora em que ele ia ser arguido por Estêvão de Almeida, ouviu-se na sala de exame um viva estentórico:
— Viva o conselheiro Rodrigues Alves!
Ao fim das provas, logo depois de afixado o resultado das notas, a estudantada, reunida no pátio interno, resolveu esperar a banca examinadora com demonstrações de desagrado. Os professores que a tinham composto foram vaiados um por um. Foi então que Herculano de Freitas, detendo-se no terceiro degrau da escada que levava para o andar de cima, se voltou para os acadêmicos, de charuto em punho e beca ao vento. Como a vaia continuasse, exclamou:
— Antigamente, esta escola era um ninho de poetas; hoje, é um ninho de pardais.
Com o seu Almeida Nogueira na ponta da língua, Cardoso de Melo Neto impôs-se imediatamente aos alunos.
Não conversava fiado. Posto que falando sobre a origem da moeda e as leis econômicas como no tempo de ginásio a gente falava sobre Alexandre ou Cícero, não perdia tempo em divagações inúteis. Não faltava às aulas. Tinha um programa e cumpria-o. Chegava ao fim do ano com a matéria esgotada. Eram quarenta ou cinquenta pontos que nós precisávamos saber de cor e salteado. Não fazia concessões desnecessárias ao estudantes. Se fosse preciso reprovar, reprovava. Coube-lhe quebrar a tradição das aprovações em massa no último ano do curso.
Outro qualquer, dadas as circunstâncias que envolveram a realização do seu concurso e considerando principalmente o prestígio de que gozava em São Paulo a mocidade acadêmica, teria procurado agradar aos moços, distribuindo aprovações no dia do exame e fazendo discursos durante as aulas. Cardoso de Melo Neto não se desviou sequer uma linha da rota que para si mesmo traçara como professor. Fizera-se professor por vocação e não por um impulso da vaidade; queria, então, ser um professor em toda a extensão da palavra.
Chegou à Faculdade de Direito depois de ter passado pela Escola Complementar. Tinha, por isso, qualidades didáticas. Tinha, principalmente, a preocupação de ensinar. Cantava um pouco demasiadamente os nomes de Adam Smith, João Batista Say, Macleod, Leroy-Beaulieu, Almeida Nogueira, Gide. Enunciava a lei da oferta e da procura como se estivesse declamando um alexandrino parnasiano. Mas ensinava. Sabia transmitir os seus conhecimentos aos alunos. Exprimia-se com correção e elegância. Vestia as idéias com o mesmo apuro com que se vestia a si mesmo.
Entusiasmava-o uma prova bem escrita. Cumprimentava o aluno na banca de exame: “O senhor — disse a um deles, certa vez, — pode gabar-se de ter escrito uma prova em Português de lei. Felicito-o. O conhecimento da língua é uma das grandes armas do advogado.”
Fora da cátedra, mostrava-se afável sem subserviência. Moço ainda, caminhava um tanto inclinado para a frente, de chapeuzinho irreverente a um lado da cabeça, a esconder a calva promissora. No tocante à indumentária seguia muito de perto a tradição dos grandes elegantes da época: Reinaldo Porchat, Gabriel de Resende, Pinto Ferraz. Ternos impecáveis. Gestos distintos, de moço bem educado. Se encontrava um aluno à porta de um cinema, de uma confeitaria ou de um escritório, estendia-lhe a mão. Cumprimentava-o:
— Olá, major! Como vai, então, essa mocidade?
A mocidade ia sempre bem. Em dias de exame, porém, ia sempre mal. O mestre esquecia-se de tudo: queria matéria de verdade. Queria Macleod no original ou através de Almeida Nogueira. Não admitia evasivas nem permitia pilhérias. Formava, com Porchat e Vergueiro Steidel, o triângulo assustador. Reprovava sorrindo, como aquelas mulheres da história de Roma, que matavam amando.
* * *
Em regra, o estudante de Direito só aparece na escola sobraçando livros em dia de exame.
Aquele dia, porém, naquele ano, o calouro Alfredo Marques de Azevedo, apesar de figurar na lista de chamada, surgiu mais lépido do que nunca. Os colegas estranharam o fato e interpelaram-no. Ele respondeu que não pretendia fazer o exame. Queria apenas assistir. “Fico para a segunda chamada”, acrescentou.
Compunham a banca: Reinaldo Porchat, Herculano de Freitas e João Arruda. Quando chegou a vez do Marques, o professor Reinaldo Porchat cantou-lhe o nome em voz alta:
— Senhor Alfredo Marques de Azevedo.
O calouro, metido entre outros colegas, no meio da sala, prendeu a respiração e fingiu que não era dele que se tratava.
Porchat insistiu:
— Senhor Alfredo Marques de Azevedo. Não está?
Todos os olhares se voltaram para o lado do estudante. Ouvia-se o silêncio. Mas o calouro, impelido por uma força superior à da sua vontade, levantou-se, aturdido. Ficou em pé onde estava. O ilustre catedrático viu-o e chamou-o. “Faça o obséquio de aproximar-se”, disse. O Marques, movendo-se como um autômato, aproximou-se da banca, tirou os pontos e foi para a “mesa do suplício”. Como não tinha levado livros, não tinha o que consultar. Pôs-se a olhar para o teto e estou certo de que nunca lhe pareceu mais exata a imagem das horas “de pés-de-chumbo”.
O ponto de Direito Romano era “Interpretação das leis”. Porchat pediu-lhe que discorresse sobre a teoria de Savigny. O Marques tornou-se eloqüente. “Savigny, esse que assombrou a Alemanha no século passado, Savigny, o mestre dos mestres, Savigny...”
Porchat, imperturbável, atalhou:
— Sim, senhor, vamos ao ponto.
— ...de quem v. exa. é um dos grandes admiradores...
Porchat, que já estava por conta com a verborragia do examinando, não pôde esconder um gesto de contrariedade. Ajeitou o “pince-nez” e exclamou, como num grito:
— Eu?
O Marques, que parecia montado no cavalo de Mazepa, concluiu, triunfante:
— Sim, v. exa., e todos nós fazendo coro com v. exa.!
Que havia de fazer o grande mestre? Carregou o sobrecenho e passou adiante.
Tive outro colega, o Gastão Ferreira de Almeida, que nos dias de exame se fazia acompanhar por dois irmãos: ele e os irmãos carregados de livros. Foi em 1920, no 2.° ano do nosso Curso de Bacharelado. Sorteados os pontos, o “calouro enfeitado” foi para a “mesa do pensamento”. Os volumes empilhavam-se diante dele. Em Economia Política, não se contentava com Almeida Nogueira: levara Gide, Leroy-Beaulieu e outros. Em Direito Civil, Beviláqua e Planiol. O primeiro a examiná-lo foi o professor Braz Arruda, jovem e brilhante catedrático de Direito Internacional Público.
— Como o senhor sabe, — começou o mestre — na Idade Média, o Papa era escolhido para árbitro obrigatório de quase todos os litígios internacionais. Vejo, pelo arsenal em seu poder, que o senhor estuda muito. Quero, então, saber a sua opinião sobre o assunto.
O examinando não era como o uirapuru, que se cala para que os outros cantem. Falava mais do que todos os outros. Era uma catadupa. Mas ao ser provocado pelo professor jurou suspeição:
— Peço licença a v. exa. para não me manifestar sobre a matéria: sou suspeito.
A classe inteira caiu na risada. O examinador estranhou a atitude do rapaz. “O senhor é suspeito? Por que?” — inquiriu. E o aluno, com o ar mais natural deste mundo:
— Sim, excelência, sou amigo íntimo do Papa!
* * *
Diogo Pupo Nogueira não era da minha turma. Era, porém, do meu tempo. Estou a vê-lo, alto e magro, rosto em ponta, de um moreno avermelhado.
Havia na sua expressão fisionômica um tanto de sarcasmo. Fazia parte do grupo que em dias de trote soltava berros estentóricos: Calooooouro! Se o calouro olhava para trás, disfarçava, fingia estar conversando com os amigos, um dos quais, o mais íntimo, o inseparável, era Tácito de Almeida. Vida irregular. Passava as noites num “dancing” elegante da rua Barão de Itapetininga, onde havia uma hospedeira do outro mundo que recitava Dante. Era a Fernanda.
Diogo Pupo Nogueira fazia as apresentações.
— Este — dizia-lhe — é acadêmico e poeta.
Tanto bastava para que a Fernanda trepasse numa cadeira e começasse: “Nei mezzo dei cammin di nostra vita — Mi ritrovai per una selva oscura — Che la diritta via era smarrita”. E ia por aí a fora, entremeando a declamação com comentários gaiatos, mormente se um dos ouvintes se lembrasse de dizer-lhe que os versos estavam de acordo com a vida da declamadora...
Na véspera do último exame do curso, Diogo Pupo Nogueira foi à casa do professor Rafael Sampaio e contou-lhe uma história muito comprida. “Como o senhor sabe, — disse ao estimado catedrático — sou um moço pobre e me sustento no estudo com o meu trabalho próprio. Um trabalho de mouro: de sol a sol. Mal tenho tempo para freqüentar as aulas. Preciso do diploma para ver se dou um tiro nesta vida de canseiras. Sonho com uma promotoria numa comarca distante, mas tranqüila. Prometo estudar muito, dr. Rafael. Prometo fazer o que não fiz durante o curso. Por sinal que estou aqui exatamente para pedir-lhe que tenha pena da minha ignorância. Faço exame amanhã”.
Rafael Sampaio ouviu-o bondosamente, como era de seu feitio, e despediu-o com uma palavra tranqüilizadora. “Não há nada a temer da minha parte, dr. Pupo. Mais um, menos um, não tem importância. A Faculdade tem costas largas”.
No dia seguinte, a convite de Antônio Gontijo de Carvalho, que testemunhara a conversa da véspera em casa do velho mestre, fui assistir aos exames do 5.° ano. Lá estava Diogo Pupo Nogueira na “mesa do pensamento”. Parecia nervoso. Quando foi chamado, passou sem incidente de monta das mãos do dr. Sousa Carvalho para as de Spencer Vampré. O terceiro a examiná-lo foi o dr. Rafael Sampaio.
— Qual é o seu ponto?
Diogo Pupo Nogueira disse o número do ponto.
— O senhor não acha — começou o examinador — que as nossas leis processuais são retrógradas e que se deveria admitir, por exemplo, a citação das testemunhas pelo telefone?
O examinando, mais que depressa:
— Acho, sim, senhor. Acho que as nossas leis são retrógradas e que já era tempo de se admitir a citação das testemunhas pelo telefone.
Nova pergunta do mestre e nova resposta do aluno com as palavras daquele. O professor perguntava: O senhor não acha? O bacharelando respondia: Acho. O bacharelando achava tudo. Até que o dr. Rafael Sampaio, desejoso de evitar maiores proporções à catástrofe iminente, quis mudar de ponto. Consultou, então, o examinando:
— O senhor não acha melhor mudar de ponto? Foi a única discordância do rapaz:
— Não acho, não, senhor. Esse mesmo está muito bom...
Rafael Sampaio cumpriu a promessa. Mais um, menos um...
Diogo Pupo Nogueira era dado a discursos e conferências. Numa cidade da Mojiana, certa vez, entrou a dissertar sobre questões sociais. Citava como autores de nomeada os próprios condiscípulos, acrescentando-lhes ao nome a partícula “of”, para fingir que eram russos: Tacitof, Azevedof, Paulof. Mappin Stores, Mappin Webb, Houbigant de Coty e outros nomes de lojas e perfumes vieram também à baila. De repente, sem mais esta nem aquela, perorou: “Não, — exclamou, vermelho como nunca — a questão social não é um “caso de polícia”. É, pelo contrário, muito importante. Importantíssima. Prá pedra, prá pedrérrima!”
E sentou-se.
* * *
Os chefes do trote pertencem, em regra, ao 2.° ano: são os “calouros enfeitados”.
Explica-se. O “calouro enfeitado” traz ainda muito viva no lombo a marca das cacholetas que levou no ano anterior e aos seus ouvidos repercutem fortemente os gritos dos veteranos. Quer, então, vingar-se. Quer, principalmente, desforrar-se nos colegas mais novos das afrontas recém-sofridas. A partir do primeiro “XI de Agosto” que festeja em comunhão com os veteranos, põe-se a pensar no trote aos primeiranistas do ano seguinte. Estala os beiços de contente, antelibando o prazer das torturas a infligir. Acode-lhe ao espírito uma frase feita: a vingança é o prazer dos deuses.
Vários elementos da minha turma assumiram, então, o comando do trote aos calouros de 1920, entre os quais se encontravam alguns jovens que estão hoje em grande evidência, por motivo da posição política que ocupam: Gabriel Monteiro da Silva e Oscar Stevenson. Lembro-me, também, de Mário Tavares Filho e Valdomiro Lobo da Costa. Era uma turma reduzida. Não tivera como a nossa, no ano anterior, o “sursis” dos exames por decreto. Passara pelo alambique do vestibular. Vinha prestigiada pela seriedade dos estudos.
Havia no meio deles uma senhorita: Maria Imaculada Xavier da Silveira.
Artur Tarantino foi escolhido para servir de noivo da caloura, em cerimônia a ser realizada no pátio interno da escola, num dia de trote. A idéia, acolhida entusiasticamente pelos acadêmicos, foi executada com um verdadeiro luxo de pormenores. Albertino de Castro seria o padre, em atenção aos seus conhecimentos de latim de igreja. Pedro de Castro, outro elemento pertencente à colônia do Vale do Paraíba, seria o acólito, devido à sua voz de baixo, que uns diziam ser voz de taquara rachada.
A senhorita Maria Imaculada usava “lorgnon” e fazia-se acompanhar à escola por uma “fraulein”. A primeira parte da cerimônia consistiu em reverências à noiva por toda a Academia. Fizemos um “lorgnon” enorme: uns óculos de arame espetados num cabo de vassoura. Entregamo-lo à senhorita, que o segurou de má vontade, sem rir nem chorar, como na conhecida brincadeira de salão. Os estudantes desfilavam diante dela cheios de rapapés e mesuras. Tarantino, ao lado, agradecia. Pedro de Castro, precursor do “Pato Donald”, ia de um lado para outro, convocando os cortesãos.
A gritaria chegou aos ouvidos de Júlio Maia. O velho secretário assomou a uma das janelas do primeiro andar e pôs-se a acompanhar a cerimônia. Os estudantes, em coro, sob a regência de Albertino de Castro, entoavam cânticos de igreja. De igreja é um modo de dizer. Diziam duas ou três vulgaridades latinas em voz de cantochão. Albertino, muito magro e muito alto, emergia a cabeça do meio da rapaziada e entoava liturgicamente os textos do “Corpus Juris”.
Em frente aos “noivos”, o braço direito soerguido à altura do ombro, os dedos indicador e médio espetados na mão fechada, ora cantava o “Scire leges”, ora o “Juris precepta sunt haec”, ora o “Justitia est constans et perpetua voluntas”. De espaço a espaço recitava o “Dominus vobiscum”. A estudantada repetia nessa hora o amém, mas um amém que ia desde o “dó” de peito de Caruso até a voz rascante e grossa do Rinaldo Bulcão Giudice. Os “noivos” eram levados em procissão até o largo de São Francisco. Era uma festa de carnaval.
O “lorgnon” da senhorita alimentou o espírito dos estudantes. Eram, aliás, muito raras, naquele tempo, mulheres estudantes de Direito. A última de que nos lembrávamos já não pertencera à nossa geração. Perdurava, no entanto, na escola, a recordação da sua fealdade. Diziam os seus colegas que depois de formada fora nomeada chefe de Polícia em Goiás.
Quanto à senhorita Maria Imaculada continuou o curso de “lorgnon” em punho. Tinha apenas um comentário para os estudantes:
— Engrraçadinho...
Carregava muito nos “rr”, como se tivesse vindo de Paris na véspera. Ela e a “fraulein”, atravessando o largo de S. Francisco, entrando na escola, assistindo às aulas, indiferentes aos dichotes dos colegas, lembravam, em verdade, duas figurinhas de René Vincent, G. Dutriac, Poulbot, Lobel-Riche ou A. Steinlen, ilustrando as edições de Arthéme Fayard e Calmann-Lévy, antes da primeira Grande Guerra.
A impassibilidade da caloura era medida de legítima defesa.
* * *
Em fins de 1920, primeiro ano de Direito Civil, Pacheco Prates ainda era uma incógnita para nós. Não sabíamos se era, nos exames de fim de ano, exigente e reprovador. Sabíamos, quando muito, que era um excelente homem. Como, porém, não faltava às aulas e durante estas não cuidava senão do ponto do programa, pairava nos espíritos o receio de uma severidade proporcional à dedicação e à competência.
Antônio Gontijo de Carvalho, cujo nome não pode deixar de ser citado a miúdo por quem se aventure a escrever a história de um dos mais agitados períodos políticos da Faculdade do largo de São Francisco, tranqüilizou-nos. Éramos vários Franciscos: Francisco Martins de Andrade, Francisco do Nascimento, Francisco Ribeiro da Silva e eu. Gontijo achava-se ligado intimamente a todos nós. Foi, por isso, à casa de Pacheco Prates e recomendou-nos à sua bondade.
No dia do exame só não compareceu à primeira chamada o Francisco do Nascimento. Lá estávamos os restantes. Gontijo entrou na sala exatamente na hora em que ia começar a ser arguido um dos Franciscos, Francisco Martins de Andrade, e quando os outros dois já se achavam na “mesa do pensamento”. Ao ver-lhe na moldura da porta a fisionomia cordial e encorajadora, cada um de nós criou alma nova. Não estávamos completamente jejunos na matéria. Estudáramos alguma coisa. Mas Direito Civil é Direito Civil. Com Pacheco Prates, além do mais, não havia conversa fiada. Era bondoso mas positivo.
Antônio Gontijo de Carvalho entrou e sentou-se na primeira fila, rente à banca examinadora. Viu-o Pacheco Prates. Viu-o e sorriu-lhe, cumprimentando-o com estas palavras:
— Veio assistir ao exame dos seus protegidos, hein?
O resultado do julgamento fora, como se vê, antecipado. Querendo fazer pilhéria com Antônio Gontijo de Carvalho, o saudoso mestre desmascarou-se. Obtivemos notas consagradoras. Quanto a mim, a que obtive em 1920, no primeiro ano de Direito Civil, foi invariavelmente invocada pelo estimado professor nos anos subsequentes, à vista da minha irremediável ignorância. Era de ver-se, com efeito, Pacheco Prates olhar-me de alto a baixo, folhear depois o seu caderninho de apontamentos, e exclamar paternalmente:
— Mas, moço, o senhor teve nota tão alta no primeiro ano! Não precisa ficar nervoso. Tem tempo.
Eu não estaria sendo fiel à verdade histórica se me exibisse, agora, como tendo sido um estudante medroso em dia de exame. Era, de preferência, inconsciente. Estive sempre muito longe daquele colega que no exame de Filosofia do Direito, com João Arruda na banca, passou por um dos maiores sustos da sua vida acadêmica.
Filosofia do Direito com João Arruda não era brincadeira. A Escola Teológica ainda passava. Quando chegava, porém, a vez de Kant, era de alucinar. O próprio ilustre catedrático tinha o hábito de dizer que pouca gente sabia Kant no Brasil: “Os senhores não são os únicos...” — acrescentava, à guisa de consolação: “O que se escreveu entre nós acerca da Crítica da Razão Pura, à exceção de João Mendes e Pedro Lessa, não passa de asneira. Conhecemos Kant de ouvido. Somos um povo de repetidores. Ninguém estuda. Ninguém sabe nada!”
Mas uma coisa era isso em aula e outra em dia de exame. Uma coisa era a opinião do professor e outra a nossa obrigação de conhecer a matéria lecionada.
Antônio Ildefonso era um dos mais assíduos às preleções de todos os professores. Sentava-se na primeira fila, tomava apontamentos, comprava livros, dependurava-se ao braço dos catedráticos depois das aulas, fazia pontos, não freqüentava “cafés”, não ia aos cinemas nem jogava bilhar de madrugada. Estudava de manhã à noite, do primeiro ao último dia. Era, porém, nervoso e tímido. Julgar-se-ia, por outro lado, o mais desprezível dos humanos se não obtivesse nos exames a nota máxima. Ao ser chamado, levantou-se pálido. Encaminhou-se para a banca. Ia tirar o ponto quando se atrapalhou completamente. Não sabia se havia de fazê-lo com a mão direita ou com a esquerda. Hesitou. Mordeu os beiços. Ficou ainda mais pálido.
João Arruda instigou-o.
— Vamos, Ildefonso, não há razão para tanto pânico!
O meu colega ficou atrapalhado porque não sabia como passar da mão direita para a esquerda um objeto que o preocupava bastante. Atrapalhou-se tanto que o objeto veio ao chão. Era um terço.
* * *
Lembro-me bem de Assad Bechara.
Era baixo, gordo, atarracado. O rosto redondo arqueava ao peso das sobrancelhas espessas. A barba cerrada emprestava-lhe, às vezes, uns ares de “barba azul”. Vestia-se com apuro. De manhã estudava Direito. Durante o dia comerciava na rua 25 de Março. Era dono de uma casa de tecidos de seda. Falava o Português com o acento caraterístico dos da sua raça. Não dizia “para”; dizia “brá”. Falava um Português cheio de guturais e de “hh” aspirados. No fundo, bom camarada, um tanto simplório.
A inauguração da “Sala de Armas”, no andar térreo, em frente à sala de aulas do 5.° ano, constituiu um digno coroamento do entusiasmo com que os estudantes de Direito, fiéis à esperança de Olavo Bilac, se colocaram à frente do serviço militar. O Tiro de Guerra da Faculdade de Direito conseguiu, então, do comandante da Segunda Região, todo o material destinado para aquela praça. Só faltava a bandeira. Ora, quem haveria de oferecer-lhe a bandeira?
Assad Bechara.
A cerimônia da entrega ao batalhão acadêmico marcou um acontecimento quer na vida da escola, quer na da cidade. Foi madrinha do ato a srta. Maria Guedes Penteado. Como dono e ofertante da bandeira, falou Assad Bechara. Honrando, então, as tradições do comércio da rua 25 e não confiando muito, ao que parece, na beleza do seu gesto, Assad fez um discurso verdadeiramente comercial. Disse que só em seda o auriverde pendão lhe custara tantos contos de réis. Os bordados do losango amarelo, feitos a ouro, tantos contos. As palavras do lema positivista, “Ordem e Progresso”, tantos. Entre matéria-prima e mão-de-obra, — concluiu — tantos contos!
O discurso de Bechara, que os estudantes pronunciavam “Bichara”, ficou célebre. No dia seguinte, e durante o resto do seu curso acadêmico, o estudante-comerciante (ou comerciante-estudante) era invariavelmente felicitado pelos colegas, à porta da Academia:
— Sim, senhor, “Bichara”, você lavrou um tento! Mas diga-me, quantos contos custou mesmo a bandeira?
Ele repetia. Tantos contos de seda, tantos de ouro, tantos de oficina: uma fortuna! “Eu gosto muito da escola — dizia, a título de justificativa. — Que é que eu não sou capaz de fazer “brá” vocês? Gastaria, mais, se fosse preciso”. Algumas vezes, porém, o homem irritava-se. Já nos últimos tempos se convencera de que andara mal revelando, em discurso público, o preço do presente. Fechava-se, então, em copas. Se o estudante insistia na pergunta, esboçava um sorriso ao canto da boca, encolhia os ombros, mudava de assunto.
O Tiro de Guerra era comandado pelo tenente Vilaça. À frente do batalhão acadêmico, depois de Carlos Vasques, o “Birunga”, esteve Tito Pais de Barros. O tenente e os estudantes viviam na maior harmonia e os exercícios militares eram feitos sob um ambiente da maior cordialidade. Tenente e estudantes viviam juntos nos bailes, nas festas e nos teatros. Nunca ninguém fez tanto pela amizade entre civis e militares. Realizava-se em toda a plenitude o sonho do poeta.
Ministravam instrução militar aos acadêmicos o sargento Meneses e mais tarde o sargento Manuel Augusto de Oliveira.
Ambos estiveram à altura da sua missão. Não se impunham aos moços pelo temor. Não precisavam xingar. Dispensavam-lhes, ao contrário, consideração e estima. Sabiam que o certificado de reservista era tão importante na vida dos estudantes como o diploma de bacharel mas não tiravam partido disso. Facilitavam-lhes o que podiam facilitar-lhes. Nos dias de exame, por ocasião do difícil exame de tiro, a ordem era “apontar sempre para o ar, nunca para o alvo”. Era o caso que apontando para o alvo, a bala não atingia nunca. Batia então no chão e levantava uma nuvem de poeira. A poeira era indiscreta.
O Juramento à Bandeira, em 1920, contou com a presença de altas autoridades civis e militares e bem assim com a Missão Francesa, que instruía a Força Pública do Estado. Mas à hora marcada verificou-se que faltava o diretor da escola. Que teria acontecido? Houve uma divergência em matéria de horário e o diretor não compareceu. Como, porém, era indispensável a presença de um representante da Congregação, correram os estudantes ao escritório de advocacia do dr. Reinaldo Porchat e lhe suplicaram que os socorresse naquela emergência.
Porchat, como sempre, relutou muito. Acabou aceitando: “Os moços mandam”, dizia. A cerimônia já estava atrasada. As autoridades mostravam-se impacientes. A assistência, na qual avultavam senhoras e senhoritas, dava sinais de constrangimento. Os reservistas suavam em bica. Uma atrapalhada em regra! Mas eis que aparecem os estudantes e à frente deles o catedrático de Direito Romano. Há uma sensação de alívio. Porchat toma a palavra e fala. A sensação de alívio transforma-se em emoção patriótica. O orador empolga. A assistência vibra. O orador excede-se a si mesmo. É um discurso improvisado na hora, sem a menor preparação prévia, sem o menor aviso. É, no entanto, um dos maiores discursos de Porchat. É, talvez, um dos maiores discursos do tempo.
* * *
A pacificação da “família política” da Academia, resolvida com a candidatura única do sr. Abreu Sodré em fins de 1918, durou pouco. Em 1919, as candidaturas de Soares de Melo e Alcides Sampaio cindiram novamente os estudantes. Em 1920 houve, então, o caso da candidatura de Rafael Sampaio Filho.
Vou contá-lo em poucas palavras.
O problema da renovação de diretoria do Centro “XI de Agosto” começa a preocupar os acadêmicos depois das “férias de inverno”. Em 1920, sob a presidência do sr. Alcides Sampaio, o ambiente, sob as Arcadas, parecia calmo. O “situacionismo” sentia-se mais forte do que nunca. As hostes oposicionistas, ainda sob o constrangimento da derrota no ano anterior, não davam sinal de vida. Viagens ao Rio, excursões às cidades do interior, discursos nas recepções festivas eram coisas com as quais não contavam, nem podiam contar, os derrotados.
Reiniciadas as aulas, começam, então, a mobilizar-se as forças oficiais. Resolvem estas reunir-se em convenção. Dois nomes são levados ao conhecimento dos convencionais, os dos srs. Almiro Sodré da Costa e Rafael Sampaio Filho. A convenção fez o que fazem todas as convenções: examinou os nomes e submeteu-os a votos. O sr. Rafael Sampaio Filho perdeu por um voto em favor do sr. Almiro Sodré da Costa. Estava liquidado o assunto. A candidatura do sr. Almiro Sodré da Costa foi oficializada.
E a oposição não tugiu nem mugiu: “parou de morto”, como diria um meu amigo rio-grandense.
Quando, porém, faltavam apenas 15 dias para as eleições, Antônio Gontijo de Carvalho, então simples “calouro enfeitado”, mobilizou em cada turma os seus amigos da oposição. Distribuiu-os pela forma seguinte: no 5.° ano, Urbano de Resende Costa; no 4.°, Zacarias de Oliveira Franco; no 3.°, Lúcio Cintra do Prado; no 2.°, Teotônio Monteiro de Barros Filho e Francisco Pati; no 1°, Gabriel Monteiro da Silva, Oscar Stevenson, Mário Tavares Filho.
Como a convenção havia aprovado a candidatura do sr. Almiro Sodré da Costa, Antônio Gontijo de Carvalho levanta, como bandeira da oposição, a de Rafael Sampaio Filho. E a convenção? Nós nada tínhamos a ver com ela: não havíamos comparecido e éramos oposicionistas. E Rafael Sampaio Filho? Rafael Sampaio Filho nada tinha a ver com o levantamento da sua candidatura pelo oposicionismo. Fechou-se, por isso, em copas.
— Mas, Rafael, — diziam os seus amigos “convencionais” — você tomou parte na “convenção”, aceitou o seu veredicto. Como é que aceita agora o trabalho do grupo do Gontijo em torno do seu nome?
Rafael Sampaio Filho nada respondia: limitava-se a fazer “blague”:
— Não sei de nada. Isso é lá com o Gontijo.
A verdade, não obstante, é que o nosso trabalho colheu o situacionismo inteiramente desprevenido. Falamos a todos os acadêmicos, um por um. Gabriel Monteiro da Silva, Oscar Stevenson, Mário Tavares Filho, Teotônio Monteiro de Barros, Lúcio Cintra do Prado, Zacarias de Oliveira Franco, Urbano Resende Costa eram nomes prestigiosos, contavam com amizades e dedicações muito sinceras. Trabalharam à socapa. Tomaram compromissos. Firmaram pactos.
Quatro dias antes do pleito, as nossas chapas inundam a Academia. Para presidente, Rafael Sampaio Filho; para vice-presidente, Lúcio Cintra do Prado. Não havia um só cargo na diretoria e nas comissões que não estivesse ocupado por um membro da “oposição”. Chapa completa. Nenhuma brecha para o “situacionismo”. Nenhuma concessão aos adversários. Era uma questão de vida ou morte: ou vencíamos integralmente nas urnas e o Centro passaria para as nossas mãos, ou perderíamos também integralmente, renunciando, daí por diante, a qualquer veleidade de desforra e de mando.
Vencemos. Levamos às urnas 4/5 do eleitorado acadêmico. Nunca se viu tanta gente na escola. Estudantes que só apareciam em janeiro, para os exames de segunda época, acudiram de todas as partes ao nosso apelo. Foi a vitória da amizade. No nosso grupo, não havia necessidade de convenção. O apoio à política de Antônio Gontijo de Carvalho era um caso de estima pessoal, o reconhecimento entusiástico das suas virtudes de coração e espírito.
* * *
Comemorar-se-á em São Paulo, no próximo dia 29 de março, o 25.° aniversário da “Oração aos Moços”.
Em 1920, os bacharelandos de Direito resolveram trazer Rui Barbosa a São Paulo, como paraninfo. Rui acabava de ser derrotado mais uma vez em política. A atitude dos moços paulistas, já depois de tantas desilusões, tinha o valor de uma compensação, era quase um prêmio, podia significar o condigno coroamento de uma existência dedicada ao culto da Pátria, do Direito e da Liberdade. Começava a azedar-se o leite da política no Brasil. Os políticos profissionais viam erguer-se à sua frente um bando de malucos que não lhes pedia empregos nem disputava posições eletivas. Gente que se contentava em sair por esse mundo a fora, sob a bandeira da Liga Nacionalista a pregar civismo, voto secreto, eleições honestas, probidade administrativa, respeito à vontade popular.
Rui Barbosa aceitou o convite dos moços e prometeu vir a São Paulo.
Eu era naquele tempo aluno do 2.° ano. Apesar de “calouro enfeitado”, permitia-me a liberdade de conviver com os veteranos. Ao lado de Antônio Gontijo de Carvalho, meu colega de turma, vinha acompanhando os passos do então bacharelando José Soares de Melo, elemento de ligação entre a Faculdade de Direito e o solar da rua de São Clemente. Sabíamos que Rui, bastante doente, subira a Petrópolis. Esperávamos, porém, uma reação por parte do seu organismo. Não seria, aliás, a primeira surpresa daquele corpo franzino mas resistente.
Certa manhã, Gontijo de Carvalho chama-me ao telefone:
— O Soares de Melo chega daqui a pouco do Rio, com os originais do discurso de Rui. Vamos à estação.
Era o caso que, não podendo vir a São Paulo para servir de paraninfo aos bacharelandos de 1920, o grande brasileiro confiara a “Oração aos Moços” àquele bacharelando, para que este a entregasse ao professor Reinaldo Porchat, que deveria lê-la. Gontijo de Carvalho, grande ledor de Rui, queria ser um dos primeiros a conhecer o magnífico discurso, verdadeiro testamento político, uma das mais belas páginas da língua, em qualquer gênero.
O desejo de trazer Rui a São Paulo era tão grande que os bacharelandos de 1920 foram retardando o mais possível a solenidade da colação de grau. Esta se realiza, em regra, no mês de dezembro, quando muito na primeira semana de janeiro. Rui prometeu até à última hora que viria. A festa de formatura, “com fraque e cartola”, segundo se diz na gíria acadêmica, teve de realizar-se no dia 29 de março, quase à entrada do novo ano letivo.
Lembro-me da emoção com que o emérito professor Reinaldo Porchat subiu à tribuna, na “sala dos retratos”, antigo salão-nobre do velho prédio colonial, para proceder à leitura da “Oração aos Moços”. Confessou-a ele mesmo, em palavras proemiais. E lembro-me igualmente da emoção com que o discurso foi ouvido. A ausência física de Rui emprestava gravidade ao ambiente. Aquilo parecia uma igreja, e as palavras de Rui, jorrando pelo magnífico aparelho vocálico do professor de Direito Romano, já vinham gravadas em bronze: “Nem toda a ira, pois, é maldade; porque a ira, se, as mais das vezes, rebenta agressiva e daninha, muitas outras, oportuna e necessária, constitui o específico da cura”.
As comemorações do 25.° aniversário da “Oração aos Moços”, promovidas pelos bacharelandos da turma de 1920, deverão realizar-se no Teatro Municipal. O discurso será declamado por um dos membros da turma e a vida e a obra de Rui Barbosa serão evocadas a largos traços pelos seus “afilhados”, muitos dos quais já atingiram, na política, na advocacia, no magistério e nas letras, os pontos mais altos.
* * *
Revelei há dias alguns pontos do programa comemorativo do 25° aniversário da “Oração aos Moços”, de Rui Barbosa. E tendo citado nominalmente Antônio Gontijo de Carvalho, meu colega de turma e meu amigo, tive a satisfação de ser procurado pelo ilustre homem público.
Disse-me ele:
— Não acho que se deva reler em público, segundo se noticiou, o famoso discurso de paraninfo. É uma peça muito longa. O próprio Reinaldo Porchat chegou ao fim da sua leitura, no dia 29 de março de 1921, com a voz rouca. Trata-se, além do mais, de uma página sobejamente conhecida. Quem menos conhece da “Oração aos Moços”, conhece infalivelmente “A ira dos bons”, que figura na “Coletânea” de Batista Pereira.
Se os leitores se lembram, eu tinha anunciado que em sessão solene do Teatro Municipal, a realizar-se no próximo dia 29, a “Oração aos Moços” seria lida em voz alta pelo professor Soares de Melo. O conhecido catedrático de Direito Penal pertence à turma de que Rui foi paraninfo. Coube-lhe, mesmo, papel preponderante nos fatos que culminaram, em 1921, com a escolha de Reinaldo Porchat para intérprete do conselheiro. Antônio Gontijo de Carvalho entende, porém, que maior significação terá a solenidade comemorativa das bodas de prata daquela peça, se em lugar de a reler da primeira à última linha, Soares de Melo se decida a contar algumas particularidades referentes à sua elaboração.
No dia em que chamou o então bacharelando José Soares de Melo ao Rio, para fazer-lhe entrega da oração de paraninfo, Rui Barbosa fez questão de lê-la em voz baixa, no solar da rua de São Clemente. Rodeavam-no parentes e um ou outro amigo da sua intimidade. Rui leu-a do princípio ao fim sem a menor demonstração de fadiga. Leu-a com a entonação que gostaria lhe fosse dada pelo seu intérprete. À medida que procedia à sua leitura, fazia correções, substituía palavras, deslocava adjetivos. Onde estava “centelhas” colocou “faúlhas”. Não disse “labarêdas”, como nós dizemos, fechando o “e” da penúltima sílaba. Disse “labarédas”, como se houvesse acento agudo...
Soares de Melo tem provavelmente muitos elementos para, à distância de cinco lustros, fazer a história da notável oração de Rui. Ele foi o maior responsável pela sua elaboração. Rui, apesar de grandemente confortado pelo gesto dos bacharelandos paulistas, que se lembravam dele na hora em que ele não era querido entre os políticos profissionais, não parecia inclinado a aceitar o convite. Andava, além do mais, bastante doente. Informou Batista Pereira, na “Coletânea Literária”, que o conselheiro se refugiara em Petrópolis. Não pretendia descer ao Rio. Estava, além de doente, esgotado. Tão esgotado que não tardou muito a morrer.
Foi a carinhosa insistência de Soares de Melo que levou Rui Barbosa a aceitar o convite para servir de paraninfo aos bacharelandos de 1920. Foi ainda a mesma carinhosa insistência que o levou a escrever o discurso. E foi, em suma, devido a Soares de Melo que o nome de Reinaldo Porchat se impôs à consideração do conselheiro. Só a rememoração das viagens ao Rio por causa de Rui e da “Oração aos Moços” forneceria matéria para uma peça à altura das comemorações em perspectiva.
Aí está, em linhas gerais, o que me disse Antônio Gontijo de Carvalho, invocando, aliás, o meu testemunho pessoal para muitos episódios ocorridos naquele remoto ano acadêmico. Ignoro se os bacharéis da turma de 1920 continuam dispostos a comemorar a efeméride. Recebam, em todo caso, as palavras e as sugestões que aí ficam, como uma homenagem da minha saudade de um tempo que não volta mais. “Recordam-se vocês dos bons tempos de outrora — De um tempo que passou e que não volta mais?” É de Guerra Junqueiro. Pode ser meu também.
* * *
Em princípio do ano em curso tive ocasião de recordar que seria comemorado hoje, dia 29 de março, o 25.° aniversário da “Oração aos Moços”. As comemorações seriam patrocinadas pela turma de bacharéis de 1920, cuja solenidade de formatura, devido à doença de Rui, só se realizaria no ano seguinte, “ao findar das chuvas”, como se diz no poema célebre.
A “Oração aos Moços”, escrita especialmente para os bacharelandos da nossa Faculdade de Direito, não foi o último trabalho do conselheiro, em ordem cronológica. De março de 1921 a março de 1923, data da sua morte, muita coisa ainda escreveu ou ditou ele. Mas em ordem literária, podemos dizer que foi o seu “canto de cisne”. Tem até o caráter de um testamento. Nele se demora o grande advogado, o grande político, o grande escritor, o grande desiludido, a dar conselhos aos moços sobre a arte de vencer na advocacia, na política e na literatura. Nele, Rui Barbosa se transmuda em S. Francisco de Assis e temos então por vezes a impressão de ouvir o “Poverello” falar pela sua boca, de onde já estão ausentes as palavras de ódio, de vingança ou de cólera.
A “Oração aos Moços” foi lida em São Paulo pelo dr. Reinaldo Porchat, hoje professor emérito do tradicional estabelecimento de ensino.
Tenho-me perguntado muitas vezes, a mim mesmo, neste longo espaço de vinte e cinco anos, se é aconselhável dar-se intérprete a oradores. Reinaldo Porchat era naquele ano a voz mais bonita da cidade, para servir-me de uma expressão corrente nos nossos dias. Voz de professor e declamador, estupendamente modulada. Era profunda a sua musicalidade, tanto nos agudos como nos baixos. Uma preleção de Direito Romano era um curso completo de arte de dizer. Um texto do “Corpus Juris” declamado por ele, do alto da cátedra, numa hora de aula, tinha a beleza de um poema. Porchat, recitando o “júris precepta sunt haec”, não precisava dizer que os romanos escreviam para a posteridade. Dava-nos essa impressão nítida a sua voz. Cada texto era imponente como um pedaço de mármore.
Rui, lido pelo professor Reinaldo Porchat, tornou-se majestoso e enfático, e o que eu venho perguntando a mim mesmo, desde então, é se a “Oração aos Moços” não foi escrita pelo grande brasileiro em tom de liturgia. Deve ser declamada ou apenas balbuciada? É uma apóstrofe ou uma prece, uma recomendação ou uma advertência, uma reivindicação ou um depoimento?
Um ano antes, ou talvez um ano e meio, eu ouvira o próprio conselheiro no Teatro Municipal, numa conferência de quatro horas sobre política internacional. Já bastante velho, Rui conseguia transfigurar-se quando recriminava o governo do Brasil pela escolha dos delegados à Conferência de Versalhes. Muito pequeno e muito magro, dando a impressão de ter sido engolido pela casaca, era, no entanto, um gigante quando apostrofava. Erguia-se na ponta dos pés e toda a sua vibração interior — ironia ou cólera — se concentrava no indicador da mão direita espetado no ar.
A “Oração aos Moços” nunca me pareceu apropriada à demagogia da voz, nem da palavra e muito menos dos gestos. Contaram-me os que a ouviram em primeira mão, na intimidade de São Clemente, que o próprio Rui a leu em surdina, como um responso. É, aliás, uma experiência ao alcance de todo mundo. Lida com voz altiloqüente a “Oração aos Moços” empolga menos do que lida em voz baixa. Perde o caráter, que estamos na obrigação de reservar-lhe “per omnia saecula”, de testamento político.
A “Oração aos Moços” não é — e Deus seja louvado por isso! — um discurso de sobremesa, desses que nos banquetes de encomenda a gente lê para desabafar velhos ressentimentos pessoais.
* * *
Escrevendo, a propósito do 25.° aniversário da “Oração aos Moços”, evoquei as “festas de formatura”, de outros tempos, na Faculdade de Direito.
Os bacharelandos da turma de 1920, paraninfada pelo conselheiro Rui Barbosa, foram os únicos que receberam o grau em sessão noturna, em traje de rigor, isto é, de casaca. As outras turmas recebiam-no à tarde, também em traje de rigor, ou seja, de fraque e cartola. Era uma festa para a qual a gente se preparava com bastante antecedência. Depois das férias de Santo Antônio, São João e São Pedro, não se cuidava de outra coisa. Havia a questão do retrato e do quadro, a escolha do orador e do paraninfo e outras questões subsidiárias.
No dia da festa, a Congregação comparecia em peso e tomava assento no salão-nobre da escola, a “sala dos retratos”. Os bacharelandos envergando fraque e cartola também compareciam em peso, em companhia das respectivas famílias. Abria-se a sessão. O orador acadêmico subia à tribuna e lia o seu discurso. Procedia-se em seguida à cerimônia da colação de grau. Subia, então, à tribuna, o paraninfo, e dava uma série de conselhos aos bacharelandos. Havia palmas, flores, abraços, lágrimas. Mas não havia apupos.
Depois que as “festas de formatura” passaram a realizar-se no palco do Teatro Municipal, elas perderam em majestade o que ganharam em amplitude.
Venho assistindo regularmente, há muitos anos, as cerimônias de entrega de diplomas naquele teatro. As galerias enchem-se de estudantes. Enche-se de estudantes o espaço entre a parede das frisas e as cadeiras da platéia. Cada bacharelando chamado a receber o grau é acolhido com aplausos ou vaias, conforme as simpatias ou antipatias de que tenha gozado na escola. Se tem apelido, ouve-se o apelido dele aos gritos:
— Aí, “Varetinha”! Aí, “Raposão”! Aí, “Morcego”!
O bacharelando ouve os aplausos, ouve o seu “nome de guerra” repercutindo no teatro, sorri e agradece, fazendo gestos. Reconhece os amigos nas galerias e estende-lhes as mãos enlaçadas. Se ouve apupos, em lugar de sorrir franze a testa, olha com raiva para as torrinhas, dá as costas para os mestres, e sai, bufando de raiva.
Numa das últimas “festas de formatura”, no Teatro Municipal, o orador da turma não contava, ao que pude deduzir, com as simpatias dos estudantes dos anos anteriores. Questão de política interna, provavelmente. Ao subir à tribuna, para o discurso de despedida, teve de suportar em silêncio, pelo espaço de cinco minutos, a manifestação de desagrado das galerias. Soube, porém, conter-se. Esperou amainar o temporal, e disse o que tinha de dizer, por sinal que com muita correção e elegância.
Mal tinha proferido a última palavra, ecoou no interior daquela casa de espetáculos uma pergunta vinda do alto:
— Fulano, ó Fulano, quem terá escrito o discurso para ele?
Foi a conta. Estabeleceu-se imediatamente o tumulto. O orador, até então apolíneo, voltou-se para o lado das torrinhas, de onde tinha partido a pergunta indelicada, e fez um gesto de desafio. A festa perdeu a solenidade. Uma sensação de mal-estar espalhou-se por toda a assistência. A colação de grau degenerou em pândega. Um desastre!
A Faculdade de Direito de São Paulo possui hoje um salão-nobre do qual me contam maravilhas. Faço votos, então, para que os futuros bacharelandos renunciem ao palco do teatro e voltem a reunir as suas famílias e os seus amigos no interior da própria escola, onde passaram tantos e tão gostosos anos da mocidade. A colação de grau é o coroamento de um curso, — curso de Direito e curso de ilusões. É, por isso, um ato solene. Não havemos de querer para ele nem um ambiente de marcha fúnebre nem um ar de circo de cavalinhos.
* * *
Com o falecimento do professor Cândido Mota, a turma de 1919-1923, da Faculdade de Direito, a que pertenço, planta mais uma cruz à beira do caminho que vem percorrendo. Já são tantas! Perdemos, com efeito, até esta data, os seguintes mestres: Herculano de Freitas, Gabriel de Resende, Pacheco Prates, Amâncio de Carvalho, Estêvão de Almeida, Otávio Mendes, Vilaboim, Rafael Sampaio, Alcântara Machado...
Tem razão Bilac:
“Os anos matam e dizimam tanto
Como as inundações e como as pestes”.Alguns dos professores aludidos não nos deram mais que meia dúzia de aulas, chamados que foram, durante o nosso curso acadêmico, ao exercício de outras atividades: políticas ou administrativas. Com o professor Cândido Mota deu-se exatamente o contrário: a minha turma foi a primeira que s. exa. lecionou, após deixar a Secretaria da Agricultura, no governo Altino Arantes. Lembro-me bem da manifestação que lhe fizemos por esse fato e da emoção com que o saudoso e ilustre criminalista subiu de novo à cátedra, para o reinício do seu simpático ministério. “Nunca me esqueci — disse ele — dos estudantes, meus amigos. Pelo contrário, sempre que me afasto desta casa e desta tribuna, tenho a impressão de cometer infidelidade”.
* * *
No fim do curso, em 1923, ao termos de escolher o nosso paraninfo, a turma cindiu-se: metade elegeu o professor Pacheco Prates, outra metade, o professor Estêvão de Almeida. Houve um grupo, no entanto, que tentou a reconciliação, e o nome para esse fim lembrado foi o de Cândido Mota. Todavia, nem a veneração de que cercávamos o antigo secretário de Estado teve forças para desfazer o deplorável desentendimento no seio de uma das maiores “fornadas” da Academia daquele tempo. Continuamos separados. Só a vida nos juntou de novo, mas longe das “velhas Arcadas”. Foram os anos e as inevitáveis decepções da vida real que amorteceram os nossos ímpetos juvenis.
Cândido Mota não dava excessivas preocupações aos alunos. Homem bom, mas dessa bondade que é inteligência do coração e não fraqueza dos sentidos, perdoava à mocidade o despreparo com que esta se apresentava às provas parciais e bem assim às do fim do ano. Só não tolerava uma coisa: a irrequietude resvalando pela indelicadeza. Não raro, por isso, o víamos, terminada a ladainha do bedel, fechar o famoso caderno de capa azul, descer da cátedra e retirar-se sem uma palavra, quer de advertência, quer de censura. Que foi? — perguntavam os estudantes. E lá vinha o Pedrão dizer-nos que a zanga do velho mestre fora motivada por alguém que cantara de galo durante a chamada.
Partidário da antropologia criminal, devoto de Lombroso e de Ferri, o saudoso mestre incutia nos discípulos o gosto, estou quase a dizer a mania, das pesquisas antropomorfológicas. Ao fim de meia dúzia de preleções, lá saíamos nós a descobrir criminosos-natos por toda parte. Indivíduos de zigomas salientes, maxilares largos e duros, pescoço taurino, que surgissem à nossa frente, pelas ruas do “triângulo”, eram imediatamente perseguidos pela nossa curiosidade científica. Praticávamos neles, posto que cautelosamente, à distância, os ensinamentos hauridos na escola, nas aulas de Direito Penal.
Por ocasião das provas escritas, Cândido Mota deixava-nos em liberdade. “Os senhores — dizia-nos — podem consultar quantos livros quiserem: tratados, códigos, manuais. Só lhes peço que não se excedam no barulho”. E retirava-se tranqüilo, em passos miúdos. Sabia que a sua liberalidade não passava de um estratagema, porque ao invés de sortear os “pontos” sorteava teses, e estas exigem um longo e paciente esforço de consultas e de pesquisas. A sua liberalidade era um estratagema, repito, porque os tratados, os códigos, os manuais, os apontamentos, de nada adiantavam ao estudante que não tivesse pelo menos uma noção geral da matéria lecionada pela “ilustre cadeira”.
* * *
O meu último exame de Direito Penal com o professor Cândido Mota verificou-se num ambiente de quase comicidade. Tínhamos, naquele ano, estudado o Código Penal e no exame de dezembro, em lugar de “pontos”, figuravam “artigos”. A mim me coube o censurável “artigo 267” e enquanto esperava a minha vez, na “mesa do sacrifício”, recompus mentalmente as noções que o assunto me sugeria e passei o olhar triunfante pela sala. Gente em penca e no meio da copiosa fauna masculina, três ou quatro moças, alunas de outros anos da escola e que para lá tinham sido levadas pelo desejo muito natural de aprender a “fazer exame”, tanto mais que havia na minha turma estudantes como Paulo Barbosa de Campos Filho, Antônio Ildefonso da Silva, Teotônio Monteiro de Barros Filho, Roldão Lopes de Barros e muitos outros que eram “bambas” de verdade.
— Senhor Fulano de Tal!
Era a minha vez. Aproximei-me humildemente da banca.
— Sente-se.
Sentei-me. O primeiro a interrogar-me foi o professor Pacheco Prates, em Direito Civil; o segundo, o professor Gabriel de Resende, em Direito Comercial. Cândido Mota foi o terceiro.
— Qual é o seu “ponto”?
— Não é “ponto”, excelência: é artigo. Por sinal que é o artigo 267.
Cândido Mota olhou-me assustado.
— O senhor sabe o que está dizendo? — perguntou-me, depois de circunvaguear os olhos pela sala.
Eu, todo humildade, respondi-lhe:
— Acredito que sei, excelência.
Uma pausa. O examinador conferenciou, em voz imperceptível com os colegas, mas eu consegui ouvir uma exclamação: “É o diabo!”.
E era o diabo, mesmo. Como podia eu, frágil criatura, mísero examinando à cata de uma nota de aprovação, dissertar eruditamente, e talvez eloqüentemente, sobre o artigo do Código Penal que me coubera por sorte, se o exame não era “só para homens” e se a direção do “Velho Convento” não tomara a precaução de proibir a entrada a mulheres e menores de 18 anos? Como poderia eu estudar aquela figura delituosa em presença de alunas?
— A banca — disse-me, por fim, Cândido Mota — não pode exigir que o senhor sorteie novo “ponto”. Fica ao seu critério exclusivo. Devo adverti-lo, não obstante, de que a banca não acolherá a sua recusa como prova de indisciplina, nem como alegação de ignorância.
Tornou a fazer uma pausa e tomando a minha demora em responder como hesitação, acrescentou, sorridente:
— O senhor está aprovado. Pode ir-se embora.
No ano seguinte, que era o último do curso, ao estudar Medicina Legal com Amâncio de Carvalho, muitas vezes me lembrei dos melindres (diria melhor se dissesse delicadeza de sentimentos) do professor Cândido Mota. Amâncio de Carvalho, médico e professor dos mais ilustres, não era homem que fechasse a boca em presença de um auditório salpicado embora de cabeças femininas. Ao contrário do seu colega de Direito Penal, fingia não ver ninguém. Até as sombras dos velhos monges que habitaram o convento dos franciscanos fugiam dele espavoridas.
* * *
GABRIEL DE RESENDE — Professor de Direito Comercial. Lecionou a minha turma em 1921 e 1922.
Era um homem fino e elegante. Bonito mesmo. De estatura mediana, vestindo sempre com o maior apuro, trazia o rosto emoldurado por uma barba preta, igualmente bem tratada. Nos olhos pequenos e trêfegos brilhavam, a um tempo, a bondade e a graça. Professor e político, levava para a roda dos seus amigos no Senado um pouco do espírito brejeiro dos estudantes e trazia para o meio destes um pouco da circunspeção do cargo. Falava por meio de frases curtas, pausadamente. Gastava mais tempo com a encenação do que com a preleção.
A minha turma era muito grande. A chamada, feita pelo bedel, arrastava-se como um carro de bois por espaço de quinze ou vinte minutos. O Pedrão começava a fazê-la junto à cátedra, de costas para o fundo da sala. Lia dois nomes e recuava um passo. Ia chamando e recuando. Gabriel de Resende, no alto da cátedra, muito bem posto, não se dava sequer ao trabalho de simular atenção àquela formalidade escolar. Acariciava a barba em ponta, com gestos quase voluptuosos. De vez em quando parecia sorrir. Mas não sorria para os alunos. Sorria, provavelmente, para uma bela imagem, desfilando na sua imaginação, ou por causa de uma boa piada repercutindo no seu ouvido.
Quando a chamada terminava, já lá se tinham voado quinze ou vinte minutos. Nas manhãs quentes, metade da classe dormia. Gabriel de Resende apoiava o braço direito na tribuna, como se estivesse posando para um fotógrafo. Dizia: “Meus senhores”. Tirava depois o “pince-nez” e substituía-o por outro. Puxava o lenço branco da lapela e o ambiente perfumava-se. A classe, de ordinário barulhenta e indisciplinada, esperava em silêncio. Os “aços”, sentados na primeira fila de cadeiras, afiavam os lápis, para os apontamentos. “Meus senhores”, repetia. Tornava a tirar e a substituir o “pince-nez”. Tornava a puxar o lenço branco. Hesitava.
— Meus senhores, — dizia, por fim. — O nosso ponto de hoje versa sobre “a mulher do falido”. No compêndio publicado pela cadeira, acha-se a matéria exposta em suas linhas fundamentais, com espírito pedagógico. Parece-me escusado insistir no assunto.
Nessa altura, consultava o relógio de ouro.
— Além do mais, já se esgotaram trinta minutos. Não há tempo sequer para enunciação de um sumário. Ficamos por aqui. Passem muito bem.
Outras vezes, o pretexto para dispensar a classe era a falta de veia do mestre.
— O nosso ponto de hoje — dizia — é “A concordata preventiva na falência”. O assunto é fácil e pode ser explicado em poucas palavras. Para isso, porém, é preciso disposição. Ora, eu hoje não me sinto com veia para isso. Será melhor não insistir. Passem muito bem.
O Direito Comercial era ensinado naquele ano pelos professores Gabriel de Resende e Frederico Vergueiro Steidel. Não preciso dizer que a maioria das turmas preferia o primeiro. Os alunos de Vergueiro Steidel não faziam outra coisa na vida senão estudar Direito Comercial de manhã à noite. Os de Gabriel de Resende viviam pelos cinemas e salões de bilhar. Gabriel de Resende não fazia do Direito Comercial um bicho de sete cabeças. Tendo condensado num volume a doutrina referente à Falência, fora o primeiro a convencer-se de que ser professor não é falar difícil. Quando o velho mestre se sentia com disposição e veia, ninguém, na Faculdade de São Paulo, lhe levava a palma. As suas preleções em tais dias, impunham-se pelo método da exposição, pela clareza da linguagem e pelo espírito de síntese.
Que mais se há de exigir de um professor universitário?
* * *
OTÁVIO MENDES — Professor de Direito Comercial, advogado de grande projeção no Estado, especialista em falências.
Um dia, anunciaram-nos que o dr. Gabriel de Resende, catedrático de Direito Comercial, seria substituído em seu impedimento parlamentar pelo novo catedrático, o dr. Otávio Mendes. Houve na turma um movimento de pânico. O dr. Gabriel de Resende era a bondade em pessoa e o seu substituto entrara na escola com a fama de homem de poucos amigos, empenhado mesmo em “moralizar” o ensino de Direito.
“Moralizar” é expressão que surge periodicamente nas rodas professorais e jornalísticas e visa especialmente à Faculdade de Direito de São Paulo. Todo professor recém-chegado é um Messias. Para todo Messias, então, o ensino de Direito vai de mal a pior. Os professores não fazem questão de ensinar e os alunos, por sua vez, nenhuma de aprender. Os exames são uma burla. A bacharelice torna-se sinônimo de tagarelice e ignorância. Não há respeito à tradição. E patati-patatá.
Otávio Mendes derrotara Valdemar Ferreira, em memorável concurso. Nos domínios da Falência, ninguém lhe levava a palma. Era, a um tempo, advogado e jurista. Pertencia, pela seriedade da sua formação jurídica, à família intelectual de Carvalho de Mendonça. Como profissional, a malícia do advogado se aliava nele à competência do jurista e a sua palavra, no foro de São Paulo, valia como oráculo. As suas razões forenses formavam jurisprudência.
Quando chegou o dia da estréia de Otávio Mendes como professor, ninguém faltou à aula. O terceiro ano, que era o nosso, compareceu em peso. Muito antes da hora marcada, estávamos todos a postos, no interior da sala 2. A nossa jovialidade encolhera-se, medrosa. Aguardávamos a chegada do substituto de Gabriel de Resende como uma catástrofe. Antônio Ildefonso da Silva Júnior, Macedo Leme, Paulo Barbosa, Teotônio Monteiro de Barros Filho, Pio Alvim, Roldão de Barros, estudantes que levavam a sério o curso, nada temiam. Fosse qual fosse o professor, eles estavam em dia com a matéria e não precisavam contar com a benevolência do mestre. A maioria, porém, sabia o suficiente para o gasto. Não parecia, além do mais, disposta a mudar de hábito.
Bateu a sineta, anunciando o quarto. O bedel Pedrão gritou à porta:
— Aí vem ele!
Pusemo-nos em pé. Como a entrada, na sala 2, era pelos fundos, ficamos em pé, olhando de soslaio para a porta. Vimos, então, este espetáculo impressionante: um homem forte, rosto grande, cabelo cortado à escovinha, corado, sorridente, carregado por dois criados particulares, que o seguravam no alto de uma cadeira. A classe viu aquilo e ficou estarrecida. Embargava-nos a voz a comoção mais sincera. Por fim, decidimo-nos. Batemos palmas. Otávio Mendes, em charola, sorridente, agradecia às palmas, olhando à direita e à esquerda.
Os criados depuseram a preciosa carga junto à cátedra. Cobriram-lhe as pernas com um cobertor de lã. Depois, retiraram-se em silêncio, de cabeça baixa. Otávio Mendes dispensou a chamada dos alunos pelo bedel. Disse-nos, com voz comovida: “Façam o obséquio de sentar-se”. Sentamo-nos. Ele abriu um livro sobre a mesa e começou.
— O instituto da Falência...
Claro, incisivo, lógico, o novo professor não nos deu um minuto de folga. Esgotou o programa. Tinha o hábito de chamar os alunos à lição e isso nos obrigava a trazer a matéria na ponta da língua. Estudamos. Trouxemos em dia os nossos “pontos”. Suas aulas nada tinham de brilhantes. Eram, porém, precisas. Eram, sobretudo, categóricas. Em linguagem muito bem cuidada, falando com um ligeiro sotaque português, levou-nos pela mão através do Direito Comercial.
No fim do ano, às vésperas dos exames, Gabriel de Resende reassumiu a cadeira. Foi uma surpresa para ele: os seus alunos conheciam a matéria a fundo e dissertavam com segurança sobre qualquer ponto sorteado. À surpresa do seu espírito juntou-se a decepção da sua bondade: Gabriel de Resende não precisou exercê-la, como era tão do seu agrado, em favor dos examinandos. Sabíamos tudo, tim-tim-por-tim-tim.
Gabriel de Resende felicitou a turma. Cada um de nós, intimamente, deslocou, no entanto, os parabéns, para o lado da avenida Paulista, em direção à residência do grande mestre.
* * *
ALCÂNTARA MACHADO — Não foi meu professor, na Faculdade, mas meu amigo e presidente, na Academia Paulista de Letras.
Era a expressão mais perfeita do “clubman”. Tinha um ar distante, de homem da melhor linhagem. Rosto pálido, quase macerado. Cabelos pretos, lisos e abundantes. Olhos pequenos, algo parados. Mãos minúsculas, de gestos sóbrios. Falava baixo, em tom confidencial. Possuía a ciência da polidez. Filho de Brasílio Machado, não foi jamais um parasita da glória paterna. Conquistou celebridade própria, com inteligência e estudo. Pôs a tradição da família rendendo juros, — os juros da sua dedicação e do seu esforço.
Ouvi-o pela primeira vez no dia 25 de setembro de 1921, falando em nome da Congregação da Faculdade de Direito, em homenagem a Pedro Lessa.
Pedro Lessa, ministro do Supremo Tribunal, ex-catedrático de Filosofia do Direito na nossa escola, membro da Academia Brasileira de Letras, fora também, depois de 1915, ou seja, depois da campanha de Olavo Bilac em favor do serviço militar obrigatório, presidente da Liga de Defesa Nacional. Esta constituía, a bem dizer, um coroamento nacional da Liga do professor Vergueiro Steidel. Ambas, por sua vez, se ligavam estreitamente à melhor tradição de civismo dos estudantes de Direito. Eram as sentinelas da pátria.
A oração de Alcântara Machado revelou nele uma grande vocação literária. Estudou a fundo a vida e a obra do antigo professor de Direito. Já se lhe acentuavam no estilo as virtudes de musicalidade que o recomendaram mais tarde à consagração da Academia Brasileira de Letras, já depois de consagrado pela Academia Paulista.
Na opinião de Júlio Dantas, a literatura está cheia de “olfativos”, “sensitivos” e “auditivos”. Alcântara Machado pertencia aos auditivos. Gostava de “ouvir” o que escrevia. Tinha, por isso, o hábito de ler aos amigos as páginas que compunha. Lendo-as descobria a arritmia de uma ou outra frase. Tornava, então, a escrevê-las. Escrevia-as tantas vezes quantas fossem necessárias para dar-lhes musicalidade e brilho. Estimava a frase cantante e sonora. Era, sob esse aspecto, digno filho de Brasílio Machado. A eloqüência deste gerou no filho o amor pela música das palavras. O que no pai era combinação retórica, no filho era só harmonia.
Martins Fontes reduziu a soneto a famosa peroração do discurso de posse na Academia Brasileira: “Paulista sou há quatrocentos anos”. O discurso era em verdade um poema: “Só em minha terra, de minha terra, para minha terra, tenho vivido; e, incapaz de servi-la quanto devo, prezo-me de amá-la quanto posso”. Sente-se nesse período o “auditivo”. Alcântara Machado devia ser como aqueles grandes poetas que compõem em voz alta, andando pelas estradas. Sua prosa é de quem primeiro a recitasse no silêncio do gabinete.
O sr. Levi Carneiro acentuou igualmente a preocupação da eufonia em Alcântara Machado. Em discurso na Faculdade, ao ser inaugurado o busto do autor de “Vida e Morte do Bandeirante”, assim lhe traçou o perfil de escritor: “Preferia ler o discurso escrito. Escrevia-o com meticuloso cuidado e apurado bom gosto, retocando-o até à última hora, naquela sua letra miúda e nervosa, quase sempre em pequenos pedaços de papel, que enrolava entre os dedos. Lia, porém, maravilhosamente, realçando todos os primores do estilo, realçando, em cada trecho, a emoção ou a ironia, que combinava, atenuando uma com a outra”.
O dom de ler maravilhosamente os próprios escritos nunca se dignificou tanto, dignificando o escritor, como no dia em que falou sobre os estudantes, “mestres de civismo”. A Faculdade de Direito, com a maioria dos seus filhos nas trincheiras, reuniu-se para comemorar mais um “XI de Agosto”, em 32. Alcântara Machado foi à tribuna e falou aos moços que combatiam em favor de um regime legal para o Brasil. Disse, então, que naquela hora os papéis estavam invertidos. Professores não eram os que lá estavam, revestidos das insígnias doutorais, comemorando a fudação dos Cursos Jurídicos no Brasil, mas os que, nas trincheiras de Cunha ou de Itararé, expunham a vida em holocausto a um ideal de Constituição. Os mestres, naquela hora, eram os alunos, — “mestres de civismo”.
A emoção do orador, denunciando a elegância do estilista, contagiou a população inteira do Estado. Não houve quem não lhe ouvisse as palavras com lágrimas nos olhos.
* * *
Professor substituto de Medicina Legal, Alcântara só muito tarde conseguiu efetividade na cadeira. O bondoso Amâncio de Carvalho, titular daquela disciplina, não lhe deu “chance”.
A despeito, porém, da sua especialidade, eram-lhe familiares todos os ramos do Direito. Mão amiga deveria incumbir-se de coligir quantos pareceres e artigos ficaram sepultados nas páginas da revistas jurídicas. Em tudo quanto escrevia, seja um parecer, seja um discurso, seja um livro de investigação histórico-literária — a preocupação da forma. Estilo profundamente musical. Prosa de poeta. Registro, neste ponto, a indiscrição de Levi Carneiro, que confirma, aliás, o meu diagnóstico: “Preferia não divulgar, ou só divulgar restritamente, muitos outros trabalhos, de feição literária, inclusive versos admiráveis”.
Como professor de Direito, deixou o nome ligado — e é o sonho de todos os titulares de uma cátedra — ao Código Paulista de Processo e ao Código Penal de 1941. Passando às mãos do sr. Francisco Campos, então ministro da Justiça, o “Anteprojeto da Parte Geral do Código Criminal Brasileiro”, não deixou de acentuar, em 1938, a importância do estilo na redação das leis: “Deixo de parte — dizia — a redação de um sem-número de dispositivos, a que faltam a clareza, a simplicidade, a transparência consubstanciais à linguagem legislativa”.
O artista estava sempre presente nas decisões do professor, do literato, do político.
Alcântara Machado regulamentou, a pedido dos profissionais paulistas, a profissão de engenheiro. Houve-se com tamanha proficiência no assunto que o Instituto de Engenharia de S. Paulo lhe conferiu o título de “presidente de honra”. Doutor em Direito, adquirira no trato da ciência jurídica a capacidade de intuição que lhe permitia aquelas formosas aventuras do espírito. Sua tese de concurso sobre o alcoolismo e a responsabilidade criminal, escrita antes dos 20 anos, já revelava nele o estudioso das questões sociais.
Diretor da Faculdade em 1931, iniciou a reforma do velho convento dos franciscanos, onde se abrigara o Direito por mais de um século. Pode-se discordar da iniciativa e eu mesmo não me conformo com o desaparecimento do prédio colonial. Não se pode, no entanto, deixar de reconhecer o seu amor à instituição. Aludia a ele como se ressentindo de nobreza arquitetônica — “a nobreza de linhas arquitetônicas que requer um edifício dessa natureza”. Seu projeto foi, em todo caso, ampliado pelas administrações que se lhe seguiram na escola. Defendeu-se invariavelmente com muito ardor das críticas à demolição do velho prédio. Tornaram-se memoráveis as palavras de resposta ao seu colega de Congregação, Vicente Ráo, que ao descer em São Paulo, após uma ausência de dias, já investido das funções de ministro da Justiça, entendeu de condenar a obra de Alcântara naquele setor.
A biblioteca da Faculdade era um amontoado de velharias. Sob a sua administração, já em fins de 1932, podia reivindicar aquele nome. De “depósito de livros” passara a uma biblioteca de 40.000 volumes bem arrumados, isto é, arrumados segundo as regras fundamentais da biblioteconomia. O “depósito de livros” era mais do que uma biblioteca: era uma instituição. Podiam servir-se dela professores, estudantes e advogados. Era um tesouro ao alcance de todas as inteligências como de todas as curiosidades.
Como político, só ocupou funções legislativas. Foi vereador municipal em São Paulo, deputado estadual, senador estadual, deputado com assento na Assembléia Constituinte de 1934, e por fim senador federal. Naquela, pouco depois de 32, coube-lhe monopolizar um momento da emoção nacional: foi no dia em que os deputados, tangidos pelo verbo do sr. Osvaldo Aranha e por uma indicação do líder da Bahia, resolveram conferir ao sr. Getúlio Vargas os poderes contidos na chamada “lei orgânica”. Alcântara Machado subiu à tribuna e disse, textualmente: “...estamos aqui para votar uma Constituição e não para discutir questões políticas. A obra de São Paulo, como de todos os paulistas, como de todos os brasileiros, deve ser nesta hora de imensas responsabilidades uma obra de reconstrução nacional, e não de demolição ou demagogia”.
* * *
Não me lembro mais se foi em março, abril ou maio. Sei que era o ano de 1921.
Rafael Sampaio Filho, presidente do Centro Acadêmico “XI de Agosto”, por sugestão de Antônio Gontijo de Carvalho, convida-me para saudar, em nome dos estudantes, o príncipe da poesia brasileira, Alberto de Oliveira, em visita à Faculdade de Direito. O autor de “Sonetos e Poemas” vinha do Rio a caminho de Poços de Caldas. Demorar-se-ia, então, nesta capital, o tempo necessário para receber a homenagem dos moços. Queria mesmo aproveitar a oportunidade daquela visita aos estudantes para dizer alguma coisa a respeito da sua posição na literatura do Brasil, em presença do movimento modernista que então se iniciava entusiasticamente.
Alberto de Oliveira já visitara a Faculdade de Direito anos antes. Saudara-o, naquela ocasião, em nome dos acadêmicos paulistas, Amador Sarti Prado, em discurso memorável. A minha responsabilidade era muito grande, não só porque o poeta de “Por amor de uma lágrima” vinha sendo asperamente combatido na imprensa do Rio e de São Paulo, pelos chamados “futuristas”, como por ser o meu primeiro discurso na escola do largo de São Francisco. Não me saíam da lembrança os casos de outros estudantes que, por terem fracassado na primeira vez, nunca mais conseguiram fazer-se ouvir pelos colegas, quer em reuniões ordinárias do Centro “XI de Agosto”, quer em sessões solenes.
Com o discurso de saudação a Alberto de Oliveira, em 1921, eu me coloquei abertamente em posição contrária ao grupo da “Semana de Arte Moderna”. Tomei posição na luta literária. Não me arrependo do que fiz. Ao contrário de muito pândego que hoje faz questão de viajar como pingente, no bonde daquela “Semana”, continuo a dizer que fui contra. Não, está claro, contra a renovação, mas, exclusivamente, contra os métodos de combate, que me pareciam inteiramente copiados da Itália. Muita coisa se fazia em São Paulo por simples espírito de imitação. Até as vaias eram de encomenda.
Alberto de Oliveira ouviu-me atentamente, em silêncio, pelo espaço de vinte ou trinta minutos. Ouviram-me igualmente em silêncio, com a mais lisonjeira das atenções, os estudantes que enchiam a “sala dos retratos”, no antigo prédio. Citei um dito de Gautier: Não há escolas, há temperamentos. Combati a acusação de impassibilidade assacada contra o cinzelador dos “Sonetos e Poemas”. Mostrei que insensibilidade e poesia são expressões discordantes: uma repele a outra. E fui por aí a fora entremeando o discurso com pequenas citações da obra poética de Alberto.
O homem comoveu-se seriamente.
À noite, na Estação da Luz, fui despedir-me dele, em seu embarque para Minas. Encontrei-o, porém, tão rodeado de admiradores que não me aproximei. Lá estavam Amadeu Amaral, Gelásio Pimenta, Ciro Costa, Roberto Moreira, Moacir Piza, o presidente do Centro Acadêmico “XI de Agosto”, jornalistas, estudantes, homens de letras. Eu fiquei a um canto, de longe. Momentos antes de partir o trem, um dos admiradores do poeta me vê naquela atitude de quem é tímido ou está com medo. Diz qualquer coisa aos ouvidos de Alberto. Este volta-se para o meu lado. Abandona os amigos. Chama-me, abraça-me, segura-me pelo ombro, renova-me os agradecimentos, leva-me para a sua roda.
Na roda, as apresentações são desnecessárias, porque todos ali presentes me tinham ouvido de dia na Faculdade. Alberto de Oliveira quer dizer-me alguma coisa amável. Confessa que só à tarde, depois da visita à escola, conseguira um exemplar dos meus versos. Não os tinha lido. Mas deviam ser eloqüentes e generosos como o orador. Fez uma pausa. Olhou-me de alto a baixo. Pôs a mão na minha testa. “É ampla”, exclamou. Depois, virando-se para os amigos:
— Vocês não acham que ele tem um ar do Maurício de Lacerda?
Maurício de Lacerda era, na ocasião, a voz mais rebelde da Câmara Federal, e a comparação agradou-me. Anos mais tarde, na redação de “A Platéia”, lembrei o episódio ao próprio Maurício de Lacerda. Fez-se, então, a pedido de Pedro Cunha, um grupo e bateu-se uma chapa. Mas a fotografia não confirmou as palavras do poeta.
* * *
Durante uma hora, o poeta de “A Morte da Árvore”, respondendo ao meu discurso de saudação, conversou com os estudantes de Direito.
— É pena que minha mãe — disse — não esteja aqui ao meu lado. Vendo-me cercado e prestigiado pela admiração e pela simpatia da mocidade acadêmica de São Paulo, talvez se arrependesse das lágrimas que chorou atrás de mim, sobre a minha cabeça, ao surpreender-me escrevendo versos. A santa velhinha receava que a poesia trouxesse infelicidade ao filho querido.
Citou Baudelaire. Declamou algumas estrofes da poesia famosa em que a mãe do poeta declara que teria preferido ver o seu ventre servir de ninho às víboras. Afirmou que as mães brasileiras, embora não cheguem a tais extremos, não gostam muito de ver os filhos enamorados pelas Musas. Poeta era outrora sinônimo de boêmio incorrigível. Os poetas morriam cedo. Álvares de Azevedo não tinha ainda 21 anos de idade quando morreu. Fagundes Varela, Castro Alves, Casimiro de Abreu viveram um pouco mais do que o cantor da “Lira dos vinte anos”, mas não chegaram aos 30.
Declamando Baudelaire deixou-nos Alberto de Oliveira com água na boca. Desejaríamos ouvi-lo declamando os próprios versos. Então, assim que terminou de agradecer às homenagens de que era alvo, começaram a ouvir-se os gritos de “Recita!”, “Recita!”, “Recita!”, enchendo a antiga “sala dos retratos”, no velho prédio do largo de São Francisco.
Alberto de Oliveira não se aborreceu com os mocos. Ouvindo o apelo, preparou-se imediatamente para atendê-lo.
Tornou a erguer-se da cadeira, ao lado do presidente da solenidade, e perguntou a este se não era contra o protocolo um número de declamação já depois de encerrada a festa. Os estudantes responderam pelo professor, redobrando as palmas. As aclamações tocaram ao auge. Havia gente por todos os cantos, até no corredor que ligava a “sala dos retratos” à “sala das becas”. Todo o mundo queria ouvir o Príncipe da Poesia.
Que havia de recitar Alberto de Oliveira?
Uns pediam “A vingança da porta”, outros “O relógio”, outros ainda “A Formiga”. Alberto de Oliveira prontificou-se a declamar “O relógio”. Um silêncio profundo invadiu a sala. O grande poeta encheu com o seu corpo de atleta a mesa da presidência. Encheu a sala. Alto e cheio, a cabeleira grisalha fugindo pela cabeça, os bigodes ainda compridos e eriçados, o autor do “Livro de Ema” impôs-se incontinenti pela voz, pelos gestos, pela expressão do rosto. Os alexandrinos do conhecido e formoso poema eram vividos por ele em presença dos moços e havia naqueles versos uma intenção que ainda não tinha sido descoberta por nós.
Tenho ouvido grandes oradores e grandes declamadores. Acredito, porém, que nunca mais ouvirei um Alberto de Oliveira e um Olavo Bilac. Alberto, com a voz abemolada, dava inflexões inéditas às palavras. Seus gestos representavam a idéia contida no verso. Era preciso ouvi-lo para saber o que significa exatamente o conteúdo emotivo dos vocábulos. Tirava efeitos surpreendentes das sílabas longas e a sua voz era por vezes o próprio relógio pendulando inutilmente no meio de uma sala vazia...
Bons tempos. Teríamos ficado o resto da tarde e a noite inteira ouvindo Alberto de Oliveira a declamar os próprios versos. O poeta queria, no entanto, aproveitar exatamente o resto da tarde para atender a outros compromissos do coração. E ficou no primeiro poema.
* * *
Contei que Alberto de Oliveira, visitando a Faculdade de Direito, não se fez de rogado: declamou um de seus mais belos poemas, “O relógio”.
Todos os grandes poetas que estiveram um dia em contato com os moços de S. Paulo, na velha escola do largo de São Francisco, declamaram versos ainda que tendo feito discursos. Olavo Bilac, em outubro de 1915, depois do “Em marcha para o ideal”, célebre discurso, iniciando a campanha em favor do serviço militar obrigatório, voltou à tribuna e recitou o “Benedicite”.
Se não me engano, já referi o episódio.
Bilac foi recebido na sala 2, antiga “sala dos calouros”, a mais ampla das salas de aula do velho edifício conventual. Entrava-se pelos fundos. Havia lá embaixo a cátedra em forma de púlpito, junto a sua mesa. À mesa encontravam-se o professor Reinaldo Porchat, o então presidente do Centro Acadêmico “XI de Agosto”, vários mestres de Direito, jornalistas e homens de letras. O poeta de “Dentro da noite” entrou em companhia de Roberto Moreira, que naquele ano exercia uma das promotorias públicas da capital.
Porchat pronunciou um dos seus mais belos discursos literários. Como a obra poética de Bilac está cheia de beijos (havendo nela, mesmo, um beijo que quer durar a vida inteira), o emérito professor de Direito Romano tomou-o para tema da sua oração. Disse que o beijo é para o poeta motivo de inspiração, podendo servir de tema a um lindo poema. Para o jurista, não. Um beijo pode ser o ponto de partida para uma ação criminal. E por aí a fora, numa sucessão de imagens bonitas.
À hora do “Recita!” “Recita!”, o poeta de “Alma Inquieta”, que ia descendo a escadinha da cátedra, parou no meio dela. Olhou para a sala estrugindo de aplausos e de pedidos : “Ouvir estrelas”, “Dentro da noite”, “Satânia”, “Maldição”. Deve ter ouvido pedirem-lhe até o “Caçador de Esmeraldas”. Profundamente emocionado, quis sorrir. Quis eximir-se da obrigação de declamar. Levou as mãos à garganta, como para dizer que estava cansado, quase afônico. Os moços insistiram. Não houve remédio. Subiu de novo à cátedra e recitou o soneto “Benedicite”, da “Tarde”.
Outro poeta que nunca se recusou a declamar para os moços da Faculdade de Direito foi Emilio de Meneses.
Numa das últimas vezes em que lá esteve, pela mão dos seus amigos de “O Pirralho”, querendo levar a cortesia a um ponto extremo, improvisou, um soneto de agradecimento. É o que começa assim: “Deixai que o cisne o canto aqui desfira”. Nele se fala de um poeta que reconhece estar próxima a hora da sua morte e que se sente feliz em poder despedir-se da vida no meio de estudantes.
O único poeta de que me lembro que se recusou a dizer versos foi Júlio Dantas.
Fui escolhido para fazer a saudação oficial, em nome do querido Centro Acadêmico “XI de Agosto”, ao autor de “A Ceia dos Cardeais”, no ano de 1922, quando de sua primeira visita ao Brasil. Fiz um discurso cheio de citações da sua obra e em que tentei destacar a influência que as mulheres haviam exercido nela. Falei cerca de trinta minutos. Júlio Dantas, impassível. Era um homem bonito e elegante. Vestía um jaquetão azul irrepreensível. Tinha ainda os bigodes bem pretos. Só a cabeleira (a que se vê num retrato que costuma acompanhar “A Ceia dos Cardeais”) é que começava a desbastar-se, meio embranquecida.
Levantou-se, agradeceu a saudação dos moços, feita por meu intermédio e sentou-se. Não adiantou a gritaria: “Recita!” “Recita!” “Recita!”. O autor de “Lady Godiva” fechou-se em copas. Não recitou. Levantou-se e saiu a percorrer a velha escola, rodeado mais pela simpatia de um bando de mulheres que tinha ido ouvi-lo do que dos estudantes. Estes não lhe perdoaram a desatenção.
* * *
A notícia de que a Sociedade de Homens de Letras do Brasil pretende erigir no Rio um monumento a Olavo Bilac trouxe-me à lembrança o que se fez em São Paulo, a favor do grande poeta, entre 1918, data do seu falecimento, e 1922, data da inauguração da estátua de Zadig numa das extremidades da avenida Paulista.
Bilac foi sempre um nome estimadíssimo em São Paulo, mas depois do discurso na Faculdade de Direito, em outubro de 1915, sobre o serviço militar obrigatório, a estima transformou-se em veneração. Assim, logo após a sua morte, em dezembro de 1918, organizou-se nesta capital, por iniciativa do Centro Acadêmico “XI de Agosto”, uma comissão pró-monumento ao poeta de “Alma Inquieta”. Os trabalhos da comissão foram demorados. Fez-se muita politicagem em torno disso no velho convento. Até que em 1922 foi possível descerrar o pano que encobria a obra do escultor Zadig.
Tive a felicidade de ser o orador oficial do Centro Acadêmico “XI de Agosto”, no ato da inauguração. A cidade embandeirou-se em arco. A avenida Paulista encheu-se de automóveis, conduzindo autoridades e representações. Junto à esquina da rua Minas Gerais em palanque da Prefeitura, o sr. Washington Luís presidiu à festa. Não sei se houve muitos oradores. Sei que o meu discurso começou falando em Carlyle e era uma página de sincero lirismo juvenil. Graças ao meu entusiasmo, conquistei a amizade da irmã do poeta, da. Cora Bilac Guimarães, e de seu marido, o sr. Alexandre Lamberti Guimarães, presentes à solenidade.
No dia da festa, fomos jantar com o querido casal no Hotel d’Oeste. Éramos quatro: Lúcio Cintra do Prado, presidente do Centro; Teotônio Monteiro de Barros, meu colega de turma, Odécio Bueno de Camargo, calouro, e eu. Dona Cora, muito comovida, sempre com uma lágrima nos olhos, não se cansava de testemunhar a sua gratidão aos paulistas. O inesquecível Alexandre Lamberti acolitava-a no entusiasmo por S. Paulo.
— Meu irmão — dizia-nos da. Cora, à mesa do jantar — tinha grande confiança na mocidade paulista. Quando os moços foram convidá-lo, em 1915, para uma visita a esta capital, e especialmente à Faculdade de Direito, hesitou muito. Não deu, como era de hábito nele, resposta imediata. Que hei de dizer aos moços de São Paulo? — perguntava. Falar a São Paulo é tremenda responsabilidade.
Olavo Bilac estudou em São Paulo. Aqui escreveu alguns do mais belos sonetos da “Via Láctea”. Mas ficou muitos anos sem visitar os amigos. A reconciliação com estes parece que se deu em 1910, por ocasião da inauguração da herma de Garibaldi no Jardim da Luz. Daí por diante, visitou-nos com regularidade. Numa das últimas vezes declamou os sonetos da “Tarde” publicamente, no salão do Conservatório. Um desses sonetos é dedicado “Aos meus amigos de São Paulo”.
Dona Cora não deixava de acentuar, com mil agradecimentos, a prioridade dos paulistas nas homenagens à memória do grande artista do verso.
— Os senhores, paulistas, são os primeiros a lembrar-se de dar à imagem do meu irmão a perpetuidade do bronze. Com esse gesto, os senhores respondem às acusações de regionalismo intolerante. Bilac não nasceu em São Paulo, nasceu no Rio, mas é São Paulo que o consagra. Estou certa de que ele está contente lá onde se encontra. São Paulo era a sua fábrica de entusiasmo.
No ano seguinte, no Rio, em visita ao saudoso casal, ouvi de novo entusiásticos elogios à nossa gente. Tenho, porém, a impressão de que tanto dona Cora como o sr. Alexandre Lamberti morreram sabendo da remoção da estátua de Bilac para o depósito municipal. Teriam, então, mudado de idéia a respeito dos paulistas? Acredito que não. Eles eram bons demais.
* * *
A visita de Epitácio Pessoa à Faculdade de Direito, em 1921, não foi uma questão pacífica entre professores e alunos. Iniciara-se no Brasil, sob o seu governo, o ciclo das revoluções. Falava-se muito em “verdade das urnas”, democracia, liberalismo. A guerra à política de conchavos era o “leit-motiv” dos discursos e das campanhas pela imprensa. Já a Liga Nacionalista, em pleno funcionamento, semeava no seio da mocidade acadêmica não, propriamente, o germe da revolta, mas a semente das campanhas cívicas de libertação e redenção da República.
Temia-se que a presença da “Patativa do Norte” no velho casarão colonial do largo de São Francisco provocasse manifestações de desagrado ou de irreverência, incompatíveis, num e noutro caso, com a dignidade do alto mandato exercido pelo ilustre paraibano. Corria o boato de que os estudantes, se não pudessem evitar a visita, evitariam os discursos. Herculano de Freitas, então diretor, foi ouvido várias vezes. Sucederam-se as conversações entre o presidente do Centro “XI de Agosto”, Herculano e o presidente do Estado, que, na ocasião, era o sr. Washington Luís.
Seja dito de passagem que nenhum estadista brasileiro de visita a São Paulo se eximiu jamais ao dever de ir prosternar-se aos pés do velho templo do liberalismo. Vir a São Paulo e não visitar a Faculdade de Direito é ir a Roma e não ver o Papa. O sr. Getúlio Vargas, por exemplo, obteve todas as consagrações, menos a dos acadêmicos paulistas. É uma lacuna imperdoável na sua biografia, porque vai alertar a curiosidade e a bisbilhotice dos historiadores do futuro. “Por que motivo (perguntarão estes), o homem que teve tudo não teve as palmas dos estudantes de Direito de São Paulo?”
O governo fazia questão do convite da Faculdade de Direito ao então presidente Epitácio Pessoa para uma visita oficial à escola. Foi, então, marcada a data.
Nunca vi tanta gente na cidade como no dia em que se anunciou a visita do presidente da República ao “Velho Convento”. A rua de São Bento era um formigueiro em polvorosa. No largo de São Francisco não cabia uma agulha. A Faculdade agigantava-se. Tinha-se a impressão de que a visita de Epitácio Pessoa aos moços era um ato de contrição. Ampliava-se no tempo e no espaço a força consagradora da simpatia estudantina. Ouvi de um poeta em grande evidência naquele ano que a nossa Academia era o Jordão em cujas águas os políticos iam lavar-se de erros e pecados...
Epitácio Pessoa chegou na companhia do sr. Washington Luís. A Congregação, com Herculano de Freitas à frente, envergando as vestes talares, recebeu-o à porta. Uma secção da banda da Força Pública postada no saguão executou o Hino Nacional. Estrugiram palmas. Ouviram-se algumas tentativas de assobio. Herculano de Freitas, autoritário e imponente, com a beca ao vento, um ar inconfundível de Mefistófeles, fazia as apresentações. Tudo fora cuidadosa e carinhosamente preparado com o objetivo de dar o maior relevo possível à cerimônia da visita.
Depois de uma rápida peregrinação em “lugares sagrados” da escola (Arcadas, sala n.° 2, túmulo de Júlio Franck), a sessão solene na “sala dos retratos”. Gente à cunha. Todo o mundo queria ouvir a “Patativa do Norte”. Falava-se da sua oratória como de um fenômeno. Esperava-se, além do mais, que o discurso do chefe do governo aos moços contivesse revelações sensacionais, ou, pelo menos, grandes promessas. Herculano de Freitas dispôs os visitantes segundo o protocolo interno da Academia e deu a palavra ao orador dos estudantes. Oscar Stevenson encaminhou-se para a tribuna e fez a saudação do estilo.
Epitácio Pessoa levantou-se para agradecer.
Foi então que, na sala vergando ao peso de tantas responsabilidades — tradição acadêmica e dignidade da função pública ali encarnada na pessoa do chefe da nação — se ouviu, antes que o orador pudesse ter iniciado o seu discurso, uma exclamação curta, estridente, jocosa, uma exclamação que cortou o ar como uma chicotada, deixando a assistência atônita:
— Aí, Tio Pita!
“Tio Pita” era a alcunha de Epitácio. Naquela hora, em lugar de uma alcunha poderia ter sido um epitáfio. Mas a assistência, colhida de surpresa, não teve sequer o tempo de rir. E isso salvou a festa.
* * *
A escolha de orador para a recepção de Epitácio Pessoa esbarrou numa dificuldade muito grande, quando as preferências de Lúcio Cintra do Prado, então presidente em exercício do Centro Acadêmico “XI de Agosto”, se fixaram no nome de Oscar Penteado Stevenson, aluno do 2.° ano.
— E o fraque?
O negócio era com efeito puxado a fraque e cartola.
No meu tempo não era fácil encontrar estudante com guarda-roupa tão fornido a ponto de possuir fraque e cartola. Em havendo necessidade disso, a gente corria ao Mascigrande. Oscar Stevenson, porém, se arranjou às mil maravilhas com o seu colega de turma, Aristides de Toledo. Envergou a farpela deste e foi estrear-se na tribuna acadêmica. Não podia, em todo caso, fazer muitos gestos, porque o fraque era um pouco estreito nas axilas. Baixo e gordo, quase roliço, o orador era bem o tipo do sujeito socado. Era um corpo de atleta, mas um atleta que se desse ao luxo de fazer bons versos, escrever bons discursos, fazer bons exames.
Epitácio Pessoa gostou do discurso do orador acadêmico e disse a Herculano de Freitas que desejava agradecer. Foi-lhe dada, então, a palavra.
A alcunha de “Patativa do Norte” assentava-lhe ainda como uma luva. Que orador prodigioso era Epitácio Pessoa! Todas as deficiências físicas eram nele supridas pelas modulações de uma voz verdadeiramente privilegiada. Eu já tinha aprendido com Carlyle que a palavra do homem, até no ardor da cólera, é canto. Ouvindo o insigne paraibano, primeiro no discurso do Teatro Municipal em favor dos flagelados da seca no Nordeste, depois no discurso de resposta a Oscar Penteado Stevenson, eu me convenci de que nenhum instrumento é mais colorido, mais vibrante, mais musical, mais expressivo do que a voz humana.
Epitácio Pessoa fez um discurso nacionalista, de exaltação às coisas da pátria, procurando mostrar que fora esta, em todas as fases da sua vida pública, o móvel exclusivo das suas atitudes e das suas palavras. Agradecendo as referências de Spencer Vampré, intérprete da Congregação, ao papel por ele desempenhado na Conferência da Paz, fez-nos uma exposição rápida mas incisiva da situação política do mundo em que lhe coube representar o Brasil em Versalhes. Parecia responder à famosa conferência de Rui Barbosa, dois anos antes, no Teatro Municipal de São Paulo, sobre “O caso internacional”.
A eloqüência de Epitácio Pessoa estava, a um tempo, nas palavras e nos gestos.
Esquecia-se, quando na tribuna, do cargo que exercia. Cantava e gesticulava. Os períodos brotavam-lhe espontaneamente musicais. Percebia-se que era um homem habituado ao convívio dos grandes mestres da literatura. Via-se, antes de mais nada, que tinha o hábito de raciocinar em voz alta. A frase, sempre escorreita e impecável sob o ponto de vista gramatical, dizia exatamente o que queria dizer. Nem mais nem menos. Mas a voz é que era tudo nele. Quando, alguns anos mais tarde, vim a saber que a voz de Aristides Briand, como o plectro de Orfeu, aquietava as paixões na Câmara de Paris, não fiquei com ciúme dos franceses. Nós tivéramos, também, num passado recente, a voz de Epitácio Pessoa!
Quando terminou a visita, ninguém mais se lembrava das apreensões de horas antes. Ninguém mais se lembrava, sobretudo, daquele “Aí, Tio Pita!” com que um estudante gaiato pretendera estimular a hostilidade contra a “Patativa”. Fizemos a Epitácio Pessoa uma das maiores manifestações de que há notícia nos anais da querida escola do largo de São Francisco. O único estudante que não pôde dar excessiva expansão ao seu entusiasmo foi Oscar Stevenson, cujo corpo, modelado pelo fraque de Aristides de Toledo, era como se estivesse dentro de um cilício.
* * *
A visita de Sacadura Cabral e Gago Coutinho a São Paulo, a convite da colônia portuguesa, constituiu pretexto para mais uma demonstração de estima ao velho Portugal. Os estudantes de Direito promoveram uma “marche-aux-flambeaux” e eu fui incumbido de servir-lhes de intérprete. Cabia-me falar ao fim do passeio, no largo de São Francisco, de uma das janelas do Consulado de Portugal, então funcionando naquele sítio, em frente à nossa escola.
Tinha gente como nunca. Subi ao Consulado e lá me disseram que eu precisava ter muito cuidado com os fios da luz elétrica espalhados por cima do balcão. Não houvera tempo para uma instalação completa. Alguns fios estavam descobertos. Um gesto mais violento, numa hora de mais eloqüência, poderia emudecer-me para sempre. Se eu escorregasse, por exemplo, e tentasse, à vista do perigo iminente, apoiar-me no balaústre, as minhas mãos encontrariam os fios da luz elétrica. Seria fulminado na hora.
Veio, porém, lá de dentro, uma voz amiga:
— Eu seguro o moço! Deixem o moço por minha conta!
Era o dr. Magalhães, cônsul de Portugal em São Paulo. Caminhou na minha direção com um grande sorriso na face. Tinha, aliás, motivos para estar radiante. São Paulo em peso estava na rua, a dar vivas aos portugueses. A vinda dos aviadores a esta capital representava, por outro lado, sob o ponto de vista diplomático, um “tour de force”. Não era fácil, naquele ano, arrancar os ilustres navegantes do espaço às mãos dos portugueses do Rio!
Ouviu-se outra voz, fazendo coro com a do cônsul Magalhães:
— Eu vou ajudar v. exa. a segurar o moço. V. exa. segura-o pela direita e eu, pela esquerda.
Era o padre Guerra.
Assim foi. Deram-me uma cadeira, porque o balcão do Consulado era um pouco alto e a figura do orador desaparecia atrás dele. Trepei na cadeira. O cônsul Magalhães trepou noutra, à direita, o padre Guerra, à esquerda. Não podendo segurar-me as mãos, pois me atrapalhariam os movimentos, seguravam-me as pernas. Havia algo de grotesco em tudo aquilo. A alegria da massa, em frente, no largo de São Francisco, não permitia, em todo caso, tomassem relevo as situações ridículas. E eu soltei então o verbo, falando muito, naturalmente, em “navegantes do espaço”, coisa que na ocasião se ajustava admiravelmente aos aviadores portugueses.
Findo o discurso, o cônsul Magalhães pegou-me aos braços, não só para me ajudar a descer como para agradecer-me, em nome da colônia, as palavras calorosas. “V. exa. — disse-me ele — voou tão alto quanto os meus patrícios”. Levou-me para dentro da sala, onde Sacadura Cabral e Gago Coutinho me esperavam para os beijos da pragmática. Ao lado, o padre Guerra fazia “blague”: “Se eu não seguro v. exa. — dizia-me — v. exa. subiria nas asas da imaginação. Foi um belo discurso”.
Muitos anos depois, estando em meu gabinete de trabalho, sou procurado pelo dr. Magalhães, portador de uma carta do dr. Altino Arantes. O eminente presidente da Academia Paulista de Letras recomendava o dr. Magalhães ao meu acolhimento e pedia o meu interesse por um livro de autoria de Pedro Gil. O encontro foi o mais cordial possível. Lembrei ao dr. Magalhães o episódio da “marche-aux-flambeaux” e ficamos, horas esquecidas, a conversar sobre o Brasil, sobre Portugal, sobre o mundo. Era um conversador bastante agradável. Era, principalmente, um homem de cultura, com um grande amor à causa da aproximação entre brasileiros e portugueses. Tornamo-nos amigos.
Certa vez, viajando na Mojiana, tive-o como companheiro até Campinas. Ia para a sua fazenda.
Apesar de conhecer o mundo inteiro, apesar de ter estado na Bahia, no Pará, no Amazonas, no México, em Marselha, fixara-se com ânimo definitivo em São Paulo. Era tão paulista como os de quatrocentos anos. Por São Paulo, sofreu a transferência para o México.
— Se o meu país não me quer aqui como cônsul, aqui fico como fazendeiro paulista. São Paulo, quero crer, não me expulsará do seu seio.
Sim, São Paulo não o expulsou do seu seio. Ao contrário, a terra de São Paulo guarda-o amorosamente nas suas entranhas e a nossa gente se associa com o maior entusiasmo às comemorações do primeiro aniversário de sua morte. Quanto a mim, aqui estou, compungido e sincero, a recordar alguns episódios que, tendo me aproximado dele, me proporcionaram a oportunidade de devassar-lhe as belezas do coração e do espírito. Como Eça a respeito de Eduardo Prado, presto homenagem, através do homem que tanto estimei, à terra e à gente que tanto prezo.
* * *
As relações luso-brasileiras encontraram grandes propugnadores nos estudantes de 1919 a 1923.
Sacadura Cabral e Gago Coutinho receberam em São Paulo uma das maiores manifestações de rua já registradas pelos anais da cidade. Por ocasião da “marche-aux-flambeaux” coube-me dirigir-lhes a palavra no largo de S. Francisco, da sacada do Consulado de Portugal. Falei, se bem me lembro, em “navegantes do azul” e justifiquei, mais uma vez, o epíteto de Camões em “Os Lusíadas”.
“... Ó gente ousada mais que quantas
No mundo cometeram grandes coisas!”Ganhei com isso quatro beijos de homem: dois, de Sacadura, um na face esquerda, outro na direita; dois, de Gago Coutinho. Ganhei-os à vista do público. O cônsul Magalhães, de um lado, e o padre Guerra, de outro, não faziam economias de adjetivos:
— V. exa. — diziam — voou tão alto quanto os nossos aviadores!
O escritor Júlio Dantas, recebido por nós, em visita oficial à Faculdade, pelas mãos do presidente do Centro Acadêmico “XI de Agosto”, fechou-se em copas, quando os estudantes lhe pediram que recitasse. Ouviu o meu discurso de saudação, com um ar impassível, do fundo de sua beleza física. Pronunciou depois algumas palavras de agradecimento e saiu a percorrer as dependências da velha escola, com a estudantada atrás, aos berros:
— Recita! Recita! Recita!
Não recitou. Manteve-se surdo ao nosso apelo.
Carlos Malheiro Dias veio falar-nos sobre o poeta da “Ceia dos Cardeais”. Com aquela grande arte do retrato, que lhe deu lugar de tanto relevo entre os romancistas portugueses, o autor de “Paixão de Maria do Céu” descrevera-nos um Júlio Dantas diferente do que vimos a conhecer mais tarde. Teve, porém, a habilidade, que é mais talento do que habilidade, de reconstituir, em torno da figura e da obra daquele escritor, o período da literatura portuguesa posterior ao grande grupo dos “Vencidos da Vida”.
Júlio Dantas deixou-nos a impressão de um homem que só via marquesas por toda parte. E que, por conseguinte — como, aliás, no retrato que dele nos deixou Campos Monteiro, em “Saúde e Fraternidade”, — só se interessava por marquesas. Era um homem bonito.
João de Barros, outro ilustre poeta português, tinha, fisicamente falando, menos imponência que Júlio Dantas.
Baixinho e cabeçudo, falando muito apertadinho, olhava-nos através de um monóculo, petulantemente. Saudado, em nome dos professores, por Spencer Vampré, e dos estudantes, por Manuel Otaviano Junqueira, manifestou-se encantado pelo fato de pisar o “solo sagrado” da Faculdade de Direito de São Paulo. Disse, a tal respeito, meia dúzia de frases bonitas e declamou algumas poesias:
“Larga as amarras
Navio velho adormecido junto ao cais!
Não voltes mais!”Almeida Braga visitou-nos pelas mãos de Carlos Pinto Alves.
Muito moço, com um ar aristocrático bastante acentuado, faces pálidas e mãos finas, Almeida Braga foi acolhido pelos estudantes com simpatia. Muito contribuiu para isso o prestígio de que gozava Carlos Pinto Alves entre os colegas, prestígio de homem culto e elegante, devoto de Anatole. Louvamo-nos inteiramente na palavra deste, porque de Almeida Braga, mesmo, conhecíamos pouca coisa, quase nada.
Era, porém, escritor. Era moço. Vinha de Portugal. Ora, só isso bastava para acender a chama da nossa cordialidade. Portugal era a grande afeição da nossa juventude. Carlos Malheiro Dias, João de Barros, Sacadura Cabral, Gago Coutinho, Júlio Dantas, Almeida Braga tinham, para nós, uma sedução extraordinária: eram portugueses.
* * *
O “Hino Acadêmico” goza do privilégio de ser ouvido de pé.
Não há palavras que traduzam a emoção do estudante de Direito quando ouve, pela primeira vez, os versos de Bittencourt Rodrigues musicados por Carlos Gomes. Todo o seu ser vibra intensamente. Os versos do poeta acadêmico encerram a um tempo um apelo, uma exortação e um prêmio. O estudante, ouvindo-os e declamando-os, sente-se integrado, por meio deles, na vida política do país:
Mocidade, eia avante, eia avante,
Que o Brasil sobre vós ergue a fé!Nas festas acadêmicas, a execução do “Hino Acadêmico” pela banda da Força Pública era número indispensável. Formava-se em nós a “peau de poule”. O espírito chocarreiro era imediatamente substituído pelo sentimento de responsabilidade cívica. Deixávamos os ditos jocosos para ocasião mais oportuna. Em pé, de cabeça descoberta, acompanhávamos a banda:
Mocidade, eia avante, eia avante.
Que o Brasil sobre vós ergue a fé,
E esse imenso colosso gigante
Trabalhai por erguê-lo de pé.Assim que os últimos acordes da imponente canção marcial reboavam sob as Arcadas, estrugiam palmas e os pique-piques ecoavam por toda a parte. Era, então, a hora dos hinos suplementares. Era a hora do “pau no gato”. Gritávamos para o maestro Antão, solenemente perfilado à frente do seu magnífico conjunto, no saguão da entrada:
— Música, maestro!
E entoávamos, sob a regência do Cássio Egídio de Queiroz Aranha, o hino-canção de guerra:
Atirei o pau no gato-to
E o ga-to-to não mo-reu-reu-reu,
Nhá Chi-ca-ca admirou-se-se
Do be-rô, do be-rô, que o gato deu.O “pau no gato” pertence ao folclore acadêmico. Não lhe conheço a origem. Sei, no entanto, que era o hino preferido nas noites de chopada ou nos intervalos das recepções solenes. Depois do hino de Carlos Gomes e Bittencourt Rodrigues, vinha o “pau no gato”. Depois do “pau ho gato”, vinham os pique-piques. Às vezes, entre um e outro, vinha a canção em rimas esdrúxulas:
Era uma vez um rapaz simpático...
Cássio Egídio era mestre nisso. No dia da fundação dos cursos jurídicos, depois do jogo de futebol no Parque Antártica, vinha para a cidade dependurado num bonde superlotado. De fraque e cartola, o pescoço muito comprido a emergir de um colarinho muito duro, marcando o compasso com o braço muito esguio, já quase afônico, entoava fanhosamente:
Era uma vez um rapaz simpático,
que tinha uns ares sorumbáticos,
que amava uma moça pálida,
que não sabia matemática...A letra não tem fim. Tudo depende do entusiasmo e da disposição de quem puxa a fila, como quem puxa reza. As rimas em “ático”, “ético”, “ítico”, “ótico” e “útico” são abundantes, de maneira que a canção acaba vencendo a assistência pela monotonia. No fim de quinze, vinte ou trinta minutos, estamos pedindo fim. É uma canção feita precisamente para entediar. Serve para pôr à prova a capacidade de resistência dos estudantes, nos dias de chope fácil e pródigo. É, em regra, a canção dos dias de viagem, quando as caravanas esportivas percorrem as cidades do interior, em disputa de campeonatos de futebol.
Outra canção incorporada ao folclore acadêmico era a do Bartolo que tenia una flauta. Bartolo tenia una flauta, a flauta era de Bartolo, e por aí além. Não acabava nunca. A madrugada entrava pelo “Bar Baron” a dentro e ia encontrar lá no fundo, à volta de u’a mesa cheia de canecões vazios, a turma preocupada com a flauta de Bartolo, com o Bartolo que tenia una flauta, tudo isso num espanhol das dúzias, um espanhol típico de cervejada acadêmica.
* * *
A partir de 1918, graças aos esforços de Décio Ferraz Alvim, teve outro incremento a vida esportiva dos estudantes de Direito.
Até então, as partidas de futebol eram invariavelmente um número obrigatório das comemorações do “XI de Agosto”. Realizavam-se no Parque Antártica, para onde se transportavam os acadêmicos em bondes fornecidos pela “Light”. Naquele campo havia chope à vontade, fornecido pela companhia concessionária.
Os jogadores bebiam antes, durante e depois do jogo, de maneira que este se transformava numa autêntica pantomima. Ainda alcancei, em 1919, uma dessas partidas comemorativas. De um lado, a Medicina; de outro, o Direito. Ao fim de meia hora estava tudo misturado: os estudantes de Medicina jogavam pelos de Direito, os de Direito pelos de Medicina. O juiz, de fraque, no meio do gramado, não conseguia sequer manter a disciplina dos próprios membros.
Graças a Décio Ferraz Alvim, fundou-se o Campeonato Acadêmico de Atletismo, sob o patrocínio da Associação Paulista de Esportes Atléticos, e que acabou oficializado pela Federação Brasileira.
Por iniciativa desta, tivemos nas chamadas “Festas da Primavera” o Campeonato Acadêmico Brasileiro de Atletismo, que se realizava todos os anos, no Rio, no mês de setembro. Vários estudantes de São Paulo alcançaram posições de grande relevo nas “Festas da Primavera”, como Décio Ferraz Alvim, nas provas de velocidade, Álvaro de Sousa Queiroz Filho, nas de salto em extensão e com vara, Fábio Correia Dias, nos 1.500 metros rasos, Tito Pais de Barros, nas de arremesso, Alfredo Elis Machado de Oliveira, nas de arremesso de peso, Inocêncio Góis Calmon, nas de fundo. Álvaro de Sousa Queiroz bateu em 1921 o recorde brasileiro de salto em extensão e Tito Pais de Barros, um ano antes, o de arremesso de disco.
O campeonato de 1921 foi no entanto o mais renhido e para a mocidade paulista o mais empolgante.
São Paulo enviou 11 jogadores de futebol e 2 atletas: Álvaro de Sousa Queiroz Filho e Tito Pais de Barros. Estes foram obrigados a inscrever-se no maior número possível de provas. O Álvaro venceu o salto em extensão, o salto com vara e obteve o segundo lugar no salto em altura; o Tito venceu o arremesso de disco, obtendo, ainda o segundo lugar nos arremessos de dardo e de peso, e o terceiro, no salto em extensão. Os futebolistas, por sua vez, dando tudo quanto podiam, conseguiram classificar-se bem. Os 11 futebolistas e os 2 atletas se houveram com tanta eficiência que, apesar das representações das outras escolas serem bastante numerosas, as provas terminaram com empate: no primeiro lugar, a Escola Militar do Rio e a Faculdade de Direito de São Paulo; no segundo, a Escola Naval e a Faculdade de Medicina do Rio.
A prova de desempate constou de tração da corda, em turmas de 6 homens para cada escola desempatante.
São Paulo viu-se em perigo, depois de tanto esforço, pois na sua representação havia mais jogadores de futebol do que atletas propriamente ditos. Os atletas eram apenas dois. Mas Tito Pais de Barros foi ao árbitro e lhe pediu autorização para escolher, entre os jogadores de futebol, os quatro homens restantes. O árbitro concordou. Tito escolheu, então, os mais pesados. Entre os mais pesados, ocupava sem dúvida o primeiro lugar Rinaldo Bulcão Giudice, que pesava na ocasião 130 quilos e que no “goal” de São Paulo valera, por si só, como uma barreira intransponível.
Giudice saltou à arena e foi logo arrancando o paletó. Virou-se para os colegas e disse:
— Só tenho um receio: o de que o gramado não me aguente...
Puxa daqui, puxa dali, os 2 atletas e os 4 futebolistas conseguiram desempatar em favor da Faculdade de Direito de São Paulo. Muito contribuiu para esse resultado, além dos 130 quilos do Rinaldo Bulcão Giudice, a torcida de um forte grupo de moças cariocas. Olhando para a representação de São Paulo e vendo nela a figura de Tito Pais de Barros, as mocinhas cariocas não podiam deixar de esfregar os olhos, para se certificarem de que não era sonho: lá estava, entre os estudantes paulistas, Apolo em carne e osso.
O Centro Acadêmico “XI de Agosto” realizou uma sessão especial para entrega de uma medalha de ouro a cada um dos denodados esportistas.
* * *
Em 1921, Leopoldo Fróes realizou em São Paulo, no Cassino Antártica, uma temporada de comédia, a mais brilhante, talvez, de sua carreira de ator e de empresário.
Muita gente se lembra do êxito de “O coração manda”, “O simpático Jeremias”, “Longe dos olhos”, “Feitiço”, “Mimosa”. A sedução de Leopoldo Fróes, como artista e como homem, era tanta em São Paulo que durante muitos meses foi “Mimosa” a canção predileta do nosso povo. Medíocres eram, sem dúvida, os versos. Medíocre a música. Mas só o fato de serem ambos do estimado comediante lhes dava popularidade e prestígio. À noite, nos bairros aristocráticos, vinha do interior das salas de visita iluminadas um rumor de cantiga:
“Mimosa,
Tão delicada e tão formosa...”Uma turma de acadêmicos, tendo à frente Jaci de Assis, procurou o grande artista para a “carona” do estilo. Leopoldo Fróes não se fez de rogado. Mandou dizer-nos pelo referido emissário que o Cassino Antártica era nosso. Estudante de Direito não pagava entrada. A mocidade acadêmica de São Paulo era o seu fraco. Pedia-nos unicamente que durante a representação refreássemos o nosso entusiasmo. Nos intervalos, sim. Nos intervalos poderíamos dar expansão à nossa hilaridade.
Viu-se, então, em São Paulo, esta coisa inédita: os espetáculos terminavam todas as noites, invariavelmente, com uma homenagem a Leopoldo Fróes. Lá pelas tantas, Jaci de Assis, empoleirado nas galerias, batia palmas, pedindo atenção e silêncio:
— Respeitável público, — dizia — em nome da mocidade acadêmica de São Paulo o sr. Fulano de Tal vai saudar o grande Leopoldo Fróes. Tem a palavra o sr. Fulano de Tal.
Seguia-se o discurso, quase sempre um “béstia”.
Não sei se os leitores sabem o que é um “béstia”. Na gíria estudantina é a arte de dizer lugares comuns com ênfase. Coisas como as que se seguem: “O velho convento de São Francisco”, “As vetustas tradições da Faculdade de Direito de São Paulo”, “Arcadas ressoantes do verbo magnífico de José Bonifácio”, “Sombras amadas de grandes poetas”, são ditas com altiloqüência, no meio de muitos gestos. O orador põe “tremolos” na voz. Espicha as vogais, assim: “O velho conventoooo de São Franciscoooo”. Os gestos acompanham a sucessão de vogais, de maneira que o ouvinte tem a impressão de que o moço é mesmo um grande orador.
Todas as noites, entre o 2.° e o 3.° ato, palmas e pedido de silêncio no Cassino:
— Em nome da mocidade acadêmica de São Paulo vai falar, saudando Leopoldo Fróes, o estudante Fulano. Tem a palavra o estudante Fulano.
Certa noite, já depois de duas ou três semanas de homenagens diárias, Leopoldo Fróes manda chamar-nos ao seu camarim. Fomos em comissão, com Jaci de Assis à frente. Leopoldo Fróes, de rosto muito empoado, estava-se preparando para o terceiro ato de “Longe dos olhos”. Duas ou três pessoas ajudavam-no a vestir-se: uma lhe dava o laço na gravata-borboleta, outra lhe endireitava a casaca, outra, ajoelhada aos seus pés, lhe enlaçava os cordões dos sapatos de verniz. Todas lhe davam o título de “doutor”. Doutor Fróes prá cá, doutor Fróes prá lá, doutor Fróes precisa disto, doutor Fróes precisa daquilo, etc.
— Meus amigos, — disse-nos o estimado ator — vocês não acham que basta de homenagem? Um discurso de vez em quando passa. Mas um discurso todas as noites, por mais eloqüente, e vocês são todos eloqüentes, acaba fatigando o auditório. Quem sabe se não seria preferível vocês tomarem parte num “ato variado”, em minha “festa artística”?
Jaci de Assis falou pelos colegas:
— Fróes, — disse ele — nós tomaremos parte na sua “festa artística” — num ato variado. Mas não dispensamos o discurso diário, no último intervalo. Estudante não paga entrada, disse você. Nós queremos, no entanto, retribuir-lhe a gentileza. Se não temos dinheiro no bolso, temos discursos na cachola. O burguês ignaro paga 5 mil-réis para te aplaudir. Nós pagamos com adjetivos.
Olhou depois para os lados, no camarim pequeno como um esquife, debruçou-se aos ouvidos do saudoso galã e lhe fez a seguinte proposta:
— Se você acha que os adjetivos têm sido demais, nós aceitamos a devolução da diferença em... chope.
As homenagens continuaram até o fim da temporada. Mas daquela noite em diante terminavam em chopada, no bar do próprio Cassino Antártica.
* * *
A escolha de paraninfo e orador da turma é problema que começa a preocupar-nos a partir do segundo ano, quando têm início as aulas de Direito Civil, Direito Penal e Direito Comercial. Sabendo que os professores vão acompanhar-nos por dois ou três anos sucessivos, procuramos descobrir neles aquelas virtudes “paternais” que em tese devem revestir a pessoa do paraninfo. Vamos prestando atenção, por outro lado, aos colegas que mais inclinações revelem pela oratória. Ser orador da turma, na festa de formatura, equivale a ser o intérprete de uma geração inteira. Ele fala, ao mesmo tempo, à escola e à vida: diz à primeira da nossa gratidão e da nossa estima e anuncia à segunda as nossas ambições, as nossas esperanças e os nossos planos de conquista.
A turma de 1921 contava entre os seus componentes o filho de um ex-presidente do Estado, além de um filho de catedrático. Era o primeiro, o dr. Paulo Arantes, filho do dr. Altino Arantes, que ocupara a presidência do Estado no quadriênio 1916-1920; era o segundo, o dr. Rafael Sampaio Filho, filho do professor Rafael Correia Sampaio. Eram ambos alunos muito distintos. Rafael Sampaio Filho gozava de tanta simpatia na escola que conseguira eleger-se presidente do Centro Acadêmico “XI de Agosto”; Paulo Arantes era devotado aos livros e além da cultura jurídica, formada sob as Arcadas, possuía excelente cultura literária, formada em casa, tanto na convivência do pai como na de bons autores.
Do seu amor aos livros posso contar o que se passou comigo num dia de 1920. Eu estava em companhia de Jairo de Góis, à tarde. Saíamos, se não me engano, da redação de “O Pimpão”, à praça António Prado. Jairo indicou o rumo: “Vamos passar pelo Garraux”, disse-me, e começamos a subir a rua XV, em direção à livraria. “Paulo Arantes — acrescentou, à guisa de explicação para o itinerário — faz anos hoje e eu quero oferecer-lhe um livro de Anatole, como lembrança”. E comprou, se bem me lembro, “Sur la pierre blanche”, que acabava de aparecer em São Paulo. Eu já sabia, aliás, por experiência própria, do bom gosto que presidia à escolha dos seus autores prediletos.
Nos primeiros dias do segundo semestre de 1921, os bacharelandos de Direito reuniram-se para escolha do paraninfo e do orador. Como sói acontecer em tais ocasiões, falava-se em vários nomes, quer para o primeiro posto, quer para o segundo. A maioria, no entanto, já se fixara em Rafael Correia Sampaio, para paraninfo, e Paulo Arantes, para orador. Apesar das simpatias que inspiravam aos moços todos os professores do curso, a escolha estava feita desde os primeiros contatos com eles. Rafael Sampaio, professor de Processo Penal, era a sedução em pessoa. Tinha, além do mais, um filho na turma e esta se houve, então, em sua escolha para paraninfo com enternecedora elegância.
Anunciado o resultado da votação, ouviu-se uma voz na sala:
— Pela ordem!
Era o bacharelando Antônio Madureira. “Que quererá o Madureira”, perguntavam-se uns aos outros os bacharelandos, já receosos de uma nova brincadeira do estimado boêmio. “Pela ordem”, continuava ele a pedir. “Pela ordem”! Até que não houve remédio. O presidente da sessão não teve tempo sequer para congratular-se com os colegas pelos resultados da votação. Teve de dar a palavra a Antônio Madureira, que não fazia por menos.
Levantou-se, então, o estudante, uma das vozes mais eloqüentes da sua turma, e disse o seguinte:
— À vista dos resultados que v. exa., sr. presidente, acaba de anunciar, proponho figure no quadro de formatura um retrato da Comissão Diretora do Partido Republicano Paulista!
E sentou-se.
A alusão era clara. Clara mas sem malícia. Era apenas mais uma afirmação de espírito do talentoso estudante Antônio Madureira, que gostava tanto de ser estudante de Direito que até dormia na escola. Digo que não havia malícia na proposta porque o discurso de Paulo Arantes só teve, na opinião dos que o leram, um defeito muito grande: não foi pronunciado. Rafael Sampaio nunca escreveu o discurso de paraninfo, talvez por não se sentir com suficiente coragem para falar a uma turma a que pertencia o seu primogênito. A festa de formatura com ele na tribuna poderia ter degenerado numa choradeira interminável.
* * *
A minha geração teve o culto de Rui. Antônio Gontijo de Carvalho, por exemplo, quase não dormiu na noite em que a famosa “Oração aos Moços” viajou para São Paulo, no bolso de um bacharelando da turma de 20. Quando o noturno da Central parou, resfolegando na estação, o querido amigo estava, se não efetivamente, pelo menos mentalmente de joelhos.
Soares de Melo, empunhando o discurso, lia-o em voz alta, através da “gare” tumultuosa. Gontijo, entretanto, não queria apenas ouvir: queria ver, queria apalpar, queria ter às mãos aquela obra-prima Apesar da hora matinal e do barulho, o grupo provocava curiosidade. Muita gente estugava os passos para ver melhor o quadro: três rapazes, um dos quais falava e gesticulava, caminhando, indiferente a tudo o mais, através da plataforma cheia de malas, sacos de café, carregadores, vendedores de jornais aos gritos, passageiros...
No cérebro de Gilberto Vidigal, nosso colega de turma, Rui disputava ao padre Antônio Vieira o primeiro lugar. Tanto a obra do político baiano como a do grande padre não tinham segredos para ele. Os “Discursos e Conferências”, do primeiro, e os “Sermões”, do segundo, eram seus livros de cabeceira. Sabia de cor páginas e mais páginas de ambos. Chamava-me freqüentemente a um canto, nos intervalos das aulas, e declamava-me embevecido “E saiu o semeador a semear”, de Vieira, ou “Liberdade, entre tantos que te trazem na boca sem te sentirem no coração”, de Rui.
Em princípios de 1922, Gilberto resolve reunir em volume alguns de seus escritos. Eram, principimente, discursos de fim de ano, discursos de saudação aos professores. Mas havia no meio deles conferências, dissertações, páginas avulsas. O estilo era castigado e imediatamente denunciava no autor a preocupação de seguir na esteira de Vieira e do conselheiro: a construção da frase, a abundância de sinônimos, as parábolas e as perífrases, a música das palavras, as antíteses, tudo, tudo revelava no jovem acadêmico de Direito o comensal daqueles dois mestres insignes.
Publicado o volume, certa manhã, Gilberto, à porta da escola, segura-me pelo braço, leva-me para um dos corredores mais escuros da casa (parece-me que o seu espaço está hoje inteiramente tomado pela Sala “João Mendes”), põe a mão no bolso, tira dele uma carta e diz-me ao ouvido, com voz trêmula, quase chorando:
— Quero que você seja um dos primeiros a conhecer uma carta de Rui Barbosa, que eu recebi ontem. O conselheiro foi muito amável comigo. Não só me agradece o volume que lhe enviei como me eleva às nuvens, dizendo que Vieira tem agora um sucessor.
A carta era em verdade consagradora. “Nem todos que no falar ou no escrever”, começava o conselheiro. Depois de agradecer o livro, estimulava o autor a prosseguir naquele caminho. Aludia à situação de inferioridade em que se encontrava a nossa língua, ignorada por todo o mundo, mesmo pelos que tinham obrigação de dar o exemplo. Apontava, então, a obra do acadêmico paulista, como realização verdadeiramente notável. Mandava a posteridade guardar-lhe o nome.
Documento de tão alta significação, não só na vida de um estudante como na de uma geração inteira, não podia ficar nas encolhas. Urgia divulgá-lo. Repetia-se com o jovem acadêmico o caso de Monteiro Lobato, anos antes. Rui fizera Lobato dar um pulo formidável: da rua da Boa Vista, esquina da ladeira Porto Geral, redação da “Revista do Brasil”, para a glória. Gilberto, então, que se preparasse para salto idêntico.
Foi o diabo: a carta era apócrifa! Rui, recebendo um recorte do “Jornal do Comércio”, que a publicara na íntegra, telegrafou a Mário Guastini, dizendo que não só não escreverá a carta a ele atribuída como desconhecia completamente o livro e o autor. Viu-se logo, aliás, que o telegrama tinha sido provocado pelos que, tendo simulado a carta de felicitações e de exaltação, desejavam criar para o colega um ambiente irrespirável de constrangimento e de ridículo. As coisas estavam-se processando com muita rapidez. Vinha tudo a tempo e hora: a carta, sua divulgação pela imprensa, o telegrama...
* * *
Gilberto e eu estivemos muito ligados, durante o curso, não só por causa das nossas afinidades literárias como, principalmente, por causa da sua afabilidade pessoal.
Escolheu-me, então, de novo, naquela emergência, para seu confidente:
— Você não acha — perguntou-me — que apócrifo bem pode ser de preferência o telegrama?
Tirou a carta do bolso e argumentou:
— Veja você. A carta veio positivamente do Rio. Está escrita em papel timbrado, com o nome do conselheiro e a rua. A assinatura é dele. Dele é principalmente o estilo. Oiça: “Nem todos que no falar ou no escrever”. É Rui sem tirar nem pôr. Observe o torneio caraterístico da frase. Só Rui escrevia assim.
A tal altura, porém, já se divulgara, sob as Arcadas, toda a história da carta e do telegrama. Conhecendo-lhe a admiração, quase o fanatismo, por Vieira e Rui, alguns amigos e colegas aconselharam-no a publicar em volume os discursos em que ele tanto tentava aproximar-se dos dois modelos. Assim que o livro saiu a lume, os mesmos amigos aconselharam-no a oferecer o primeiro exemplar a Rui. Feito isso, os tais amigos engendram o resto da farsa. Escrevem a carta em pastiche, mandam-na para o Rio a fim de ser depositada no Correio de lá e ficam à espera das conseqüências.
Gilberto insistia:
— Por que há de ser apócrifa a carta e não o telegrama?
Infelizmente, porém, era o telegrama o verdadeiro.
O caso poderia ter sido de funestos resultados para quem estava apenas se iniciando na carreira das letras, e que daí a um ou dois anos deveria iniciar-se também na carreira de advogado, se, mais uma vez, Antônio Gontijo de Carvalho não tivesse posto à disposição do colega a sua bondade e o seu prestígio. Gontijo era amigo íntimo de Antônio Batista Pereira, genro de Rui. Foi então ao telefone e pediu uma ligação interurbana para o solar da rua de São Clemente, no Rio. Queria falar com a sra. da. Maria Adélia, esposa do amigo, filha do conselheiro. Urgia uma solução satisfatória para o incidente.
Gontijo narrou por miúdo a história à ilustre dama. Esta ouviu-o em silêncio, com o maior interesse. Depois de ouvi-lo, aconselhou-o que obtivesse um novo exemplar do livro e que o autor o oferecesse de novo ao pai, mas por seu intermédio. Ela mesma desejava entregar ao grande brasileiro o volume de estréia do acadêmico paulista, vítima de uma estudantada.
Daí a mais alguns dias, nova carta de Rui. Esta era, porém, autêntica. Agradecia o exemplar recebido e punha em discreto relevo as qualidades de reflexão e de estilo reveladas pelo autor. Exortava-o a continuar estudando a língua através dos clássicos. Mas não fazia a mais remota alusão à carta apócrifa nem ao telegrama. Era como se não tivesse acontecido nada.
“Tout est bien ce qui finit bien”. Têm razão os franceses.
No ano seguinte, por ocasião da escolha de paraninfo e orador da turma, Gilberto Vidigal teve o mais justo e o mais tocante dos desagravos: foi eleito orador oficial para a festa de formatura. A página que escreveu para o ato não pôde ser pronunciada no dia da colação de grau. Ela, não obstante, aí está em plaqueta. É um trabalho que honra a produção literária do distinto colega e nele já se mostrava o autor mais liberto da influência de Vieira.
E assim se conta a história do mais rumoroso episódio da nossa vida acadêmica. Quem saiu lucrando foi o próprio Gilberto, que acabou possuindo um precioso autógrafo e que foi, no meu tempo, o único estudante que de tal coisa se pôde gabar em público.
* * *
RAFAEL SAMPAIO — Professor de Processo Penal. Advogado e político de prestígio. Amigo de caçadas e de anedotas.
Dava aula em tom de discurso.
Jornalista militante no início da carreira de advogado e político, adquirira o hábito de exprimir-se com elegante simplicidade. Nos arroubos da eloqüência, vendia, às vezes, gato por lebre, isto é, emprestava demasiada importância às frases feitas, declamando-as com voz trêmula. Gostava de aludir ao “mar tumultuoso da existência” e às “ondas encapeladas das paixões humanas”. Tinha predileção pelas imagens literárias. Apreciava a oratória e não raro simulava em aula julgamentos do Tribunal do Júri, para ter o prazer de ouvir ou de fazer discursos.
Como orador, feria principalmente, a nota patética. Mostrava-se tão sincero na enunciação de ideias e sentimentos que era invariavelmente o primeiro a ceder à emoção das próprias palavras. Querendo comover as massas, começava por se comover a si mesmo. Era como um pregador sacro que se antecipasse à assistência, chorando o “Sermão de Lágrimas” antes de fazê-lo. Isso denunciava nele grande poder de comunicabilidade e um temperamento afetivo por excelência. Ótimo cidadão. Excelente chefe de família. Pai exemplar. As cestas de flores que recebia nos dias de festa, mormente no dia de seu aniversário natalício, tinham um emprego certo, infalível, único:
— Muito obrigado pelas flores — dizia-nos, com os olhos umedecidos de lágrimas. — Vou levá-las para minha filha.
Referia-se a uma filha morta ainda muito moça.
Baixo, entroncado, precisava contar com a desvantagem de um começo de obesidade. Fisionomia expressiva. Olhos pretos sob sobrancelhas espessas. Usava “pince-nez” de cordel e tinha um jeito de o colocar no alto do nariz que lhe acentuava os traços fortes e enérgicos. Olhando bem por baixo daquela máscara se adivinhava, no entanto, imediatamente, o homem de coração, amigo de uma boa prosa, capaz de comprometer-se e até sacrificar-se por amor a uma frase de espírito.
Não era dado a reprovações. Não havia, em todo caso, professor mais formalista do que ele.
Realizava-se o exame final do 5.° ano. Compunham a banca, além dele, Sousa Carvalho, Amâncio Estêvão de Almeida, Spencer Vampré. Cabia-lhe a presidência da mesa. Por detrás desta, os professores, revestidos de suas vestes talares, obedeciam à sua voz de comando. Havia a maior solenidade em tudo. Até a chamada dos bacharelandos para a prova era feita por ele gravemente, com voz de igreja. Os bacharelandos iam sendo chamados e arguidos pelos mestres. Se uns falavam alto, querendo ser ouvidos pela sala inteira, outros falavam baixo, para não serem ouvidos nem pelos examinadores.
Nisto apresentou-se um bacharelando impecavelmente vestido de branco. Era dezembro e fazia calor. O estudante envergara por isso o melhor terno de linho, espetara um cravo vermelho na lapela, enrolara uma gravata igualmente rubra ao pescoço e grudara no rosto o mais jovial, o mais confiante dos seus sorrisos. Era bacharelando, estava às portas da vida prática, podia permitir-se então o luxo daqueles trajes e daquelas atitudes!
Rafael Sampaio pegou o “pince-nez” de cadarço, levou-o aos olhos, segurando-o pela alça do lado direito, e encarou o examinando. Olhou-o de alto a baixo. Disse-lhe:
— O senhor está muito enganado se pensa que isto aqui é um piquenique. Faça o favor de ir mudar de roupa. Não exijo sobrecasaca e calça branca, segundo era praxe antigamente nesta escola. Tenho, não obstante, o direito de querer que o senhor venha pelo menos de casimira.
Passou adiante e deixou o moço numa atitude de absoluto constrangimento, sob os sorrisos amarelos dos assistentes, que começaram a olhar para a cor das suas roupas e das suas gravatas, com o receio de igual descompostura por parte do eminente e querido catedrático.
* * *
Um dia estourou como uma bomba, na Faculdade, a notícia de que o professor Rafael Sampaio reprovara um aluno do 5.° ano.
Interpelaram-no. E ele, com um ar de enfado:
— Ninguém tem o direito de dizer asneiras em voz alta.
— A ignorância e o erro tinham escusas. Quanto à estupidez, não. Nenhum de nós tem culpa de ser ignorante, pois a ignorância é muitas vezes culpa exclusiva do meio. O erro, por sua vez, é uma afirmação defeituosa. Só a estupidez é coisa nossa. O estudante que não tem nenhum conhecimento da matéria pode salvar-se da reprovação pela porta da inteligência ou do espírito. “A inteligência é também uma tradição desta escola”, dizia-nos.
Falava com facilidade e ênfase.
Amigo dos alunos, era, não obstante, nas horas de censura a alguma estudantada que se tornava mais eloqüente. Rafael Sampaio tinha a arte da descompostura. Olhava-nos através do “pince-nez”, carregava os sobrolhos e deixava o seu verbo expandir-se livremente. Era incisivo e enérgico. Possuía um vocabulário especial para tais ocasiões. Conhecia o ponto fraco dos estudantes e ia direito a ele, zurzindo-nos impiedosamente, como se fizesse, em voz alta, exercício de vocabulário camiliano.
Professor, caçador, amigo de anedotas, ninguém sabia contá-las como ele. Dava grande vida aos personagens. Com duas ou três pinceladas rápidas reconstituía um quadro. Reservava para o fim a malícia ou a ironia. Numa roda de amigos, na Câmara, ou de alunos, na escola, era temido pela mordacidade do seu espírito. Forjava epítetos como Vulcano forjava raios. Apanhava com incrível facilidade o lado ridículo de uma situação ou de um homem e o fixava incontinenti numa anedota ou num comentário. Era um miniaturista insigne.
Roda onde ele estivesse custava a dissolver-se. Ninguém queria ser o primeiro a retirar-se, com medo da língua de Rafael Sampaio, distribuidora incorrigível de sarcasmos.
Foi “hermista” em São Paulo. Quer dizer que teve a coragem de não ser partidário de Rui Barbosa numa terra e numa época em que o civilismo parecia encarnar a própria dignidade nacional. Não sei se agiu assim por princípio. Sei que ficaram famosas as cenas de pugilato e de pancadaria à porta do seu jornal, na rua Quinze, em fins de 1909 e primeiros dias de 1910. De um lado da rua estavam os “civilistas” e do outro os partidários do marechal. Os dois grupos chocavam-se no meio da rua. Havia gritos. As bengalas cantavam no ar. Vinha a cavalaria e a rua ficava inteiramente deserta.
Nomeado professor de Direito Judiciário Penal, abandonou o jornalismo. Continuou, porém, na política. Foi deputado em várias legislaturas.
No dia 10 de novembro de 1937, pela manhã, na Faculdade de Direito de São Paulo, realizava-se a defesa de tese do dr. Joaquim Canuto Mendes de Almeida, candidato à livre-docência de Direito Judiciário Penal. Rafael Sampaio, titular da cadeira, presidia a banca examinadora. Começou, então, a arguir o jovem promotor público de São Paulo sobre a matéria da dissertação impressa. A certa altura, porém, sentiu-se mal. Levou a mão ao colarinho como quem está com falta de ar. Sob as vestes talares, o peito arfava. Causava impressão, no alto da doutoral, a sua palidez imprevista.
Reagiu. Começou de novo a arguir o candidato. Falava, porém, com dificuldade, quase com esforço. Fazia pausas demasiadamente longas. Os gestos ficavam incompletos no ar. A Congregação, de olhos postos nele, mostrava-se apreensiva. Intensa emoção dominava a assistência. Canuto Mendes de Almeida cumpria do melhor modo possível a sua obrigação de candidato. De repente, o professor Almeida Júnior, médico e livre-docente de Medicina Legal, solta uma exclamação, quase um grito lancinante:
— O Rafael está morrendo!
Os professores levantam-se e correm para o lado do velho mestre. A aflição e a ansiedade transmitem-se a todas as testemunhas da impressionante cena. Rafael Sampaio, no alto da doutoral, revestido pelas suas insígnias de catedrático, parece descansar, a cabeça reclinada no espaldar da cadeira. Estava morto.
À tarde, em São Paulo, soube-se da dissolução do Congresso Federal e da implantação do “Estado Novo”. Era a morte da democracia.
* * *
ESTÊVÃO DE ALMEIDA — Professor de Direito Judiciário Civil, grande advogado e jurisconsulto de reputação nacional. Pegava a turma no 4.° ano e acompanhava-a até o ano seguinte, o último do curso.
Não possuía nem qualidades nem veleidades de orador. Falava, em todo caso, com bastante calor, aos arrancos, e fazia um esforço considerável para ser ouvido. Cabe-lhe a glória de ter descoberto Chiovenda, notável processualista italiano, por quem nutria uma admiração sem reservas. Era, porém, fundamentalmente advogado e não raro comentava e discutia em classe os casos do seu escritório. Suas preleções despertavam, por isso, interesse fora do comum. O Direito Judiciário Civil saía das páginas dos compêndios e tornava-se realidade aos nossos olhos.
Dizia-nos:
— Calculem os senhores que ainda ontem fui obrigado a impugnar o depoimento pessoal de um meu cliente, requerido e obtido pela parte contrária. Estes juízes...
Verberava, então, os juízes ignorantes, se os encontrava no seu caminho. A incultura do julgador parecia-lhe mais prejudicial à vida e à afirmação do Direito do que a própria incorreção. Os juízes devem interpretar a lei e aplicá-la. Se a interpretação é função da doutrina, a aplicação é função do Processo. Não há por onde fugir. Só se pode tomar o depoimento pessoal depois de havermos protestado por ocasião dos protestos necessários. “Protesta-se por todas as provas em Direito permitidas, inclusive pelo depoimento pessoal”.
A essa altura, tinha já citado pelo menos meia dúzia de anexins e máximas, de que possuía uma biblioteca especial e dos quais fazia largo consumo.
Punha a sua biblioteca, orçada em quarenta mil volumes, e o seu saber à disposição dos alunos. Era flagrante a sua simpatia pelos mais velhos. Não ia ao ponto de dispensar tratamento desigual aos mais moços. Aquela simpatia era mais uma homenagem à constância do amor ao estudo do que outra coisa qualquer. Um estudante de idade provecta afigurava-se-lhe naturalmente uma curiosidade intelectual mais sólida, não sobrepujada nem esmorecida pelas decepções.
Durante os anos em que o tivemos como professor de Direito Judiciário Civil, fez parte, a convite do governo do Estado, da Comissão de Anteprojeto do Código de Processo Civil e Comercial de São Paulo. Os trabalhos da Comissão eram divulgados em livros. Estêvão de Almeida levava, então, os livros já publicados para a escola e os comentava para os alunos, do alto da cátedra. Discutia os dispositivos com redação definitiva. Dava-nos, em tais ocasiões, verdadeiras aulas práticas de Processo. Rememorava e resumia as divergências havidas no seio da Comissão, mas não deixava nunca de emitir opinião pessoal sobre a matéria. Nesses momentos, o jurisconsulto sobrepujava o advogado.
Conhecia a língua a fundo e era verdadeiramente invulgar a sua erudição literária. Tinha a paixão dos clássicos. Escrevendo ou falando, exprimia-se com elegância e apuro. Lembro-me de que certa vez me encontrei na rua da Liberdade com José Lannes, dono também de invulgar erudição literária. O poeta do “De Profundis”, sobraçando vários volumes, esperava pacientemente o bonde de Vila Mariana. Conversamos. O poeta estava fazendo uma de suas habituais liquidações de livros. Dias antes presenteara-me com “La Jeunesse Blanche”, de Rodenbach, e “Les Fleurs du Mal”, de Baudelaire. Para quem seriam, então, os que iam com ele para a rua Domingos de Morais?
— Vou à casa do dr. Estêvão, — explicou-me. — Tenho a impressão de que ele não possui estas edições.
Eram clássicos greco-romanos.
Em suas relações com os alunos, Estêvão de Almeida seguia à risca as tradições da casa: concedia, nas bancas de exame, indulgência plenária a todos.
* * *
De vez em quando, nos dias de hoje, a direção da Faculdade de Direito resolve fechar as portas da Sala “João Mendes” para conferências públicas. De repente, porém, sem que se conheça bem o motivo, abrem-se elas de par em par e todo o mundo ocupa a simpática sala de aula, para manifestações de caráter político, científico ou puramente literário.
Em todos os tempos foi assim.
Convidamos certa vez o dr. Aurelino Leal para vir a São Paulo. O ilustre professor e político deveria, a convite do Centro Acadêmico “XI de Agosto”, falar aos paulistas sobre matéria da sua especialidade. Como habitualmente fazíamos, mandamos uma notícia aos jornais sobre a viagem do ilustre homem público e anunciamos, desde logo, recepção e conferência no salão-nobre da velha escola.
Júlio Maia, secretário, leu nos jornais a notícia da conferência de Aurelino Leal no salão-nobre e mandou chamar o presidente do Centro:
— Mandei chamar o senhor — disse, falando de cabeça baixa, com voz rascante — para comunicar-lhe que a conferência do dr. Aurelino Leal não se realizará no salão-nobre. O Centro tem sala, no rés-do-chão. Ele que fale na sala do Centro.
O estudante viu logo que a coisa não era para brincadeiras. Explicou, então, a Júlio Maia, a impossibilidade de alterar o programa. A sala do Centro, no rés-do-chão, era muito barulhenta. Não se ouvia nada lá dentro. Aurelino Leal, por outro lado, era um grande nome. Era um visitante condigno. Tinha direito a todas as honras. Como professor de Direito estava em pé de igualdade com os da casa. Poderia parecer ainda uma desconsideração ao Gama Cerqueira, que era o orador escolhido para saudar o dr. Aurelino. E mais isto e mais aquilo. Foi eloqüente. Patético.
Júlio Maia, sem erguer a cabeça, de lápis azul em punho a fazer cruzes em papéis e documentos derramados sobre a mesa, não se deixou convencer pela oratória do bacharelando.
— Pois é. Desta vez os senhores não ocuparão o salão-nobre.
— Mas, dr. Júlio Maia, os jornais já deram a notícia e agora não é possível voltar atrás...
— Não sei se é possível ou não; sei que isso precisa acabar. Nunca vi maior abuso.
— Dr. Júlio, — interrompeu o estudante, com humildade e doçura — não houve abuso. Como todas as conferências se realizam invariavelmente no salão-nobre...
Júlio Maia, naquele dia, não estava para conversas:
— Realizam-se, não; realizavam-se. Daqui por diante o salão-nobre estará reservado unicamente às festas da própria escola. Aquilo não é salão público. Há muitas salas por aí. Por que é que os senhores não levam o dr. Aurelino para o salão do Conservatório?
A pergunta foi lançada à guisa de desafio. O presidente do Centro conhecia, porém, o velho secretário. Ficou quieto. Deu à fisionomia um ar compungido.
Júlio Maia repetiu-a:
— Levem o homem para o Conservatório. Por que toda conferência há de realizar-se invariavelmente nesta casa? Escola não é clube. Os senhores confundem as coisas. Estão mal acostumados. Isso precisa acabar.
Como o estudante continuasse de pé diante dele, levantou a cabeça, olhou-o e disse, para rematar:
— Não posso fazer nada. São ordens do diretor.
Nessa altura, o presidente do Centro recobrou ânimo. Ouvindo o velho e estimado secretário atirar a responsabilidade da proibição sobre os ombros do diretor, esboçou intimamente um sorriso. Voltou então à carga, mas seguindo nova tática:
— Ora, dr. Júlio, — disse — quem não sabe que o diretor é o senhor?
Júlio Maia mudou de voz, mas não de atitude. Censurou o interlocutor. Havia, porém, nas suas palavras de censura, aquela bonomia que ele inutilmente tentava disfarçar, fingindo-se eternamente zangado. Pediu-lhe que não estivesse por ali a dizer bobagens.
— Bobagem, não, senhor, — exclamou o rapaz. — Ainda ontem um professor desta escola, por sinal dos mais ilustres, dizia isso mesmo numa roda de professores e alunos.
— Quem?
O estudante aproximou-se da mesa onde habitualmente trabalhava o grande funcionário. Continuou, no entanto, a falar compungidamente, como se não tivesse mais esperanças.
— O prof. Gama Cerqueira.
Júlio Maia, de cabeça baixa, simulou indiferença. Mas comentou em voz alta para o moço à sua frente:
— O dr. Gama Cerqueira é muito meu amigo.
Daí a dias, entusiasticamente acolhido pelos estudantes de Direito, Aurelino Leal realizava a conferência no salão-nobre.
* * *
Um dia, em 1922, Herculano de Freitas, exercendo então o cargo de diretor da Faculdade, chamou alguns acadêmicos à sua presença:
— Vários homens ilustres — disse-lhes — têm sido convidados pelos senhores a visitar oficialmente esta escola. Todos são merecedores da distinção. Como, porém, últimamente, os senhores têm ido buscar poetas lá fora lembrei-me de sugerir-lhes, — e, não, de insinuar-lhes — o nome de um dos maiores que o Brasil já teve e que, por felicidade nossa, não só é de São Paulo como reside nesta Capital e foi um aluno muito distinto desta casa. Refiro-me a Vicente de Carvalho, o “Poeta do Mar”.
Entre os estudantes que compareceram ao gabinete do grande diretor, estava Lúcio Cintra do Prado, presidente do Centro Acadêmico “XI de Agoste”. A sugestão encontrou eco simpático entre os moços. Apesar da absoluta independência com que agiam na escolha dos visitantes, apesar, principalmente, do escrúpulo com que defendiam as suas prerrogativas, pareceu-lhes que a palavra do eminente mestre tinha de ser cumprida no mesmo instante.
Herculano percebeu a impressão que havia causado nos seus alunos. Continuou:
— O poema intitulado “Fugindo ao Cativeiro” dá a Vicente de Carvalho o direito de figurar entre os maiores poetas da nossa língua. Não acredito, por outro lado, que os seus versos de amor já não tenham repercutido na sensibilidade dos senhores que me escutam. O soneto “Só a leve esperança em toda a vida” nada fica a dever aos de Camões e Bocage. Tragam o grande poeta à nossa escola. Terei muito prazer em presidir à festa, nesse dia.
Até então, tinham visitado a Faculdade de Direito, a convite do Centro “XI de Agosto”, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Emílio de Meneses. Alberto de Oliveira lá estivera, pela segunda vez, no ano anterior. Emílio de Meneses, volta e meia, era acolhido sob as Arcadas pelos acadêmicos, entre aplausos. Afrânio Peixoto e Coelho Neto, entre os brasileiros, João de Barros, Carlos Malheiro Dias e Júlio Dantas, entre os portugueses, figuravam também na lista dos escritores e poetas consagrados pela mocidade do largo de S. Francisco. Só faltava mesmo Vicente de Carvalho. Convidamo-lo então.
O “Poeta do Mar” recebeu a comissão do Centro “XI de Agosto” chefiada pelo bacharelando Lúcio Cintra do Prado em sua residência, à rua Baronesa de Itu, no aconchego da sua pequenina biblioteca. Fumando sem parar, um cigarro atrás do outro, o lírico insuperável de “Palavras ao mar” conversou com eles sobre literatura e reafirmou a sua “profissão de fé” parnasiana. Disse-lhes que estava a par dos movimentos de insubordinação que começavam a operar-se nas letras do Brasil, entre escritores jovens. Achou que estes se excediam no ataque aos grandes vultos da poesia nacional.
Um dos membros da comissão atalhou:
— O nome glorioso de v. exa., dr. Vicente, tem sido poupado no entrevero das correntes literárias!
Vicente de Carvalho acendeu mais um cigarro em outro mal apagado e explicou:
— Respeitam-me e poupam-me como figura de museu.
Dias antes da visita à escola voltou à sua presença o estudante Frederico Martins da Costa Carvalho, designado por Lúcio Cintra do Prado para a saudação oficial ao autor de “Rosa, rosa de amor”. Ia mostrar-lhe o discurso, de acordo, aliás, com o desejo anteriormente manifestado pelo “Poeta do Mar”. Frederico Martins da Costa Carvalho estreava na tribuna acadêmica e havia então burilado a oração ao mestre. A certa altura, aludiu à famosa “Trilogia”: Bilac, Alberto, Vicente.
Vicente de Carvalho, que o ouvia atento, interrompeu-o:
— Dr. Costa Carvalho, — disse-lhe — o senhor cita na ordem crescente ou na decrescente?
O jovem estudante não se deu por achado. Respondeu, ato contínuo:
— Na ordem crescente, mestre!
Vicente de Carvalho reajeitou-se comodamente na poltrona, com um sorriso de satisfação no rosto oval de Mefistófeles, e comentou:
— Eu, por mim, ponho Alberto acima de Bilac.
No dia da visita, conforme prometera, Herculano de Freitas foi o primeiro a estender a mão ao grande poeta.
* * *
Em 1922, por ocasião das festas comemorativas do Primeiro Centenário da Independência, veio ao Brasil, como enviado especial de S. S. o Papa Pio XI, monsenhor Cherubini, arcebispo titular de Nicósea.
Estando em São Paulo, foi o ilustre prelado convidado a visitar a Faculdade de Direito. Era um homem alto e sólido, com uma imponência física que contrastava com a suavidade de suas maneiras. No rosto vermelho os olhos tinham transparências de luar. Trazia à cintura, sobre a batina luzidia, uma grande faixa vermelha e pendia-lhe ao pescoço um crucifixo de marfim. Lembrava pelo porte um daqueles cardeais que a gente vê nos livros, solene mas bondoso, cheio de tolerância pelas nossas fraquezas.
A convite de Lúcio Cintra do Prado, presidente do Centro Acadêmico “XI de Agosto”, coube-me saudá-lo em nome dos estudantes.
Foi no salão-nobre da escola (a “sala dos retratos”) que se realizou a sessão solene, sob a presidência de Herculano de Freitas. Era em fins de setembro, quando a primavera tinge de cor de rosa as tardes paulistanas. Não sendo fato comum a presença de um Núncio Apostólico em São Paulo, a velha escola encheu-se à cunha. Os estudantes, por sua vez, não sabiam como comportar-se em presença de tão singular visitante. Deviam dar pique-piques ou deviam manter-se quietos, à espera dos discursos?
Optaram pela segunda hipótese e ouviram-me em silêncio.
Não guardei cópia do discurso nem me lembro se o publicaram os jornais. Sei que tendo de falar a um monsenhor italiano, com honras de enviado especial do Papa, procurei encaixar na oração citações de Dante. A coisa, aliás, era fácil, tanto que logo de início citei o verso conhecido sobre a Fé, — “Quella fede — ch'è principio alla via di salvazione”. E fui por aí a fora. Exaltei as três virtudes teologais, Fé, Esperança e Caridade, e esforcei-me por tirar o maior partido possível da circunstância de ter sido a nossa Academia, noutros tempos, convento de frades franciscanos. Naquele ambiente onde hoje ressoavam palavras de amor ao Direito, à Justiça e à Liberdade tinham ecoado outrora hinos religiosos de amor ao próximo.
Ensinou-me a experiência que em se tratando de estrangeiros, principalmente neolatinos, um bom meio é falar devagarinho, escandindo as palavras. Eles acabam compreendendo muita coisa do que dizemos. Foi o que aconteceu a monsenhor Cherubini O verso de Dante sobre a Fé revelou-lhe o sentido inteiro do meu discurso. Quem ouve falar em Fé espera imediatamente as suas companheiras inseparáveis, a Esperança e a Caridade. Toda vez, então, que elas pingavam dos meus lábios, monsenhor Cherubini meneava a cabeça, sorridente e compreensivo.
Sua oração de agradecimento confirmou a excelência do meu método. Não tinham sido vãs as minhas palavras.
À noite, em casa, recebo um recado do Mosteiro de São Bento: monsenhor Cherubini queria ver-me, no dia seguinte, pela manhã. Corri, então, ao seu encontro. O enviado especial de S. S. o Papa ofereceu-me o seu retrato, com dedicatória autógrafa. Disse-me que levava dos estudantes de Direito de São Paulo uma recordação muito grata. Fora-lhe motivo de íntima satisfação auscultar os sentimentos da mocidade paulistana, sobre cujos ombros pesava a responsabilidade de preservadora da fé católica no Brasil.
— São Paulo — disse — tem um grande nome. Estou satisfeito por ver que os senhores sabem ser dignos dele. Trouxe-lhes uma bênção do Sumo Pontífice e levo, no entanto, para o coração de S. Santidade, um grande prêmio.
* * *
A política interna da Academia foi sempre muito agitada, muito intensa, muito cheia de surpresas. Durante as cinco eleições em que tomei parte, de 1919 a 1923, ora como simples eleitor, ora como cabo eleitoral, ora como candidato, até à última hora não podia contar com as urnas. Mesmo depois de feita a apuração por sobrecarta, era preciso esperar a apuração por cédula. Não raro acontecia aparecerem cédulas de um candidato em sobrecartas de outro.
Antônio Gontijo de Carvalho foi o chefe político mais devotado à causa dos seus amigos que conheci lá dentro. Jamais disputou uma posição no Centro Acadêmico “XI de Agosto”. Tinha, porém, o gosto da política. Trazia no bolso, invariavelmente, a “Lista de Chamada” e anotava com uma cruz, à margem das páginas, os nomes dos alunos “pró” ou “contra”. Conhecia o endereço de todos. Sabia a história de cada um. Observador arguto e de memória espantosa.
Lembro-me que uma vez lhe perguntei, à mesa de um “café”, à véspera de um pleito disputadíssimo:
— E esse Pompéia, quem é e com quem vota?
— O Pompéia — respondeu-me incontinenti — mora no interior, em Ribeirão Preto. Pertence ao grupo de Fulano. Há poucos dias precisei arranjar-lhe um passe.
Piscava um olho, dava uma risadinha e batia-me nas costas.
— Você, hein, seu malandro: Você está querendo tirar conclusões. Mas olhe que eu não disse nada.
Gontijo contava o caso. Quando nô-lo contava já não havia dúvida sobre o voto do estudante. Nós, porém, é que éramos os malandros. Nós é que tirávamos as conclusões, quando a verdade é que as conclusões se nos ofereciam claramente, insofismavelmente. Gontijo sabia, já naquele tempo, que em política é preciso ser como são as mulheres: perguntar sempre, perguntar tanto, que não sobre tempo para respostas. Sabia ainda que uma insinuação produz mais efeito que uma revelação.
Nas eleições de 1922, cada voto valia ouro. Havia um nosso colega de turma a respeito do qual se contavam as histórias mais engraçadas e sobre cuja fidelidade à nossa causa pairavam muitas desconfianças. Gontijo conhecia-o a fundo. Conhecia-lhe principalmente a história das bravatas numa cidadezinha do interior de São Paulo, onde ele, professor de primeiras letras, usava e abusava do prestígio de estudante de Direito para fazer discursos sem mais esta nem aquela.
Um dia, Gontijo pediu a um de seus amigos um discurso de saudação a um político paulista então em muita evidência. Disse ao amigo:
— Fulano (era o nome do político) vai visitar a cidade onde Beltrano (era o nosso colega) é professor público. Tem de ser recebido com música e discurso literário, muito bonito, cheio de citações. Ponha um pouco de Dante, de Shakespeare e de Byron nele. O homem (aludia ao político) é dado às letras.
A recepção ao político era no dia 29 de novembro; as eleições do Centro “XI de Agosto”, no dia 27. Que fez, então, Antônio Gontijo de Carvalho? Mostrou a “peça” ao estudante-mestre-escola. Leu-lhe em voz alta os trechos em que apareciam Dante, Shakespeare e Byron, mas só prometeu entregar-lha depois das eleições: “Você compreende, — dizia ao colega — eu não desconfio de você, tenho você na mais alta conta, mas é que as coisas estão pretas. A cabala anda desenfreada por aí. Você tem um defeito muito grande: você é bom demais. Se Fulano (declinou o nome do cabo contrário) começar com choradeira junto de você, você acaba votando nele. É defeito do coração. Você é muito sensível”.
No dia da eleição, quando chegou a hora do mestre-escola, Antônio Gontijo de Carvalho postou-se junto à mesa, com o original do discurso à mostra, no bolso do paletó. Pedro de Castro, no lado oposto, com um pacote de cédulas do candidato do Gontijo, aguardava os eleitores e fornecia-lhes papel, envelope, tudo. O presidente da mesa cantou o nome do tal colega. Os cabos o repetiram por toda a sala do Centro, no rés-do-chão. Repetiram-no sob as Arcadas. Gritaram-no, em suma, por toda a parte. Até que ele apareceu entre dois conhecidos cabos do partido adverso. Vinha mais vermelho que de costume. Tinha sido cabalado, percebia-se. Mais uma vez o seu coração sensível se rendera às lamúrias do nosso adversário...
Chegou junto à mesa e viu Antônio Gontijo de Carvalho com a mão no discurso. Lembrou-se de que daí a dois dias teria de saudar o político influente na sua terra. Pensou em Dante, Shakespeare e Byron e no bonito que poderia fazer. Olhou de um lado para o outro. Viu Pedro de Castro à esquerda, Gontijo à direita. Desvencilhou-se da escolta e disse, dirigindo-se a Pedro de Castro:
— Ó Pedroca, me dê a chapa do partido dominante.
E ali mesmo a depositou na urna, sob o sorriso malicioso do Gontijo e a cólera impotente dos nossos “inimigos” políticos.
* * *
Na turma de 1919-1923 havia uma porção de mineiros: Antônio Gontijo de Carvalho era um deles. Habitualmente, porém, dávamos a designação de “mineiros” a três amigos inseparáveis: Antônio Garcia de Faria, Clóvis de Magalhães Castro e Moacir Tinoco.
Eram estudiosos e discretos. Bons colegas. Nunca tiveram a iniciativa de qualquer movimento literário ou político. Distinguiam-se, no entanto, pelo seu acentuado espírito de solidariedade. Nas eleições do Centro “XI de Agosto” votavam “com” Antônio Gontijo de Carvalho. Votar “com” em lugar de votar “em” é expressão que serve para traduzir uma fidelidade a toda prova. Fosse qual fosse o candidato, os “mineiros” cerravam fileiras ao lado do Gontijo. Confiavam cegamente no critério de seleção do amigo.
A política do Centro Acadêmico “XI de Agosto” é a verdadeira “escola” dos que têm vocação para as pugnas eleitorais. É o Centro, por sua vez, uma imagem perfeita do governo no seio de uma democracia. Fazemos nele, durante cinco ano, o nosso tirocínio democrático. Falamos, discutimos, xingamos do alto da tribuna acadêmica, na sala de reuniões ordinárias. Esforçamo-nos em regra por manter e respeitar a ética parlamentar: V. exa. prá cá, v. exa. prá lá. Um belo dia, porém, perdemos a calma e lá se vai por água abaixo a nossa compostura!
O Centro Acadêmico é a democracia em ação. Não é de estranhar, portanto, que haja, sob as Arcadas, estudantes que votem “com”, em lugar, de votar “em”. Quantos de nós, na vida prática, sob o regime republicano, não temos votado da mesma forma?
Francisco Martins de Andrade, cognominava os três mineiros de “As três Marias”. Era, aliás, uma das inteligências mais vivas da turma, aquele dedicado amigo. Baixinho, gorduchinho, de rosto redondo, com uns olhinhos muito brejeiros, no rosto redondo, era bem o tipo clássico do “acadêmico”: falador, discutidor, fazedor de discursos. Tudo lhe servia de pretexto para a grandiloqüência. Agitava os bracinhos no ar, em tom dogmático, e soltava uma porção de palavras difíceis. Dava a vida por uma citação retumbante:
— Porque, como já dizia Lombroso...
Alta madrugada, pelas ruas de São Paulo, após uma noitada de tango argentino e “chartreuse”, nós dois, um pelo braço do outro, fazíamos demagogia. Francisco Martins de Andrade fazia discursos; eu declamava poesias. Aquela imagem de Castro Alves sobre a cidadezinha provinciana e garoenta. — “Ladram de tédio vinte cães vadios” — continuamente nos aflorava à boca. Francisco Martins de Andrade, filho de deputado, enchia-se às vezes, de zelos. Dizia-me, falando em Francês:
— “Imaginez-vous”...
Estudante do 4.° ano, convidaram-no um dia para fazer uma defesa no Júri, em cidade do interior do Estado. Foi recebido na estação com banda de música. No dia do Júri o tribunal (uma velha casa de moradia em cuja sala de jantar funcionava o tribunal popular) encheu-se de moças e pessoas gradas. Todo o mundo queria ouvir o fogoso orador. Os eleitores do pai, principalmente, tinham feito grande propaganda dos seus dotes tribunícios. O julgamento parecia uma festa.
Francisco Martins de Andrade subiu à tribuna por entre palmas. Cumprimentou o juiz, cumprimentou o promotor, cumprimentou os jurados. Dirigiu depois uma saudação ao belo-sexo. Ergueu um hino à cidade. Entrou, por fim, no tema da defesa. Era um crime de morte. Foi patético. Muito miudinho, quase desaparecendo na tribuna, enunciava as palavras com bemóis e sustenidos. De vez em quando, sob o silêncio hierático da velha sala de jantar, ecoavam nomes:
— Cogliolo, Ferri, Mappin Stores, Sloper...
Em presença dos mestres, em dia de exame, sustentava as suas idéias com muitos gestos e em tom de discurso. Os mestres achavam graça nele. Fazia, quase sempre, uma trapalhada dos diabos com as teorias jurídicas ou filosóficas. Era, porém, tão vivo, tão interessante, tão despachado, que os mestres o ouviam com interesse e até com simpatia. Não deixava ninguém falar por ele. Consistia o truque em não dar oportunidade ao professor para fazer objeções.
Construía períodos redondos e sonoros:
— As circunstâncias me autorizam a sustentar o princípio de que nas transformações sociais, sob o aguilhão da necessidade, quando o homem sente na própria carne os golpes do infortúnio...
O auditório estremecia. Podia não dizer nada tudo aquilo, mas que era bonito, lá isso era.
* * *
Antônio de Alcântara Machado estreou na tribuna acadêmica com um discurso sobre João Mendes.
Na nossa turma havia um grupo literário formado por Luís Nogueira Martins, Osvaldo Rodrigues Dias, João Batista Marques da Silva, Antônio de Alcântara Machado e mais dois ou três estudantes. Antônio de Alcântara Machado era o orientador intelectual daquele grupo de colegas. Estes tomavam poses desconcertantes. Enchiam-se de mistérios. Não se fundiam. Conservavam-se à margem das nossas manifestações coletivas. Liam muito Wilde. Liam mais Wilde do que Baudelaire.
Antônio de Alcântara Machado de Oliveira trabalhava na redação do “Jornal do Comércio”, edição de São Paulo. Começava já a escrever as crônicas que tão grande projeção lhe deram mais tarde nas nossas letras. Era magro e alto. No rostinho redondo, os óculos de aros de tartaruga lhe acentuavam a expressão inteligente e compreensiva. Dava-se ares de superioridade intelectual. Era, não obstante, na intimidade, despida a máscara de escritor, amigo dos amigos. Pertencente a uma família de advogados e mestres de Direito não tinha, todavia, o menor entusiasmo pelo curso jurídico. Fingia-se de “blasé”.
O discurso em memória de João Mendes conquistou-lhe a admiração de quantos o ouviram. Era um orador agradável, posto nada eloqüente. Dizia com expressão o que escrevia. Boa dicção. Gestos sóbrios. Na tribuna ou no jornal, entre estudantes de Direito ou entre jornalistas, exagerava a preocupação do desdém pela literatura. Mas João Mendes era um tema difícil. João Mendes não podia ser tratado com literatice. Antônio de Alcântara Machado de Oliveira tratou-o com seriedade. Seu discurso nada ficou a dever ao do próprio pai, um ano antes, sobre Pedro Lessa.
Aliás, a preocupação literária era muito forte no meu tempo, entre os membros da turma de 1919 a 1923.
Teotônio Monteiro de Barros Filho trouxera de Ribeirão Preto uma tradição de sérios estudos de humanidades. Tendo estudado Grego no Ginásio do Estado daquela cidade com Alexandre Correa, citava-nos Anacreonte no original. Dava-se ao luxo de conhecer em Grego as aflições de Ulisses. Era, além do mais, uma inteligência disciplinada e lúcida. Percebia-se que tinha base muito sólida o seu espírito.
Durante muito tempo, Teotônio Monteiro de Barros Filho manteve-se indeciso entre a literatura e a oratória. Seria escritor? Seria orador? Deveria fazer literatura, estudar Direito, dedicar-se à política? Excelente aluno no Ginásio de Ribeirão Preto, era excelente aluno na Faculdade. Estudava um pouco todos os dias. Não gostava de perder as noites à mesa dos “cafés” nem nos salões de bilhar. Não ia além da primeira sessão do “República”.
Um belo dia, Teotônio Monteiro de Barros Filho vai ao encontro de Antônio Gontijo de Carvalho e estende-lhe algumas folhas de papel dactilografadas. Era um conto. Chamava-se “Dona Cabaninha”. O autor mostrava-se entusiasmado com a sua obra. Dedicou-a àquele amigo, dizendo:
— Você deve sentir-se honrado pela dedicatória, Gontijo. Isto é puro Machado de Assis.
Machado de Assis era o ponto culminante para ele.
A vida prática afastou Teotônio Monteiro de Barros Filho da literatura. Logo depois de formado, perdi-o de vista. Em 1934, tomou parte na Assembléia Constituinte. Fez política em Rio Preto. Distinguiu-se na advocacia criminal. Realizou concurso na Faculdade de Direito e ali obteve a cadeira de Ciência das Finanças. Foi secretário da Educação, nos últimos meses do governo Fernando Costa. Tem sido, em suma, advogado, político, professor. Não me consta que a “Dona Cabaninha” tenha produzido frutos.
Não faz mal. Pode-se ser um grande nome fora da atividade literária.
* * *
Nebrídio Negreiros, uma das figuras mais populares e mais estimadas da turma de 1923, só aparecia na escola por ocasião dos exames.
Vivia rabulejando pelo interior do Estado. Inteligente e hábil, supria com a dedicação e o esforço as deficiências da sua formação jurídica. Tinha-se, porém, na conta de emérito conhecedor de Processo. Assim é que em fins de 1922, tendo vindo de Bauru para prestar exame de Direito Judiciário Civil, apareceu na Faculdade com um ar de desafio. “Vocês vão ver (dizia-nos o querido companheiro) o velho Estêvão passar mal comigo”.
O “velho Estêvão” era simplesmente o dr. Estêvão de Almeida, nosso professor de Processo Civil.
No dia do exame, a sala do 4.° ano encheu-se literalmente. Nebrídio Negreiros convidara meio mundo para a prova. Lá estavam estudantes de todos os anos do curso jurídico. Apesar de só de vez em quando aparecer na Faculdade ele era uma das suas figuras mais queridas. Tinha, como o tem até hoje, aquele jeito de falar que é exclusivamente dele. Falava arrastado, como se a voz lhe saísse ora pelo nariz, ora pela garganta. Usava o linguajar caraterístico do interior, nas cidades em formação.
Estêvão de Almeida ignorava o que ia lá por fora. Pediu-lhe que tirasse o ponto:
— Não, senhor, — respondeu Nebrídio. — V. exa. pode arguir-me sobre qualquer ponto.
Começaram, então, por parte do boníssimo professor, as perguntas de praxe. Que é isto? Que é aquilo? Como se faz uma citação? Que é uma audiência? As questões iam aumentando de dificuldade. Nebrídio enfrentava o mestre, olhando de soslaio para a assistência, como a dizer-nos: “Eu não disse a vocês que o velho Estêvão não podia comigo?” De repente, porém, as coisas pioraram para o lado do examinando. O mestre deixara de lado as perguntinhas simples e entrara em cheio na doutrina. Nebrídio já não ria. Estêvão de Almeida espicaçava-o. Se Nebrídio enveredava por este caminho, o velho mestre parecia segurá-lo pela gola do casaco e trazê-lo a outro caminho.
Nebrídio Negreiros viu que a partida ia mal. Mesmo assim, não se deu por achado:
— Ora, dr. Estêvão, — exclamou — então o senhor acha que eu posso discutir Processo com o senhor? Tenha paciência!
Foi, não obstante, felicitado pelo eminente processualista, que reconheceu no examinando especial aptidão para o exercício da advocacia.
Às vezes, no meio do ano, Nebrídio Negreiros aparecia. Era uma festa. Todos nós o rodeávamos, enchendo-o de perguntas. Ele atendia a todos com a cortesia habitual. “Vim a serviço do meu escritório. — explicava. — Tenho de minutar um agravo no Tribunal”. Aquela história de “minutar um agravo” assombrava-nos. Nós conhecíamos o agravo no livro. Não o tínhamos visto ainda na vida prática. Nebrídio agigantava-se aos nossos olhos, mormente à noite, à mesa da chopada inevitável.
Lembro-me de que numa dessas viagens inesperadas a São Paulo o estimado colega foi assistir a uma aula de Direito Civil e lá pelas tantas pediu a palavra. Estava na tribuna o santo Pacheco Prates. “Mas, seu moço, eu não estou fazendo um discurso, nem isto é uma assembléia. Não me consta, por outro lado, que hoje seja dia de festa nacional ou que os brasileiros tenham praticado algum ato heróico”, — disse o catedrático sem olhar para a classe e louco de vontade de continuar a exposição. Nebrídio insistiu. “Pode falar, seu moço”, respondeu, por fim, o professor.
Não era um discurso: era uma consulta.
Pacheco Prates ouviu o aluno pacientemente. Quando ele acabou de falar, explicou-lhe que não se tratava de questão pertinente à parte do programa que estava sendo lecionada naquele ano. “Nós estamos estudando Direito de Família e isso que o senhor me pergunta, moço, é Direito das Obrigações. Em todo caso, a solução parece-me que é a seguinte”. E resolveu, a contento de Nebrídio, o caso da consulta. Era, aliás, o que queria o esperto estudante. Levantou-se e agradeceu, dizendo textualmente:
— Muito obrigado, professor. Volto hoje à noite prá Bauru e amanhã mesmo vou sapecar na cabeça deles a opinião do senhor. Quero ver quem sabe mais.
Pacheco Prates derramou de novo a bigodeira branca sobre o Código Civil e continuou a dissertação.
* * *
De 1919 a 1923 foram presidentes do Centro Acadêmico “XI de Agosto” os seguintes estudantes: Antônio Carlos de Abreu Sodré, 1919; Alcides Sampaio, 1920; Rafael Sampaio Filho, 1921; Lúcio Cintra do Prado, 1922; Aguinaldo de Melo Junqueira, 1923.
As lutas eleitorais eram renhidas; os resultados, por sua vez, sempre surpreendentes.
Antônio Carlos de Abreu Sodré foi um presidente de conciliação, de maneira que em 1919 não houve propriamente vencidos nem vencedores, governistas nem oposicionistas. As paixões políticas só se reacenderam no segundo semestre daquele ano, quando em oposição à candidatura de Soares de Melo se levantou a do sr. Alcides Sampaio. A vitória deste, conseguida em condições engraçadíssimas, tornou a dividir os estudantes em “partido de cima” e “partido de baixo”.
Sob a exclusiva orientação política de Antônio Gontijo de Carvalho, o nosso grupo dominou absolutamente a partir do segundo semestre de 1920. Rafael Sampaio Filho, presidente em 1921, Lúcio Cintra do Prado, presidente em 1922, contaram com a nossa solidariedade e o nosso apoio. Em compensação, contamos com a sua simpatia. Viagens ao Rio, passeios ao interior do Estado, discursos de saudação a visitantes ilustres, entradas em teatros e cinemas, passes, tudo estava em nossas mãos. Nada se fazia na escola sem o nosso “visto”.
Mas, em chegando o início da campanha eleitoral para a presidência de 1923, começaram a circular rumores de que Antônio Gontijo de Carvalho não conseguiria impor mais uma vez a sua escolha. A facção contrária à nossa tivera a habilidade de levantar a candidatura de uma das figuras mais estimadas da Academia, Paulo Barbosa de Campos Filho. O “Papiniano”, como nós lhe chamávamos por causa da sua intuição jurídica e da seriedade com que fazia os seus estudos, era um nome popular e prestigioso. Não era político extremado. Apesar de fazer política em oposição à do Gontijo, contava com as simpatias do próprio Gontijo. Era, além do mais, um dos estudantes mais assíduos do seu tempo. Não saía da escola.
Fecho os olhos e vejo-o, com efeito, ora na calçada em frente ao velho prédio colonial, ora no saguão, ora sob as Arcadas. Vejo-o nos “cafés”, no interior da Livraria Saraiva, no Parque Antártica em dias de campeonato acadêmico. Vejo-o à noite no Cine República. Vejo-o à mesa das chopadas no Bar Baron. Vejo-o na primeira fila, na nossa turma, assistindo às preleções. E vejo-o tal como era: baixo, de mãos no bolso, com o andar esquisito de quem empurra alguma coisa, rodeado de colegas, muitos dos quais às vésperas dos exames, se limitavam a ouvir as suas exposições em lugar de ler as apostilas.
Inteligente e culto, Paulo Barbosa de Campos Filho tanto se dava com os “aços” como se ligava aos boêmios. Era, por isso, um candidato temível.
Antônio Gontijo de Carvalho não se iludiu quanto à gravidade do perigo. Conhecia a força do “Papiniano”. Resolveu, porém, divertir-se, mais uma vez, à custa do encarniçamento dos seus adversários. Escolheu na nossa turma o estudante mais representativo da boêmia elegante de São Paulo: Aguinaldo de Melo Junqueira, uberabense, seu amigo de infância. Muito inteligente e muito vivo, Aguinaldo de Melo Junqueira só aparecia na escola quando já encerrado o expediente letivo. Vinha invariavelmente tresnoitado. Chegava à escola, colhia informações sobre o desenvolvimento do curso, reunia três ou quatro amigos, ia almoçar com eles nos restaurantes da moda e depois desaparecia. À noite era certo encontrá-lo no “República”. Depois do cinema, nos salões de bilhar ou alhures.
Lúcio Cintra do Prado, presidente do “XI de Agosto”, consultado por Gontijo sobre a candidatura de Aguinaldo, fez-lhe, a princípio, restrições, se bem que o estimasse. Cedeu, porém, aos argumentos do amigo. Este consultou as figuras mais prestigiosas do partido: Francisco Emídio Pereira (o boníssimo Chico Emídio), Frederico Martins da Costa Carvalho e outros. Quase todos, devido ao espírito dispersivo de Aguinaldo, também fizeram objeções ao candidato do Gontijo. Todos, porém, acabaram cedendo ao desejo dc Gontijo. Aguinaldo de Melo Junqueira foi levado às urnas e venceu espetacularmente. Deram-lhe o voto, graças a uma combinação de última hora, os boêmios chefiados pelo Cássio Egídio, a maioria dos quais freqüentava as tertúlias do “Papiniano”...
Foi a maior vitória de Antônio Gontijo de Carvalho.
Aguinaldo de Melo Junqueira não desmereceu à confiança do amigo nem dos colegas. Quanto a Paulo Barbosa de Campos Filho, a carreira que vem realizando na vida pública é apenas a confirmação das virtudes e do talento que já o distinguiam no seio da nossa geração acadêmica.
* * *
Escreveu o grande João Mendes Júnior que a Festa da Chave é “a festa simbólica da atenção, porque a atenção é a chave das operações da mente”.
É uma definição filosófica. Entre os estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo a Chave substituía o facho sagrado. Ficava em poder dos bacharelandos, à mão de um dos membros mais ilustres da turma. No fim do ano, que era para os bacharelandos o fim do curso, o guardião a transmitia ao seu colega do ano anterior. Ela assinalava, sob as Arcadas, o eterno revezamento das gerações. Estas iam-se embora mas o símbolo permanecia na escola.
Em 1919, quando iniciamos os nossos estudos jurídicos, era “chaveiro” o então bacharelando José Alves de Cerqueira César Neto. José Alves de Cerqueira César Neto passou-a, em 1920, ao professor Américo de Moura. Américo de Moura entregou-a, em 1921, a Luís Felipe de Queiroz Lacerda. Luís Felipe de Queiroz Lacerda confiou-a em 1922 a Frederico Martins da Costa Carvalho. Frederico Martins da Costa Carvalho deixou-a, em 1923, nas mãos de Antônio Gontijo de Carvalho.
Foram oradores da Festa da Chave, no mesmo período, os seguintes estudantes: 1919, Raul Afonso Machado; 1920, Manuel Otaviano Dinis Junqueira; 1921, Gilberto de Andrada e Silva; 1922, Rodrigo Soares Júnior; 1923, Francisco Pati. Cabia aos oradores, em nome da turma que recebia o símbolo, assumir o compromisso de manter bem alto o nome da escola, mantendo, outrossim, o elo da solidariedade entre as gerações acadêmicas. Daí, talvez, o sentido filosófico da definição de João Mendes.
Festa da atenção ou festa da amizade, festa da ilusão ou festa da esperança, certo é que a Festa da Chave dava a professores e alunos o pretexto de alocuções cívicas. Na de 1921, por exemplo, falou em nome dos professores, Frederico Vergueiro Steidel, catedrático de Direito Comercial e presidente da Liga Nacionalista. O seu discurso foi um notável libelo contra o jogo, cuja fiscalização era objeto de estudos na Câmara Federal.
É preciso ter visto Frederico Vergueiro Steidel na tribuna, nos seus “dies irae”, para concordar com Carlyle, quando afirma que a palavra do homem, mesmo no ardor da cólera, é canto. O saudoso catedrático de Direito Comercial começava causando impressão pelo físico. Magro, de estatura média, curvado para a frente, fisionomia severa, de asceta, soltava as palavras como látegos. A vocação de apóstolo estampava-se-lhe na face macerada. Deviam ter sido como ele os jejuadores das eras de corrupção.
Frederico Vergueiro Steidel transformou a Festa da Chave de 1921 numa Festa do Caráter.
Francisco Sá, relator da Receita no Senado da República, insurgira-se, em parecer famoso, contra a oficialização da batota. Steidel pegou a deixa e pronunciou um discurso candente. Provou que a oficialização, uma vez decretada pelo Poder Legislativo, arvorava a República em sócia do “pano verde”. Não seria então apenas a desmoralização do regime senão a do próprio caráter nacional.
Volto, mais uma vez, ao conceito de João Mendes Júnior. Festa da atenção não será porventura o mesmo que Festa da Vigilância?
A mocidade acadêmica de São Paulo tem grandes responsabilidades sobre os ombros. Cumpre-lhe estar sempre vigilante.
Cumpre-lhe fiscalizar a prática da verdadeira democracia no Brasil, porque a democracia, nos dias que correm, já não é tão só um conceito político: é, principalmente, uma concepção moral. É um meio de vida, o único compatível com a nossa dignidade de seres raciocinantes. Democracia é solidariedade humana. Precisamos ser solidários uns com os outros, através do tempo, porque a solidariedade é compreensão, tolerância, estima recíproca, tanto no entrechoque das paixões como no das idéias.
* * *
AMÂNCIO DE CARVALHO — Professor de Medicina Legal e diretor da escola nos impedimentos de Herculano de Freitas.
Madrugador e jovial como o melro de Guerra Junqueiro. Às 7 e meia da manhã, pontualmente, descia da rua da Liberdade, onde morava, para o largo de São Francisco. Às 8 h 15 em ponto estava sentado no alto da cátedra, na sala do 5.° ano, em frente à “Praça de Armas”, à esquerda do saguão de entrada. Não sendo bacharel, era mais pedagogo do que orador. Conversava com os alunos. Exposição simples entremeada de exemplos práticos.
Baixo e gordo, parecia mais baixo por causa do comprimento do paletó. Competia em velhice com Pacheco Prates. Era, no entanto, o mais assíduo dos professores. Nunca se ouviu falar que tivesse gozado um dia de licença. Alcântara Machado, professor-substituto da cadeira, chegou quase à idade de aposentar-se sem ter conseguido apanhar uma turma. Não havia aulas desdobradas naquele tempo. Cada classe era uma turma única. Éramos, em 1923, pouco mais de uma centena no quinto ano.
Assíduo como poucos, não se preocupava, no entanto, com a assiduidade dos alunos. Limitava-se a dizer-nos:
— Os senhores fazem mal em não freqüentar as minhas aulas. Não digo isso pelo professor. Digo-o pela disciplina. Medicina Legal é ciência que se aprende ouvindo.
Fazia uma pausa. Olhava a classe e intencionalmente acrescentava:
— Aliás, nisto de Medicina Legal há muita coisa que os senhores conhecem por experiência própria...
Essas provocações à malícia dos moços eram freqüentes nele. Se havia moças na turma costumava adverti-las de véspera.
— Na próxima aula tratarei de um ponto escabroso. Peço às senhoras que fiquem em casa. Vai ser uma sessão só para homens.
Em chegando, então, o dia do “ponto escabroso”, não tinha papas na língua. Dava nome aos bois. Fazia gestos apropriados ao assunto. Contava casos. “Certa vez, — dizia — num processo por infração do artigo tanto do Código Penal, fui chamado a opinar a respeito de um fenômeno. Tratava-se de um português deste tamanho. Indicava por meio de gestos o tamanho do português. Ria depois com os alunos o como palavra puxa palavra, atrás daquele fenômeno vinha outro fenômeno. A sala transformava-se num “museu de horrores”. Voavam os 45 minutos.
Dali a pouco, sob as Arcadas, os “melros” comentavam com os retardatários:
— Vocês perderam hoje uma aula e tanto.
Os exemplos citados pelo velho catedrático passavam de boca em boca. A freqüência às aulas, todavia, não aumentava. Culpa, talvez, das manhãs paulistanas, tão cheias de garoa e de sono.
Salvava-nos, no dia do exame oral, o “programa analítico”. O programa era um compêndio. Trazia definições e diagramas. Se o caso era para divisões e subdivisões, continha divisões e subdivisões. Com ele na “mesa do pensamento” ficávamos habilitados a gaguejar o suficiente para dar corda ao mestre. Este pegava, com efeito, os nossos retalhos de palavras e formava com eles uma dissertação mais do que razoável.
Dizia em voz alta:
— É isso mesmo. A saponificação é uma das fases de decomposição do cadáver. O nosso corpo não vale nada. Quem tem razão é o padre Vieira: começamos a morrer no dia em que nascemos.
A minha turma teve um precioso elemento de ligação com o velho mestre: Antônio Campos de Oliveira. Antônio Campos de Oliveira era o dono de Amâncio de Carvalho. Nortista como ele, bondoso como ele, tendo como ele a preocupação de ser útil, Antônio Campos de Oliveira servia-se da estima que lhe votava o professor em benefício dos colegas. Freqüentava o acolhedor solar da rua da Liberdade e à mesa do jantar esquecia-se de si mesmo. Aumentava as nossas preocupações, exagerava as nossas dificuldades e as nossas virtudes. Exaltava o nosso talento.
A Medicina Legal tem grandes nomes no Brasil. Amâncio de Carvalho é um deles.
* * *
AZEVEDO MARQUES — Professor de Processo Penal, advogado e político, homem de cultura e de bom gosto.
Ministro das Relações Exteriores do Brasil no governo Epitácio, esteve longe da sua cátedra na Faculdade de Direito por muitos anos. Reassumiu-a precisamente em 1923, quando estávamos cursando o 5.° ano. Tivemos, então, o prazer de ouvir-lhe as exposições claras e escorreitas. Juiz de Direito no início da carreira, conservou pela vida a fora o hábito da exposição metódica dos fatos. Talvez não fosse profundo. Era, porém, suficientemente culto e as suas aulas seduziam pela simplicidade elegante.
Homem de sociedade, conquistava desde logo pela correção.
Diante dele os estudantes não se sentiam inclinados a dar vivas nem pique-piques. Descobriam-se respeitosamente. A sala de aula, com ele na cátedra, era uma sala de recepções no Itamarati. Sua voz macia e doce enunciava as leis de Processo como se fossem epigramas. Era só fechar os olhos para ter a ilusão de ouvir uma figura do Império, com punhos de renda, uma daquelas figuras que posavam para Vienot e que circulam pelas páginas do livro de Wanderley Pinho, “Salões e damas do segundo reinado”. Tudo nele autorizava a evocação: o porte fino, as mãos bem feitas, o rosto um tanto pálido, a voz em surdina, os gestos sóbrios.
Os professores com tirocínio de administração ou de política são, em regra, na Faculdade, os mais tolerantes, naturalmente por efeito das suas atividades mundanas. A administração e a política ensinam-lhes o segredo das nossas fraquezas ou das nossas vaidades. Habituam-se, por outro lado, a não exigir dos seus semelhantes — estranhos, clientes, amigos ou alunos — senão o que eles podem dar. Não têm, além do mais, aquela severidade espetacular dos que fogem à sociedade e se encerram, a doze chaves, na torre-de-marfim da sua superioridade e da sua sabença.
Azevedo Marques trouxe do Rio, onde privou com os homens do governo e da política, uma tolerância ainda maior que a habitual nele. Não era, todavia, nem um “blasé” nem um descontente. Era, ao contrário, um homem em paz com a sua consciência, vivendo e gostando muito de viver. A vida, afinal das contas, valia a pena de ser vivida, quando mais não fosse, por amor à boa música, à boa pintura, à boa companhia...
Não faltava nem a concertos nem a exposições de artes plásticas. Possuía uma famosa galeria de arte e sentava-se ao piano, nas horas indecisas, para executar Chopin ou Beethoven. Os “Estudos revolucionários” do primeiro, a “Sonata ao luar”, do segundo, eram-lhe as composições prediletas. Os acordes da “Sonata quasi una Fantasia”, a segunda de Opus 27, inspirados pelo amor de Julieta Guicciardi, ecoavam dentro dele e lhe falavam, provavelmente, dos bons tempos de Batatais.
Azevedo Marques teve como companheiros, em Batatais, Washington Luís e Altino Arantes. Na igreja local, nas noites de maio, acompanhava ao órgão a Washington Luís, que cantava a “Ave Maria” de Gounod. Eram ambos muito moços, mas já se preparavam, naturalmente, para assumir, na vida política e intelectual do Estado e do país, as posições que lhes couberam mais tarde: Azevedo Marques, orientador de estudantes; Washington Luís, condutor de massas políticas; um, professor e ministro de Estado; outro, advogado, prefeito, deputado, presidente de São Paulo e da República.
De volta a São Paulo, Azevedo Marques entregou-se de novo ao magistério e à advocacia.
Foi um trabalhador infatigável. As páginas da “Revista dos Tribunais” guardam, em vários números sucessivos, as provas do seu amor ao estudo, através de pareceres profissionais. Ninguém lhe leva a palma na arte do parecer jurídico. O segredo da força dos seus argumentos residia principalmente na clareza da exposição, servida por uma linguagem castiça sem ser pedante.
Nada era pedante nele, apesar da sua preocupação de ser amável com todo o mundo.
* * *
SOUSA CARVALHO — Professor de Direito Internacional Privado, recebia-nos no último ano do curso, quando já andávamos às voltas com a escolha de paraninfo e as festas de formatura.
Estou a vê-lo no alto da cátedra: olhos grandes num rosto redondo ensombrado por um longo bigode preto. Voz macia, gestos suaves, uma preguiça louca de falar. Aguardava pacientemente o cantochão do bedel fazendo a chamada. Que bom se ao invés de cento e noventa fossem quinhentos os bacharelandos! Quando o querido Pedrão fechava a caderneta com estrondo, dando assim por terminada a sua tarefa, parecia dizer: “Que pena!” Era tão gostosa, tão embaladora aquela toada, nas manhãs paulistanas!
Levantava-se, de repente, um aluno, lá no fundo:
— Peço a palavra!
Na sala escura e comprida mal se distinguia o vulto do estudante em pé. O mestre, agradavelmente surpreendido, empinava o busto, fechava o Lafaiete, cruzava os braços e dava a palavra ao jovem. Um bacharelando encontra sempre pretexto para pedir a suspensão da aula. Há tanta gente que morre por esse mundo de Deus, tanto homem ilustre, tanto político, tanto poeta, tanto professor! O calendário cívico de um estudante é elástico.
O discurso, em tom patético, era para pedir a suspensão da aula em homenagem a uma data histórica da Polônia.
— Associo-me de coração à homenagem proposta pelo distinto orador. É uma prova de solidariedade — dizia — que fica bem aos moços. Está suspensa a aula.
Estrugiam palmas. O estimado mestre descia triunfalmente da cátedra. Agradecia as palmas. Cumprimentava à direita e à esquerda, cheio de compreensão e indulgência. Esperava-o lá fora um sol caricioso e amigo. Que bom viver! Como era bonito o largo de São Francisco, àquela hora matinal, cheirando a missa! Em São Paulo, no largo de São Francisco, as manhãs têm sempre um ar de festa. É, talvez, por causa das duas igrejas. Ou quem sabe se não é por causa principalmente da Faculdade?
Se nenhum aluno pedia a palavra, Sousa Carvalho dava, então, início à aula. Abria o Lafaiete devagarinho:
— Meus senhores: ouçamos o que diz o grande Lafaiete!
Durante vinte ou trinta minutos lia-nos algumas páginas do notável jurisconsulto, saboreando mansamente os períodos bem construídos. A turma ouvia-o, se quisesse. Entre os alunos que compunham a turma de 1923 havia sempre um grupo que fazia questão de ouvir. Havia, porém, outro que fazia questão de conversar. Ouvir, para o primeiro grupo, era aprender; para o segundo, no entanto, conversar era viver. Queríamos viver a vida acadêmica em seus últimos dias. Queríamos aproveitar os últimos momentos de irresponsabilidade.
Sousa Carvalho foi, no seu tempo, o campeão dos concursos. Bateu tantas vezes à porta da velha escola que esta acabou cedendo às suas súplicas. Um concurso é um ato de contrição. É também uma prova de resistência. É principalmente uma escola de disciplina do caráter. O candidato só tem um direito, o direito de submeter-se à vontade do examinador. Há, então, os que se vingam nos alunos, depois de obtida a cadeira. Não foi esse o caso de Sousa Carvalho. Os concursos ensinaram-no a ser condescendente. Se a bondade tem figura humana, esta é a do meu saudoso professor de Direito Internacional Privado.
Fala-se muito em erudição, e, em se tratando de professores de uma escola superior, exige-se que eles sejam oniscientes. Sousa Carvalho possuía, a meu ver, a maior de todas as ciências: a compreensão humana. Sabia, por isso, que os seus alunos tinham, por sua vez, a maior de todas as inteligências: o entusiasmo da juventude.
* * *
Cabe à Liga Nacionalista o maior quinhão de glória no caso da forte solidariedade entre os estudantes das escolas superiores de São Paulo.
Em 1915, houve no Brasil dois momentos culminantes de eloqüência e de civismo: o discurso de Bilac, na Faculdade de Direito, sobre o “Ideal”, e o de Afonso Arinos, em Belo Horizonte, sobre a “Unidade da pátria”. O grito do príncipe dos poetas brasileiros aos estudantes paulistas — “Mocidade, em marcha para o ideal!” — foi atentamente ouvido e atendido. Sob a direta inspiração de Frederico Vergueiro Steidel surgiu nesta capital a Liga Nacionalista, que se destinava, com efeito, a coordenar a mocidade paulista para realização daquela “marcha”.
Essa questão das “marchas” foi, anos mais tarde, desvirtuada para fins de aventura política por Benito Mussolini na Itália, com a “Marcha sobre Roma”. A verdade, no entanto, é que foram os moços de São Paulo, atentos ao apelo de Olavo Bilac, os pioneiros das grandes mobilizações cívicas. Partindo ora do largo de São Francisco, onde se achava situada a nossa escola, ora da rua de São Bento, onde era a sede da Liga, saímos pelo interior a fora, em caravanas doutrinárias. O voto secreto, o ensino primário obrigatório, a moralização dos costumes políticos, o reerguimento do Tribunal do Júri, a liberdade de pensamento e de palavra, eis aí os temas que debatíamos, nas cidades do Estado, em presença de um público invariavelmente numeroso. Foi, em suma, um período de intensa vibração intelectual.
A Liga Nacionalista de São Paulo teve, desde os primeiros passos, uma organização que lhe permitiu, em menos de dez anos de existência, aproximar os estudantes universitários, mobilizando-os para a campanha de saneamento da democracia brasileira. A presidência cabia a Frederico Vergueiro Steidel, professor da Faculdade de Direito. Quanto à vice-presidência, era repartida entre a Escola Politécnica, na pessoa de Rodolfo Santiago, e a Faculdade de Medicina, na de Arnaldo Vieira de Carvalho. Figuravam, igualmente, no Grande Conselho, advogados, médicos, engenheiros.
Os cargos de secretário pertenciam aos estudantes. No seu penúltimo ano de existência foram eles os seguintes: Antônio Gontijo de Carvalho, 1.° secretário, pela Faculdade de Direito; Artur da Nova, 2.° secretário, pela Escola Politécnica; José Inácio Lobo, 3.° secretário, pela Faculdade de Medicina.
Eram aproveitados, de preferência, os dias de festa nacional, para pregação do nosso evangelho. Nas cidades onde havia teatros, as conferências realizavam-se nos teatros. Não havendo teatros nem cinemas, serviam-nos de palco as salas de aula dos grupos escolares ou os jardins públicos. Aqui na capital eram os salões de cinema os sítios preferidos. O acadêmico designado para fazer o discurso comemorativo de uma data ou de um feito qualquer assomava num dos camarotes, mandava acender as luzes, batia palmas pedindo silêncio e começava:
— Em nome da Liga Nacionalista de São Paulo, aqui estou para dizer-vos...
Nunca se verificou um movimento de impaciência ou uma atitude de desagrado por parte do público, em São Paulo, tanto na capital como nas cidades do interior. A existência da Liga Nacionalista coincidiu com os anos de preparação do ciclo revolucionário brasileiro. Eram, então, os anos de grande agitação política. As cidades eram dominadas pelos prefeitos e estes obedeciam cegamente à comissão diretora do partido situacionista. Havia, não obstante, em relação aos emissários da Liga Nacionalista, compreensão e tolerância. Havia mesmo estímulo.
Certa vez, fui destacado para falar em Limeira sobre o voto secreto.
Era, se não me engano, um dia 7 de setembro. Ao desembarcar na estação de Limeira, sou acolhido pelo juiz de Direito, pelo promotor público e pelo... prefeito. Dá-me este as boas-vindas e anuncia-me que sou hóspede oficial do município, estando-me reservados aposentos no principal hotel da cidade, junto à estação ferroviária. Convida-me, além do mais, para um jantar oficial e oferece-me o palco do Teatro Municipal para a conferência.
Eu levava a conferência escrita e sabia que ela não continha referências muito amáveis à política situacionista. O voto secreto era um tema essencialmente político. Posto que não se envolvendo em política partidária, a Liga Nacionalista era uma organização política. A sua política era a da restauração das normas democráticas. Para falar, então, em reerguimento do regime democrático era preciso mostrar que alguma coisa andava errada no Brasil. Eu acusava todo o mundo: presidente do Estado, Poder Legislativo, prefeitos, comissão diretora, “tutti quanti”.
Comi à mesa do prefeito, em companhia de outras pessoas de representação social, sem vontade de dizer palavra. Pesava-me na consciência, como um remorso antecipado, o discurso a pronunciar daí a poucos minutos. Nunca ninguém sofreu tanto como eu naquela noite. Mas em me pilhando no palco, à frente de uma assistência culta, numerosa e entusiástica, desenrolei sem mais tardança o rosário das minhas descomponendas cívicas. Esqueci a recepção, o jantar, as flores, a presença do prefeito e só me lembrei de que urgia salvar a República por meio do voto secreto e sob o império de todas as liberdades públicas.
No dia seguinte, em casa do promotor público da comarca, dr. Luís de Camargo Aranha, hoje ilustre juiz de Direito em São Paulo, pedi-lhe desculpas pelos excessos de linguagem da véspera. Disse-me s. sa.:
— A Liga Nacionalista tem carta branca.
Teve-a, sim, em São Paulo. Não a teve, porém, anos depois, no conceito do governo da República.
* * *
Uma das grandes preocupações de Frederico Vergueiro Steidel era o Tribunal do Júri.
Sucediam-se, naquele tempo, as absolvições em massa. A eloqüência dos nossos oradores forenses, de um lado, os compromissos de ordem sentimental ou política, de outro, garantiam a impunidade dos maiores criminosos. Conhecia-se de antemão o veredicto dos jurados. As cadeias esvaziavam-se. Começava a ter desencantos a função de juiz popular. Retraíam-se os homens de critério. Para haver sessões, mormente na capital, era preciso caçar os membros do conselho. Ninguém comparecia. Ninguém pagava multa.
A Liga Nacionalista enviou, então, uma carta-circular a todos os cidadãos que serviam habitualmente no Júri.
Era uma carta como as sabia escrever Vergueiro Steidel: curta mas incisiva e enérgica. Falava em consciência cívica e exaltava a missão que nas democracias a sociedade outorga aos homens convocados para o julgamento dos seus semelhantes. O Tribunal do Júri era uma instituição genuinamente democrática. Ora, sua desmoralização, quer pelas absolvições em massa, quer pelo não comparecimento dos ministros, era a desmoralização da própria democracia brasileira. Tanto mais grave era o fenômeno quanto estava exclusivamente nas mãos do povo o remédio salvador e necessário.
Uma tarde, na sede da Liga, à rua de São Bento, há cochichos pelos cantos. O secretário ia de uma a outra mesa com uma carta-circular em punho. De vez em quando, exclamava:
— Ora, o Chico Emídio! Ora, o Chico Emídio!
Francisco Emídio Pereira era um aluno do 5.° ano e militava na política oficial de São Paulo. Se não me engano, era membro da Subcomissão da Sé, onde exercia também as funções de juiz de paz. Menos moço que a maioria dos estudantes, impusera-se a estes e aos professores pela correção das suas atitudes dentro e fora da escola. Física e moralmente era a simpatia em carne e osso. Aluno dos mais assíduos, figurando mesmo entre os mais estudiosos, prestava solidariedade a todos os movimentos acadêmicos. Viamo-lo com freqüência à testa de grandes campanhas cívicas. Possuindo, além do mais, bolsa farta, estava invariavelmente à disposição dos colegas, que dele se socorriam com parcimônia e entusiasmo.
O secretário da Liga caminhava de um para o outro lado, murmurando:
— Ora, o Chico Emídio! Ora, o Chico Emídio!
Era o caso que o bacharelando Francisco Emídio Pereira, ex-aluno de Vergueiro Steidel, amigo e colaborador da Liga Nacionalista, havia devolvido ao presidente a carta-circular sobre o Júri com estas palavras à margem: “Não preciso de advertências de quem quer que seja para cumprir as minhas obrigações de cidadão”.
As mobilizações cívicas da Liga Nacionalista repercutiam intensamente na política interna da Faculdade, onde havia um pequeno grupo hostil a Vergueiro Steidel. Confundia-se doutrinação com oposição. Se se falava em liberdade de pensamento e de palavra havia a suspeita de que se pretendia aludir ao governo do Estado. Se a Liga Nacionalista fabricava carapuças, a verdade é que muita gente as enfiava desnecessariamente até às orelhas. Muitas vezes nos lembramos da carta de Eça de Queiroz sobre o homem que não podia ouvir falar em orelhas de burro porque imediatamente se apalpava, desconfiado de que era com ele o negócio...
Vergueiro Steidel tinha, na Faculdade, entre os adversários, uma alcunha triste. Era uma alusão ao seu porte físico. Magro, mais baixo do que alto, perfil acentuadamente aquilino, andava curvado para a frente e dificilmente sorria. O olhos claros pareciam olhar para dentro. Se se falasse em cegonha, estou certo de que a alcunha, perdendo o sentido pejorativo, seria aceita até por ele.
* * *
As sessões do Centro Acadêmico “XI de Agosto” foram sempre muito agitadas.
Em 1923 esteve no cartaz, por vários meses, a questão das relações da Liga Nacionalista com a simpática associação de estudantes de Direito. Aguinaldo de Melo Junqueira, na presidência, agia ditatorialmente. Sabia que a Liga Nacionalista era uma entidade séria, só batalhando em favor da moralização dos nossos costumes políticos, e por isso lhe prestava inteiro apoio. Contava, aliás, com a solidariedade dos companheiros de diretoria. E contava, além do mais, com o prestígio de Antônio Gontijo de Carvalho, que era, sob as Arcadas, um Maquiavel de vinte anos.
Aguinaldo de Melo Junqueira fazia-se de surdo às solicitações da oposição política. Deixava o marfim correr.
Chegou, porém, um momento em que não foi mais possível conter a onda. Urgia marcar uma sessão extraordinária. Estava sobre a mesa um pedido assinado por numerosos acadêmicos. A própria Liga Nacionalista mostrava-se interessada em conhecer os pontos em que se baseavam as acusações do grupo que lhe era hostil na Faculdade. Vergueiro Steidel mandou chamar-nos:
— A Liga Nacionalista — disse-nos — precisa de todos os moços. Não convém ao nosso programa, de caráter puramente ideológico e doutrinário, o ambiente de desconfiança e de hostilidade que se pretende formar na escola. Sei que há um pedido de convocação extraordinária do Centro. Sei que se preparam interpelações contra nós. Nós não fazemos mistérios. Não agimos às escondidas. Os senhores podem falar em nosso nome.
Antônio Gontijo de Carvalho distribuiu-nos os papéis. A mim me coube a defesa de Vergueiro Steidel, quer como professor, quer como cidadão, e principalmente como presidente da Liga. Se durante os debates se fizessem acusações à pessoa do venerando catedrático de Direito Comercial, eu imediatamente pediria a palavra, para a defesa do mestre. “Se eles não quiserem ouvir-nos — dizia-me Gontijo — nós suspendemos a sessão. Não é possível que só eles falem”.
Tudo aconteceu como prevíramos. Frederico Vergueiro Steidel foi arrastado pela rua da amargura.
Disse um orador:
— É preciso repelir, sr. presidente, a intromissão do professor Steidel, seja como professor, seja como presidente da Liga Nacionalista, na política interna do Centro “XI de Agosto”. O Centro pertence aos estudantes e nada tem de comum com a Liga. O sr. Vergueiro Steidel quer é fazer política partidária à nossa custa. A Liga Nacionalista quer enfeitar-se com o nosso prestígio. Ela quer, em última análise, atirar-nos à fogueira.
Não preciso dizer que nessa altura a sala do Centro parecia um campo de batalha. A catilinária contra Vergueiro Steidel foi pronunciada aos fragmentos. Os apartes cortavam o ar. Havia cenas de pugilato pelos cantos. Aguinaldo de Melo Junqueira, na presidência, arregaçava as mangas, prometia um desforço pessoal. Ninguém se entendia. Os bedéis, à porta, assistiam estarrecidos ao espetáculo que lhes proporcionávamos.
Pedi, então, a palavra.
Repeli as acusações feitas à Liga Nacionalista, na parte em que atingiam diretamente a personalidade do seu presidente. Sob uma saraivada de apartes, alguns dos quais cortavam como navalhas, exaltei as virtudes cívicas de Vergueiro Steidel. Falando por partes, quase aos berros, busquei exemplos na antiguidade clássica. Citei Plutarco. Falei, se bem me lembro, nos “romanos de Péricles”, comparando a eles a figura enérgica do professor de Direito Comercial
Assim que falei em Péricles, um bacharelando do grupo contrário ergueu-se e pediu licença para um aparte. O presidente consultou-me. Respondi afirmativamente.
— Senhor presidente, — disse o bacharelando — pedi a palavra unicamente para lembrar ao distinto orador que os “romanos de Péricles” eram... gregos.
Sentou-se. “Quel giorno piú non vi leggemmo avante”, diz Francesca. Naquele dia não falei mais.
* * *
Apesar de não haver universidade em São Paulo, existia “espírito universitário”.
Considero o “espírito universitário” uma fusão de vários espíritos: a solidariedade, a compreensão, a comunhão de ideais, disciplina e método no estudo e nas expansões de civismo, união de classe, confiança e entusiasmo. Espírito universitário é a afirmação de uma consciência coletiva. Se por um lado significa esforço consciente e disciplinado, por outro, traduz confiança no futuro. Sob o ponto de vista pedagógico, é disciplina; sob o ponto de vista político, é congraçamento. Existe, também, o ponto de vista sentimental: é, então, neste caso, aproximação e afeto mútuo.
A minha geração praticou o “espírito universitário”.
As três escolas superiores de São Paulo — Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Escola Politécnica — achavam-se estreitamente unidas por intermédio de seus alunos. Um grupo pequeno mas entusiástico mantinha em cada uma delas a chama da solidariedade universitária. A Faculdade de Direito contribuía com três Franciscos, Francisco Martins de Andrade, Francisco Ribeiro da Silva e eu; contribuía ainda com Antônio Gontijo de Carvalho; Aguinaldo Junqueira, Lúcio Cintra do Prado e mais dois ou três alunos. Contribuía a Escola Politécnica com um grupo verdadeiramente brilhante, a saber: Artur da Nova, Ari Torres, Antônio José de Freitas, Irineu Silveira, Alcino Vieira de Carvalho, Oscar Bernardes. Representavam a Faculdade de Medicina, entre outros, Felício Cintra do Prado, Rafael da Nova e José Inácio Lobo.
Onde estava um, estavam todos. Só nos separavam as horas da manhã, dedicadas à escola, e algumas da tarde, consagradas ao estudo ou ao... sono. Todas as outras nos encontravam unidos, ora no salão do Cine República, ora nos “cafés”, ora nos “dancings”, onde bebíamos cerveja e conversávamos sobre política e literatura ao som da “Chacarera”.
A “Chacarera” era o tango da moda. Assim que o salão se enchia de estudantes, o “cabaretier”, de alto-falante em punho, mandava diminuir as luzes. Só continuavam acesas as lâmpadas pintadas de azul. O salão de baile ficava imerso numa quase penumbra. A pequenina orquestra ao fundo parecia metida numa concha. O “cabaretier” embocava o alto-falante, fazia um gesto aos músicos e os compassos dolentes daquela canção “milonguera” enchiam o ambiente cheirando a “chartreuse” e perfumes finos:
“Chacarera... chacarerita,
chacarera de mi corazón,
se te pido que me quieras
no me contestes tu que no”.A maioria dos estudantes saía pelo salão escorregadio e misterioso aos braços das “milonguitas”. Alguns continuavam à mesa, por detrás de “abat-jours” azuis, cantando o tango:
“Chacarera... chacarerita,
chacarera de mi corazón”...Um dia, em março de 1923, as três escolas paulistas, representadas pelos três grupos de acadêmicos, encontraram-se unidas à beira do esquife de Rui Barbosa, no saguão da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. O culto ao grande brasileiro era comum às escolas superiores de São Paulo. Direito, Medicina e Politécnica cerravam fileiras em torno dos ideais pregados pelo imortal tribuno, em mais de meio século de agitação política. Um de nós começava a declamar um discurso de Rui e daí a pouco ei-lo repetido em coro. “Somos um corpo”, dizia o primeiro e imediatamente concluíam todos — “que vai rolando, com a inconsciência dos mortos, despenhadeiro abaixo. Ainda há muito que rolar, e, enquanto rolamos, vão-se acendendo em volta, nas suas cores de festa, os fogos do carnaval”.
O Rio acolheu-nos com um daqueles calores que os cariocas, querendo ser amáveis, costumam dizer “que não faz há muito tempo”. Suávamos em bica. Cigarras cantavam nas árvores resseguidas do largo de São Francisco, perto do hotel. Olhando lá para baixo víamos a cidade indiferente à irreparável perda nacional, passeando de linho branco. No ar lavado, os raios do sol vibravam como lâminas de aço. Corremos, primeiro, ao banho e depois ao chope.
O enterro era às 4. Havia tempo de sobra para o almoço. Almoçamos e bebemos. A Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina e a Escola Politécnica de São Paulo entravam valentemente no chope da “Brahma”, sorvido aos goles, em copos compridos como a sede que por dentro nos devorava. No meio da imensa dor da pátria, presente no crepe que cobria os lampiões da avenida Rio Branco, a nossa juventude era antes de mais nada uma expressão de vitória — a vitória da nossa fé nos ideais de liberdade e de justiça, pregados por Rui Barbosa.
* * *
Francisco Ribeiro da Silva, aluno distinto do curso de da. Maria Edul Tapajoz, era o Paderewski da turma.
Freqüentei muito a casa patriarcal do ilustre acadêmico-pianista, na esquina da avenida Brigadeiro Luís Antônio e da rua Conselheiro Ramalho. Todos os dias, à hora do jantar, ele tocava o telefone para minha casa:
— Vamos hoje ao “República” mas antes disso passe por aqui.
Eu passava todos os dias, à mesma hora, pela sua casa. Chegava invariavelmente à sobremesa. Apanhava, portanto, os restos das discussões do jantar. Hermano Ribeiro da Silva, o sertanista, era muito jovem e dedicava-se a estudos de Gramática. Joaquim Timóteo, revolucionário, andava sempre ausente. João, Tonico, Rafael, Hugo, Plínio, Cássio eram todos discutidores. Falavam todos ao mesmo tempo. Todos queriam ter razão. O chefe da tribo era uma das figuras mais simpáticas daquele tempo. Tomava parte no debate. Acendia um charuto e gozava o desentendimento dos filhos.
A sessão elegante do “República” era às dez.
Então entre o jantar e o cinema, Francisco Ribeiro da Silva sentava-se ao piano, na sala da frente, íamos todos atrás dele. Os acordes da “Marcha Turca” de “Ruínas de Atenas” enchiam o espaço. O pianista era bom de fato. A “Marcha Turca” projetava-se, sob as noites frias, para os lados do “Bexiga” e enchia de sonoridade o bairro proletário. Mas a “Marcha Turca” era apenas uma demonstração de técnica. Vinham depois os autores prediletos. Eu pedia Chopin.
— Você conhece a definição de Rollinat? “Chopin, frère du gouffre, amant des nuits tragiques”...
Sob os dedos ágeis de Francisco Ribeiro da Silva, o teclado contava-nos os amores de Chopin e George Sand. Atrás de um Chopin vinha outro Chopin. Nos intervalos das execuções eu declamava o poema de Rollinat. Relembrávamos os amores do grande músico. Vinha, então, à baila o episódio da sua morte, no dia 17 de outubro de 1849, às duas horas da madrugada. A volta do seu leito de moribundo comprimiam-se os amigos. Delfina Potocka, ao piano, reprimindo os soluços, cantava a pedido do agonizante as canções dos dias felizes. O abade Jelowicki recitava orações fúnebres. Gutman segurava-lhe a mão fria.
Chopin voltou-se para os amigos e pediu-lhes uma folha de papel. Escreveu nela, a custo: “Como esta terra me sufocará, peço-vos fazer abrir o meu corpo, para que eu não seja enterrado vivo”. Chamou depois a princesa Marcelina. Dirigiu-se, por fim, a Franchomme. Disse-lhe: — Tocareis Mozart em minha homenagem...
Em casa de Francisco Ribeiro da Silva, todas as noites, entre o jantar e o cinema, fazíamos a última vontade de Chopin, Francisco Ribeiro da Silva executava Mozart: a “Sonata em la” ou a “ouverture” de “A Flauta mágica”. Lembrávamo-nos do poeta Grill Patzer, que definiu Mozart como um belo adolescente estendido entre a Alemanha e a Itália, alemão natural de uma Alemanha que era naquela época, sob o ponto de vista artístico, mais italiana do que alemã, alemão que teve a felicidade de fundir em si os gênios de duas raças, a raça latina e a raça germânica.
Com os ouvidos cheios de tão boa música, saíamos depois em direção ao cinema. Fazíamos o trajeto a pé. Caminhávamos em silêncio, sob o encantamento de Chopin e Mozart. À porta do “República” encontrávamos o grupo inteiro: Aguinaldo, Gontijo, Clóvis Cordeiro, Francisco Martins, Artur da Nova, Antônio de Freitas, estudantes de Direito, de Medicina, de Engenharia, todos reunidos por velha amizade ou por um sentimento de estreita solidariedade universitária.
Esquecíamos Chopin, Mozart, Beethoven. Só se falava em Gloria Swanson.
* * *
Corria o ano de 1923, como se diz nos romances de capa-e-espada. Estava no cartaz o “caso” do Rio Grande do Sul. Assis Brasil levantava-se em oposição a Borges de Medeiros. Grande celeuma provocava a inconstitucionalidade da Constituição gaúcha. Rui era morto. No Catete, Artur Bernardes conduzia o barco da República.
Convidados por um grupo de gaúchos residentes em São Paulo, tendo à frente os irmãos Revoredo, médicos conceituados e estimados, Aguinaldo de Melo Junqueira, presidente do Centro Acadêmico “XI de Agosto”, Antônio Gontijo de Carvalho e eu tentamos levantar os estudantes de Direito ao lado de Assis Brasil. Convocamo-los para várias sessões extraordinárias do Centro. Esforçamo-nos por incutir no espírito dos colegas a convicção de que nos achávamos então possuídos. A perpetuidade de Borges de Medeiros era um desafio aos fundamentos democráticos do regime. Desde o momento em que a democracia deixa de ser revezamento no poder não há mais razão para se falar em governo do povo pelo povo.
Esperava-se a todo momento a passagem de Assis Brasil por São Paulo. Era preciso, então, que o ilustre prócer se sentisse estimulado e confortado pelo apoio da opinião pública paulista. Arranjamos as coisas de tal modo que não lhe faltou, em sua curta estada nesta capital, uma entusiástica “marche-aux-flambeaux”. Durante a passeata cívica falou, em nome da mocidade acadêmica, o quartanista Oscar Penteado Stevenson. São Paulo, mais uma vez, colocou-se ao lado da boa causa. O repúdio à continuação de Borges de Medeiros no poder ganhava adeptos, dia por dia.
Não foi, porém, um apoio meramente platônico o que Assis Brasil levou de São Paulo, a caminho do Rio Grande. Na noite do seu embarque, a estação encheu-se de amigos, correligionários e estudantes. Encheu-se, principalmente, de senhoras. Assim que o trem se pôs em marcha, viu-se este espetáculo fora do comum: as senhoras, num verdadeiro golpe de prestidigitação, arrancavam armas de dentro dos seus agasalhos e as metiam no vagão em que viajava Assis Brasil, pelas janelas. A assistência em peso batia palmas, enquanto os estudantes entoavam o Hino Nacional em coro.
A política interna do Velho Convento agitava-se. Sucediam-se as convocações extraordinárias do Centro “XI de Agosto”. Éramos acusados de emprestar o nome prestigioso da agremiação estudantina às tricas da política doméstica do Rio Grande do Sul.
Daí por diante não foi mais possível, todavia, conter a efervescência dos espíritos. Por sugestão de Antônio Gontijo de Carvalho trouxemos a São Paulo, Antônio Batista Pereira, — o “Batistinha”, como lhe chamávamos na intimidade. Era preciso alimentar o fogo sagrado. Ninguém mais indicado para isso do que o eminente homem de letras, conhecedor profundo da nossa história política. Sua conferência no salão do Conservatório sobre “O caso do Rio Grande” teve, então, a mais alta repercussão no Estado e no país, não só pela excelência dos seus argumentos como pela beleza do seu estilo.
Aproveitando o ambiente que aqui se formara em torno de sua pessoa, oferecemos-lhe um banquete no Hotel Terminus. Gama Cerqueira, convidado por nós, proferiu o discurso oficial. A Constituição do Rio Grande não conheceu maior exegeta do que o insigne e saudoso professor de Direito Penal em São Paulo. Tudo aquilo estava errado. O Rio Grande, com a perpetuidade de Borges de Medeiros garantida por uma Constituição de encomenda, achava-se colocado à margem da democracia brasileira. Era um perigo não só para o regime como para a própria unidade da pátria.
Eu falei em nome dos moços. Não me lembro mais do meu discurso nem tenho elementos para reconstituí-lo. Só me recordo das palavras finais de Batista Pereira, em louvor dos estudantes de São Paulo: “Eu sou o violino, — vós sois o arco. Eu sou o instrumento, — vós sois a mão. Vós sois a harmonia, — eu sou o eco.”
* * *
Joinvile Seabra Barcelos fez o perfil em verso dos bacharelandos de 1917, seus colegas.
Joinvile era poeta espontâneo e correntio. Começou fazendo acrósticos para as meninas que freqüentavam o cinema da Liberdade, na rua Barão de Iguape. Uma noite por semana, o poeta ficava à porta do cinematógrafo, sobraçando uma porção de exemplares do jornalzinho “Elite”. A cada moça que entrava oferecia um número do jornal. O jornal não custava nada. Trazia colaborações em prosa e verso. Além do próprio Joinvile, escreviam nele os estudantes de Direito: Benedito Vieira Salgado, Edward Carmilo, Saint-Clair Fagundes, Paulo Setúbal.
Os sonetos de Joinvile Seabra Barcelos, retratando os bacharelandos de 1917, eram, no gênero, modelares. Conhecendo intimamente os perfilandos, o vate acadêmico lhes acentuava os traços caraterísticos. Lembro-me de que o soneto dedicado a Benedito Vieira Salgado, outro poeta da turma, que em 1914 ou 1915 estreara com um livro intitulado “Loucuras”, sob o pseudônimo de Luís Sabino, terminava com um trocadilho bem aceitável. O poeta imaginava o bacharelando a dar conselhos aos calouros. O bacharelando tratava, então, de tranqüilizar os colegas bisonhos, dizendo-lhes que na Faculdade era tudo uma questão de “cola”:
“Cola-se até solenemente o grau!”
Em 1923, tentei fazer a mesma coisa com os bacharelandos da minha turma. Embora sem a espontaneidade e sem a graça de Joinvile Barcelos, retratei vários colegas. Antônio Campos de Oliveira, Francisco Ribeiro da Silva, Chico Martins, Clóvis Cordeiro, Aguinaldo Junqueira, Joaquim Cintra, Antônio Gontijo de Carvalho, eis uma relação de “perfilandos”. Antônio Campos de Oliveira, doce como São Francisco de Assis, vendo irmãos por toda parte, — o Irmão Sol, a Irmã Lua, a Irmã Água — era apresentado como o casamenteiro da turma. Seu maior gosto consistia em aproximar colegas desavindos.
O soneto que lhe dediquei fechava com os seguintes decassílabos:
“Alma de juiz de paz em corpo idôneo
Não sei classificá-lo de outro jeito:
São Francisco de Assis ou Santo Antônio!”Clóvis Cordeiro era um adolescente bem comportado e a sua fidalguia de maneiras constituía um dos principais ornamentos do nosso grupo. Em casa de seus pais, à avenida Brigadeiro Luís Antônio, casa gostosa e acolhedora, nós nos reuníamos uma vez por mês, em festas da inteligência. Lembro-me de uma dissertação a meu cargo sobre o tema “Como se deve amar”. Depois da conferência havia números de declamação. Entre a conferência e os recitativos, números de música. Francisco Ribeiro da Silva sentava-se ao piano e proporcionava-nos um concerto exemplar.
Cada um de nós pelejava por exibir as próprias qualidades.
Joaquim Cintra ficava invariavelmente a um canto da sala, sem dizer palavra. Era um dos moços mais silenciosos da geração acadêmica. Muito elegante, podendo levar vida despreocupada, fechava-se o dia inteiro em casa, para estudar. Aparecia na escola às primeiras horas da manhã com ar tresnoitado e fazia questão de insinuar que passara a noite na pândega. Sabíamos, porém, que não era a verdade. A nossa desconfiança, nitidamente manifestada, provocava a reação da sua cólera. Falando com dificuldade, prometia, então, “beber o nosso sangue”. Mas não cumpria a promessa. Chegou mesmo ao fim do curso sem ter bebido o sangue de ninguém. Nunca fez mal sequer a u’a mosca
Fiz-lhe o perfil em verso. O soneto terminava assim:
“Quis beber o meu sangue mas — coitado! —
Chegou ao fim do curso calmamente,
Bebendo apenas guaraná gelado.”Sob o ponto de vista artístico, tinham muito pouco valor os sonetos. Tinha valor, no fundo, unicamente, a nossa mocidade. Esta, sim, estava presente em tudo: em nossas patuscadas, nos nossos versos, nas nossas decepções, nas nossas alegrias. A preocupação do perfil em verso escondia, aliás, outra preocupação mais grave, posto que oculta: a de prender o tempo. Queríamos prender a mocidade na gaiola dos catorze decassílabos.
* * *
Olímpio Carr Ribeiro, poeta satírico, autor de um poema intitulado “A negreida”, fez o perfil de alguns tipos marcantes da turma. Como Antônio Gontijo de Carvalho fosse o chefe da política situacionista — uma espécie de Pinheiro Machado-mirim, segundo propalavam — o estro daquele poeta não lhe deu descanso. Circulavam muitas quadrinhas sob as Arcadas insinuando malevolências contra Gontijo. Não poucos estudantes da oposição se esforçavam por desfeiteá-lo publicamente.
Nas eleições de 1922, das quais saiu vencedor o nome de Aguinaldo de Melo Junqueira para a presidência do Centro, os incidentes multiplicaram-se. Gontijo polarizava os ódios da oposição. José Alves Delfino, membro proeminente desta, nosso colega de turma, quis à viva força desfeiteá-lo. Postou-se junto à porta da escola, às primeiras horas da manhã, à espera do colega. Sua hostilidade era acrescida pela certeza antecipada da derrota. Apesar do prestígio intelectual de Paulo Barbosa de Campos Filho, a candidatura de Aguinaldo estava praticamente vitoriosa.
Antônio Gontijo de Carvalho não tardou a aparecer na esquina do largo do Ouvidor. Baixo, magro, moreno, andando pausadamente, atravessou o largo de São Francisco em companhia de amigos. Trazia, como de costume, uma “lista de estudantes” no bolso. Sobraçava um jornal do dia. Seus olhos irrequietos e expressivos perquiriram o ambiente. O exame foi-lhe satisfatório. Riu por dentro. Caminhando ao seu lado, eu lhe disse algo ao ouvido, com referência a José Alves Delfino, que continuava de plantão à porta principal da escola.
Entramos. Assim que nos viu, José Alves Delfino, empertigando o busto pequenino, tremendo de raiva, soltou um berro:
— Morra o caudilho!
O caudilho era Antônio Gontijo de Carvalho, com quem, aliás, José Alves Delfino acabou votando nas eleições do ano seguinte.
Gontijo viera de Minas. Fez, no entanto, com lauréis, os estudos secundários em São Paulo, no Ginásio São Bento. Em discurso pronunciado numa reunião de ex-alunos, ele mesmo nos falou da seriedade dos seus estudos fundamentais, sob a orientação dos beneditinos, tendo professores do valor de Afonso d’E. Taunay. Era completa a sua formação humanística. Muito bons os seus conhecimentos de Latim. Conhecia o Português suficientemente para escrever e falar sem solecismos. Admirava os clássicos da língua. Sabia Camões, Bernardes, Vieira. Tinha uma admiração sem limites pelo estilo de Rui, cuja casa, em São Clemente, freqüentava, graças às suas relações de amizade com os irmãos Batista Pereira.
Visceralmente político, sendo capaz de perder uma noite inteira à mesa de um “café”, para conseguir demover a convicção de um adversário, era, contudo, um idealista e tinha pelas belas-letras e pela música uma devoção especial. Depois do cinema, à noite, quando nos achávamos reunidos à mesa, no interior de um “café” ou de uma confeitaria, pedia-me versos próprios e alheios:
— Recite aquele soneto ao Judas, que começa assim: “Viva eu mil anos ou só viva um dia”...
Não podia passar uma noite sem ouvir pelo menos uma bela página em prosa ou verso. Andava com os discursos de Rui no bolso, ao lado da “lista de estudantes matriculados”. As orações da segunda “campanha política” causavam-lhe arrepios. Sabia de cor vários trechos da conferência de Juiz de Fora, em abril de 1919, sobre “Minas vitoriosa” — “Minas, a honesta, a crente, a robusta, a Minas da independência! Minas, a Minas da liberdade! Minas, a Minas do santo amor à pátria!”
Um dos traços fundamentais do seu temperamento era o desinteresse. Dedicava-se aos amigos. Seu prestígio não era para uso próprio, estava sempre à disposição dos companheiros. Amava a Academia sobre todas as coisas. Foi o “chaveiro” de 23. Coube-lhe, durante o curso, a iniciativa de quase todas as grandes recepções acadêmicas. Devo-lhe a honra de ter sido o orador oficial por ocasião das visitas de Afrânio Peixoto, Alberto de Oliveira, Júlio Dantas, Coelho Neto, monsenhor Cherubini, Sacadura Cabral e Gago Coutinho. Era garimpeiro: seu maior prazer consistia em descobrir e revelar talentos. Nunca se utilizou do seu prestígio político para fazer o mal. Fez invariavelmente o bem. Os professores estimavam-no. Tirou proveito dessa estima em favor dos colegas menos dedicados aos livros. O próprio Júlio Maia, habitualmente áspero, tratava-o com doçuras na voz.
Conhecia o Alemão e era dado a estudos de Filosofia e História. Deu-lhe aquela, sem dúvida, o segredo do seu domínio sobre os colegas. A maioria dos que o guerreavam lhe deu mais tarde voto e simpatia. Foi o que aconteceu com José Alves Delfino. Foi o que aconteceu com todos. Amigo até ao sacrifício, quebrou lanças pela candidatura de Mário Tavares Filho a presidente em 24. Deixou assim a escola com a situação política dos amigos perfeitamente consolidada. A própria candidatura de Odécio Bueno de Camargo em 25 foi ainda um reflexo da sua força política.
As nossas noitadas boêmias, quando não terminavam em verso, terminavam em música. Beethoven vibrava dentro dele. Entoava-o “a bocca chiusa”, num coro íntimo. Manteve-se fiel, nesse ponto, à simpática tradição da sua família, onde todos são artistas.
___________________________
Proibido todo e qualquer uso comercial.
Se você pagou por esse livro
VOCÊ FOI ROUBADO!
Você tem este e muitos outros títulos
GRÁTIS
direto na fonte:
eBooksBrasil.org©2008 — Francisco Pati
Versão para eBook
eBooksBrasil
__________________
Maio 2008
eBookLibris
© 2008 eBooksBrasil.org