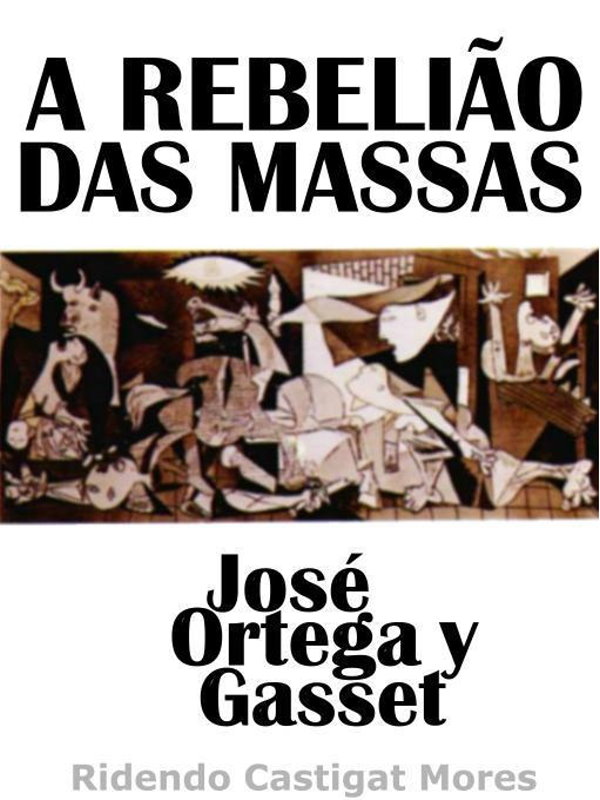A Rebelião das Massas
José Ortega y Gasset
Edição
Ridendo Castigat Mores
Versão para eBook
eBooksBrasil.org
Fonte Digital
www.jahr.org
Copyright ©
Autor: José Ortega y Gasset
Tradução: Herrera Filho
Edição eletrônica:
Ed. Ridendo Castigat Mores
(www.jahr.org)
“Todas as obras são de acesso gratuito. Estudei sempre por conta do Estado, ou melhor, da Sociedade que paga impostos; tenho a obrigação de retribuir ao menos uma gota do que ela me proporcionou.” — Nélson Jahr Garcia (1947-2002)
ÍNDICE
Apresentação
Nélson Jahr Garcia
Biografia do autor
PRÓLOGO PARA FRANCESES
PRIMEIRA PARTE
A REBELIÃO DAS MASSAS
I – O fato das aglomerações
II – A ascensão do nível histórico
III – A altura dos tempos
IV – O crescimento da vida
V – Um dado estatístico
VI – Começa a dissecação do homem-massa
VII – Vida nobre e vida vulgar, ou esforço e inércia
VIII – Porque as massas intervêm em tudo e porque só intervêm violentamente
IX – Primitivismo e técnica
X – Primitivismo e história
XI – A época do “mocinho satisfeito”
XII – A barbárie do “especialismo”
XIII – O maior perigo, o Estado
SEGUNDA PARTE
QUEM MANDA NO MUNDO?
XIV – Quem manda no mundo?
XV – Desemboca-se na verdadeira questão
EPÍLOGO PARA INGLESES
Quanto ao pacifismo
DINÂMICA DO TEMPO
As vitrinas mandam
Juventude
Masculino ou feminino?
NOTAS
A REBELIÃO DAS MASSAS
![[imagem]](imagens/ortega1.jpg)
José Ortega y Gasset
APRESENTAÇÃO
Nélson Jahr Garcia
A Rebelião das Massas”, obra prima de José Ortega y Gasset, começou a ser publicado em 1926 num jornal madrilenho (“El Sol”).
Retrata as grandes transformações do século XX, especialmente na Europa, com ênfase no processo histórico de crescimento das massas urbanas. Não se refere às classes sociais mas às multidões e aglomerações. Tendo esse contexto como pano de fundo, Ortega discute temas, aparentemente contrários entre si, mas que se fundem (ou devem fundir-se) numa unidade de sentido. É assim que contrapõe individualismo e submissão ao coletivo; comunidade, nação e estado; história, presente e porvir; homens cultos e especialistas; poder arbitrário e respeito à opinião pública; juventude e velhice; guerra e pacifismo; masculino e feminino.
São tópicos que, inevitavelmente, nos induzem à reflexão crítica. Em alguns casos são apresentados de forma extremamente provocativa.
Referindo-se ao poder do dinheiro, minimiza seu significado e afirma:
“É, talvez, o único poder social que ao ser reconhecido nos repugna. A própria força bruta que habitualmente nos indigna acha em nós um eco último de simpatia e estima. Incita-nos a rechaçá-la criando uma força paralela, mas não nos inspira asco. Dir-se-ia que nos sublevam estes ou os outros efeitos da violência; porém ela mesma nos parece um sintoma de saúde, um magnífico atributo do ser vivente, e compreendemos que o grego a divinizasse em Hércules.”
Discutindo o fato de que os antigos gregos expressavam um certo desprezo pelas mulheres, acaba por concluir que estas acabaram se masculinizando:
“A Vênus de Milo é uma figura másculo-feminil, uma espécie de atleta com seios. E é um exemplo de cômica insinceridade que tenha sido proposta tal imagem ao entusiasmo dos europeus durante o século XIX, quando mais ébrios viviam de romanticismo e de fervor pela pura, extrema feminilidade. O cânone da arte grega ficou inscrito nas formas do moço desportista, e quando isto não lhe bastou preferiu sonhar com o hermafrodita.”
Sobre a guerra, chega a afirmar:
“O pacifismo está perdido e converte-se em nula beateria se não tem presente que a guerra é uma genial e formidável técnica de vida e para a vida.”
Sua interpretação do modelo escravista é bastante sugestiva:
“Do mesmo modo, costumamos, sem mais reflexão, maldizer da escravidão, não advertindo o maravilhoso progresso que representou quando foi inventada. Porque antes o que se fazia era matar os vencidos. Foi um gênio benfeitor da humanidade o primeiro que ideou, em vez de matar os prisioneiros, conservar-lhes a vida e aproveitar seu labor.”
São essas aparentes contradições que estimulam nosso espírito crítico. Ortega defendeu suas concepções com vigor, fundamentos sólidos e uma lógica irreprensível. Em poucos momentos foi totalmente conclusivo, mas deixou uma enorme abertura para que possamos repensar as idéias que defendeu em seus dias, adaptando-as ao nosso tempo e ao que viveremos no futuro.
BIOGRAFIA DO AUTOR
![[imagem]](imagens/ortega2.jpg)
José Ortega y Gasset nasceu em Madrid, a 9 de maio de 1883. A família de sua mãe era proprietária do jornal madrilenho “El Imparcial” e seu pai jornalista e diretor desse mesmo diário.
Essa relação com o jornalismo foi essencial para o desenvolvimento de sua formação intelectual e seu estilo de expressão literária. Grande parte de seus escritos filosóficos foram produzidos a partir do contato com a imprensa. Ortega, além de considerado um dos maiores filósofos da língua espanhola também é lembrado como uma das maiores figuras do jornalismo espanhol do século XX.
Tendo adquirido as primeiras letras em Madrid foi enviado a cursar o bacharelado em um colégio jesuíta de Málaga. Embora reconhecendo o valor da educação jesuítica recebida, reagiu contra os tênues fundamentos da ciência adquirida, formulando um projeto pessoal de reforma da filosofia européia.
Terminando os estudos em Málaga iniciou seus estudos universitários em Deusto e depois na Universidade de Madrid, onde se doutorou em Filosofia. Buscando uma formação intelectual mais sólida continuou seus estudos em Marburgo, na Alemanha, onde prevalecia o neokantismo. Acabou por adotar uma atitude crítica em relação aos seus mestres e a Kant, que se refletiu na afirmação: “Durante dez anos vivi no mundo do pensamento kantiano: eu o respirei com a uma atmosfera que foi, ao mesmo tempo, minha casa e minha prisão (...) Com grande esforço, consegui evadir-me da prisão kantiana e escapei de sua influência atmosférica.”
A partir de 1910 iniciou uma vida pública repartida entre a docência universitária e atividades políticas e culturais extra acadêmicas.
Com o início da guerra civil espanhola, em julho de 1936, Ortega decidiu andar pelo mundo, viajando à França, Holanda, Argentina, Portugal, países onde proferiu inúmeras conferências.
Suas obras se revestem de um caráter extremamente crítico, as mais polêmicas das quais foram: “Meditaciones del Quijote”, “Que és filosofia?”, “En torno a Galileo”, “Historia como sistema”, “Rebelión de las masas”, “Obras Completas”. Foi também co-fundador do diário “El Sol” e fundador e diretor da “Revista de Occidente”.
Faleceu em Madrid no dia 18 de outubro de 1955.
PRÓLOGO PARA FRANCESES
I
Este livro — supondo que seja um livro — data... Começou a ser publicado num jornal madrilenho em 1926, e o assunto de que trata é demasiado humano para que pudesse escapar à ação do tempo. Há sobretudo épocas em que a realidade humana, sempre instável, se precipita em velocidade vertiginosa. Nossa época é dessa classe porque é de descidas e quedas. Daí que os fatos ultrapassaram o livro. Muito do que nele se enuncia foi logo um presente e já é um passado. Além disso, como este livro circulou muito durante estes anos fora da França, não poucas de suas fórmulas chegaram ao leitor francês por vias anônimas e são puro lugar comum. Teria sido, pois, excelente ocasião para praticar a obra de caridade mais adequada a nosso tempo: não publicar livros supérfluos. Eu fiz tudo que me foi possível em tal sentido — vai para cinco anos a Casa Stock me propôs a sua versão —; mas me fizeram ver que o organismo das idéias enunciadas nestas páginas não corresponde ao leitor francês, e que, acertada ou erroneamente, seria útil submetê-lo a sua meditação e a sua crítica.
Não estou convencido disso, mas não há motivo para formalismo. Importa-me, entretanto, que não entre na sua leitura com ilusões injustificadas. Conste, pois, que se trata simplesmente de uma série de artigos publicados num jornal madrilenho de grande circulação. Como quase tudo que escrevi, estas foram páginas escritas para uns quantos espanhóis que o destino colocou à minha frente. Não é sobremodo improvável que minhas palavras, mudando agora de destinatário, consigam dizer aos franceses o que elas pretendem exprimir. Não posso esperar melhor sorte quando estou persuadido de que falar é uma operação muito mais ilusória do que se supõe, certamente, como quase tudo que o homem faz. Definimos a linguagem como o meio de que nos servimos para manifestar nossos pensamentos. Mas uma definição, se é verídica, é irônica, encerra tácitas reservas, e quando não a interpretamos assim, produz funestos resultados. Assim esta. O de menos é que a linguagem sirva também para ocultar nossos pensamentos, para mentir. A mentira seria impossível se o falar primário e normal não fosse sincero. A moeda falsa circula apoiada na verdadeira. No final das contas, o engano vem a ser um humilde parasita da ingenuidade.
Não; o mais perigoso daquela definição é o acréscimo otimista com que costumamos escutá-la. Porque ela mesma não nos assegura que mediante a linguagem possamos manifestar, com suficiente justeza, todos os nossos pensamentos. Não se arrisca a tanto, mas tampouco nos faz ver francamente a verdade estrita: que sendo ao homem impossível entender-se com seus semelhantes, estando condenado à radical solidão, esgota-se em esforços para chegar ao próximo. Desses esforços é a linguagem que consegue às vezes declarar com maior aproximação algumas das coisas que acontecem dentro de nós. Apenas. Mas, habitualmente, não usamos estas reservas. Ao contrário, quando o homem se põe a falar, isto faz porque crê que vai poder dizer tudo que pensa. Pois bem, isso é o ilusório. A linguagem não dá para tanto. Diz, mais ou menos, uma parte do que pensamos e põe uma barreira infranqueável à transfusão do resto. Serve bastantemente para enunciados e provas matemáticas; já ao falar de física começa a ser equívoco e insuficiente. Porém quanto mais a conversação se ocupa de temas mais importantes que esses, mais humanos, mais “reais”, tanto mais aumenta sua imprecisão, sua inépcia e seu confusionismo. Dóceis ao prejuízo inveterado de que falando nos entendemos, dizemos e ouvimos com tão boa fé que acabamos muitas vezes por não nos entendermos, muito mais do que se, mudos, procurássemos adivinhar-nos.
Esquece-se demasiadamente que todo autêntico dizer não só diz algo, como diz alguém a alguém. Em todo dizer há um emissor e um receptor, os quais não são indiferentes ao significado das palavras. Este varia quando aquelas variam. Duo si idem dicunt non est idem. Todo vocábulo é ocasional(l). A linguagem é por essência diálogo, e todas as outras formas do falar destituem sua eficácia. Por isso eu creio que um livro só é bom na medida em que nos traz um diálogo latente, em que sentimos que o autor sabe imaginar concretamente seu leitor e este percebe como se dentre as linhas saísse u’a mão ectoplástica que tateia sua pessoa, que quer acariciá-la — ou bem, mui cortesmente, dar-lhe um murro.
Abusou-se da palavra e por isso ela caiu em desgraça. Como em tantas outras coisas, o abuso aqui consistiu no uso sem preocupação, sem consciência da limitação do instrumento. Há quase dois séculos que se acredita que falar era falar urbi et orbi, isto é, a todos e a ninguém. Eu detesto essa maneira de falar e sofro quando não sei concretamente a quem falo.
Contam, sem insistir demasiado sobre a realidade do fato, que quando se celebrou o jubileu de Victor Hugo foi organizada uma grande festa no palácio do Elíseo, da qual participaram, levando suas homenagens, representações de todas as nações. O grande poeta achava-se na grande sala de recepção, em solene atitude de estátua, com o cotovelo apoiado no rebordo de uma chaminé. Os representantes das nações adiantavam-se ao público e apresentavam sua homenagem ao vate da França. Um porteiro, com voz estentórica, anunciava-os:
“Monsieur le Représentant de l’Anglaterre!” E Victor Hugo, com voz de dramático trêmulo, virando os olhos, dizia: “L’Anglaterre! Ah, Shakespeare!” O porteiro continuou: “Monsieur le Représentant de l’Espagne”! E Victor Hugo: “L’Espagne! Ah, Cervantes!” O porteiro: “Monsieur le Représentant de L’Allemagne!” E Victor Hugo: “L’Allemagne! Ah, Goethe!”
Mas então chegou a vez de um senhor baixo, atarracado, balofo e de andar desgracioso. O porteiro exclamou: “Monsieur le Représentant de la Mésopotamie!”
Victor Hugo, que até então permanecera impertérrito e seguro de si mesmo, pareceu vacilar. Suas pupilas, ansiosas, fizeram um grande giro circular como procurando em todo o cosmos algo que não encontrava. Mas logo se viu que o achara e que recobrara o domínio da situação. Efetivamente, com o mesmo tom patético, com a mesma convicção, respondeu à homenagem do rotundo senhor dizendo: “La Mésopotamie! Ah, L’Humanité!”
Contei isso a fim de declarar, sem a solenidade de Victor Hugo, que não escrevi nem falei à Mesopotâmia, e nunca me dirigi à Humanidade. Esse costume de falar para a Humanidade, que é a forma mais sublime, e, portanto, a mais desprezível da demagogia, foi adotada até 1750 por intelectuais desajustados, ignorantes de seus próprios limites e que sendo, por seu ofício, os homens do dizer, do logos, usaram dele sem respeito e precauções, sem perceberem que a palavra é um sacramento de mui delicada administração.
II
Esta tese que sustenta a exiguidade do raio de ação eficazmente concedido à palavra, podia parecer invalidada pelo fato mesmo de que este volume tenha encontrado leitores em quase todas as línguas da Europa. Eu creio, todavia, que este fato é de preferência sintoma de outra coisa, de outra grave coisa: da pavorosa homogeneidade de situações em que vai caindo todo o Ocidente. Desde o aparecimento deste livro, pela mecânica que nele mesmo se descreve, essa identidade cresceu de modo angustioso. Digo angustioso porque, realmente, o que em cada país é sentido como circunstância dolorosa, multiplica ao infinito seu efeito deprimente quando quem o sofre adverte que apenas há lugar no continente onde não aconteça estritamente o mesmo, Outrora podia ventilar-se a atmosfera confinada de um país abrindo-se as janelas que dão para outro. Mas agora esse expediente não serve de nada, porque em outro país a atmosfera é tão irrespirável como no próprio. Daí a sensação opressora de asfixia. Job, que era um terrível pince-sans-rire, pergunta a seus amigos, os viajores e mercadores que rodaram pelo mundo: Unde sapientia venit et quis est locus intelligentiae? “Sabeis de algum lugar do mundo onde a inteligência exista?”
Convém, entretanto, que nessa progressiva assimilação das circunstâncias distingamos duas dimensões diferentes e de valor contraposto.
Este enxame de povos ocidentais que alçou vôo sobre a história desde as ruínas do mundo antigo, caracterizou-se sempre por uma forma dual de vida. Pois aconteceu que à medida que cada um ia formando seu gênio peculiar, entre eles ou sobre eles se ia criando um repertório de idéias, maneiras e entusiasmos. Mais ainda. Este destino que os fazia, a par, progressivamente homogêneos e progressivamente diversos, há de entender-se com certo superlativo de paradoxo. Porque neles a homogeneidade não foi alheia à diversidade. Pelo contrário: cada novo princípio uniforme fertilizava a diversificação. A idéia cristã engendra as igrejas nacionais; a lembrança do Imperium romano inspira as diversas formas do Estado; a “restauração das letras” no século XV impele as literaturas divergentes; a ciência e o princípio unitário do homem como “razão pura” cria os distintos estilos intelectuais que modelam diferencialmente até as extremas abstrações da obra matemática. Finalmente e para cúmulo: até a extravagante idéia do século XVIII, segundo a qual todos os povos hão de ter uma constituição idêntica, produz o efeito de despertar romanticamente a consciência diferencial das nacionalidades, que vem a ser como estimular em cada um sua vocação particular.
E é que para esses povos chamados europeus, viver sempre foi — claramente desde o século XI, desde Óton III — mover-se e atuar em um espaço ou âmbito comum. Isto é, que para cada um viver era conviver com os demais. Esta convivência tomava indiferentemente aspecto pacífico ou combativo. As guerras inter-européias mostraram quase sempre um curioso estilo que as faz parecer muito com as altercações domésticas. Evitam a aniquilação do inimigo, e são verdadeiros certames, lutas de emulação, como as dos jovens numa aldeia ou disputas de herdeiros pela partilha de um legado familiar. Um pouco de outro modo, todos vão ao mesmo. Eadem sed aliter. Como Carlos V dizia de Francisco I: “Meu primo Francisco e eu estamos de perfeito acordo: ambos queremos Milão”.
É de somenos importância que a esse espaço histórico comum, onde todos os povos do Ocidente se sentiam como em sua casa, corresponda um espaço físico que a geografia denomina Europa. O espaço histórico a que aludo mede-se pelo raio de efetiva e prolongada convivência — é um espaço social. Ora, convivência e sociedade são termos equivalentes. Sociedade é o que se produz automaticamente pelo simples fato da convivência. De sua essência e inelutavelmente esta segrega costumes, usos, línguas, direito, poder público. Um dos mais graves erros do pensamento “moderno”, cujas salpicaduras ainda padecemos, tem sido confundir a sociedade com a associação, que é, aproximadamente, o contrário daquela. Uma sociedade não se constitui do acordo das vontades. Ao contrário, todo acordo de vontades pressupõe a existência de uma sociedade, de pessoas que convivem, e o acordo não pode consistir senão em precisar uma ou outra forma dessa convivência, dessa sociedade preexistente. A idéia da sociedade como reunião contratual, portanto jurídica, é o mais insensato ensaio que se fez de pôr o carro adiante dos bois. Porque o direito, a realidade “direito” — não as idéias sobre ele do filósofo, jurista ou demagogo — é, se me permitem a expressão barroca, secreção espontânea da sociedade e não pode ser outra coisa. Querer que o direito reja as relações entre seres que previamente não vivem em efetiva sociedade, parece-me — perdoe-se-me a insolência — ter uma idéia muito confusa do que é o direito.
Não deve estranhar, por outra parte, a preponderância dessa opinião confusa e ridícula sobre o direito, porque uma das máximas desditas do tempo é que, ao toparem os povos do Ocidente com os terríveis conflitos públicos do presente, se encontraram aparelhados com instrumental arcaico e ineficiente de noções sobre o que é sociedade, coletividade, indivíduo, usos, lei, justiça, revolução, etc. Boa parte da inquietação atual provém da incongruência entre a perfeição de nossas idéias sobre os fenômenos físicos e o atraso escandaloso das “ciências morais”. O ministro, o professor, o físico ilustre e o novelista soem ter dessas coisas conceitos dignos de um barbeiro suburbano. Não é perfeitamente natural que seja o barbeiro suburbano quem dê a tonalidade do tempo?(2)
Mas voltemos a nossa rota. Queria insinuar que os povos europeus são há muito tempo uma sociedade, uma coletividade, no mesmo sentido que têm estas palavras aplicadas a cada uma das nações que a integram. Essa sociedade manifesta todos os atributos possíveis: há costumes europeus, usos europeus, opinião pública européia, direito europeu, poder público europeu. Mas todos esses fenômenos sociais se dão na forma adequada ao estado de evolução em que se encontra a sociedade européia, que não é, evidentemente, tão avançado como o de seus membros componentes, as nações.
Por exemplo: a forma de pressão social que é o poder público funciona em toda sociedade, inclusive naquelas primitivas em que não existe ainda um organismo especial encarregado de manejá-lo. Se a esse órgão diferenciado a quem se entrega o exercício do poder público se quer chamar Estado, diga-se que em certas sociedades não há Estado, mas não se diga que nelas não há poder público. Onde há opinião pública, como poderá faltar um poder público se este não é mais que a violência coletiva suscitada por aquela opinião? Ora bem, que há séculos e com intensidade crescente existe uma opinião pública européia e até uma técnica para influir nela — é incômodo negá-lo.
Por isso, recomendo ao leitor que poupe a malignidade de um sorriso ao deparar que nos últimos capítulos deste volume se faz com certo denodo, ante o cariz oposto das aparências atuais, a afirmação de uma possível, de uma provável unidade estatal da Europa. Não nego que os Estados Unidos da Europa são uma das fantasias mais módicas que existem e não me solidarizo com o que os outros pensaram sob esses signos verbais. Mas, por outra parte, é sumamente improvável que uma sociedade, uma coletividade tão madura como a que já formam os povos europeus, ande longe de criar para si seu artefato estatal mediante o qual formalize o exercício do poder público europeu já existente. Não é, pois, debilidade ante as solicitações da fantasia nem propensão a um “idealismo” que detesto, e contra o qual hei pugnado toda a minha vida, o que me leva a pensar assim. Foi o realismo histórico que me ensinou a ver que a unidade da Europa como sociedade não é um “ideal”, mas um fato de velhíssima cotidianidade. Ora bem, uma vez que se viu isso, a probabilidade de um Estado geral europeu impõe-se necessariamente. A ocasião que leve subitamente a término o processo pode ser qualquer, por exemplo, a cólera de um chinês que apareça pelos Urais ou uma sacudida do grande magma islâmico.
A figura desse Estado super-nacional será, é claro, muito diferente das usadas, como, segundo nesses mesmos capítulos se tenta mostrar, foi muito diferente o Estado nacional do Estado-cidade que os antigos conheceram. Eu procurei nestas páginas pôr em franquia as mentes para que saibam ser fiéis à sutil concepção do Estado e sociedade que a tradição européia nos propõe.
Nunca foi fácil ao pensamento greco-romano conceber a realidade como dinamismo. Não podia desprender-se do visível ou seus sucedâneos, como um menino não entende do livro senão as ilustrações. Todos os esforços de seus filósofos autóctones para transcender essa limitação foram vãos. Em todos os seus ensaios para compreender atua, mais ou menos, como paradigma, o objeto corporal, que é, para eles, a “coisa” por excelência. Só conseguem ver uma sociedade, um Estado onde a unidade tenha caráter de continuidade visual; por exemplo, uma cidade. A vocação mental do europeu é oposta. Toda coisa visível lhe parece, como tal, simples máscara aparente de uma força latente que a está constantemente produzindo e que é sua verdadeira realidade. Ali onde a força, a dynamis, atua unitariamente, há real unidade, embora à vista se nos apareçam como manifestação dela apenas coisas diversas.
Seria recair na limitação antiga não descobrir unidade de poder público apenas onde este tomou máscaras já conhecidas e como solidificadas de Estado; isto é, nas nações particulares da Europa. Nego redondamente que o poder público decisivo atuante em cada uma delas consista exclusivamente em seu poder público interior ou nacional. Convém cair de uma vez na compreensão de que há muitos séculos — e com consciência disso há quatro — vivem todos os povos da Europa submetidos a um poder público que por sua própria pureza dinâmica não tolera outra denominação que a extraída da ciência mecânica: o “equilíbrio europeu” ou balance of Power.
Esse é o autêntico governo da Europa que regula em seu vôo pela história o enxame de povos, solícitos e pugnazes como abelhas, escapados às ruínas do mundo antigo. A unidade da Europa não é uma fantasia, mas de fato a própria realidade, e a fantasia é precisamente a crença de que a França, a Alemanha, a Itália ou a Espanha são realidades substantivas e independentes.
Compreende-se, entretanto, que nem todo o mundo perceba com evidência a realidade da Europa, porque a Europa não é uma “coisa”, mas um equilíbrio. Já no século XVIII o historiador Robertson qualificou o equilíbrio europeu de the great secret of modern politics.
Segredo grande e paradoxal, sem dúvida! Porque o equilíbrio ou balança de poderes é uma realidade que consiste essencialmente na existência de uma pluralidade. Se essa pluralidade se perde, aquela unidade dinâmica se desvaneceria. A Europa é, com efeito, enxame; muitas abelhas e um só vôo.
Esse caráter unitário da magnífica pluralidade européia é o a que eu chamaria boa homogeneidade, a que é fecunda e desejável, a que fazia Montesquieu dizer: L’Europe n’est qu’une nation composée de plusieurs,(3) e Balzac, mais romanticamente, falava da grande famille continentale, dont tous les efforts tendent à je ne sais quel mystère de civilisation.(4)
III
Esta multidão de modos europeus que brotam constantemente de sua radical unidade e reverte a ela mantendo-a, é o maior tesouro do Ocidente. Os homens de cabeças toscas não conseguem congeminar uma idéia tão acrobática como esta em que é preciso saltar, sem descanso, da afirmação da pluralidade ao reconhecimento da unidade e vice-versa. São cabeças pesadas nascidas para existir sob as perpétuas tiranias do Oriente.
Triunfa hoje sobre toda a área continental uma forma de homogeneidade que ameaça consumir completamente aquele tesouro. Onde quer que tenha surgido o homem-massa de que este volume se ocupa, um tipo de homem feito de pressa, montado tão somente numas quantas e pobres abstrações e que, por isso mesmo, é idêntico em qualquer parte da Europa. A ele se deve o triste aspecto de asfixiante monotonia que vai tomando a vida em todo o continente. Esse homem-massa é o homem previamente despojado de sua própria história, sem entranhas de passado e, por isso mesmo, dócil a todas as disciplinas chamadas “internacionais”. Mais do que um homem, é apenas uma carcaça de homem constituído por meros idola fori; carece de um “dentro”, de uma intimidade sua, inexorável e inalienável, de um eu que não se possa revogar. Daí estar sempre em disponibilidade para fingir ser qualquer coisa. Tem só apetites, crê que só tem direitos e não crê que tem obrigações: é o homem sem nobreza que obriga — sine nobilitate — snob.(5)
Este universal snobismo, que tão claramente aparece, por exemplo, no operário atual, cegou as almas para compreender que, embora toda estrutura dada da vida continental tenha de ser transcendida, tudo isso há de se fazer sem perda grave de sua interior pluralidade. Como o snob está vazio de destino próprio, como não sabe que existe sobre o planeta para fazer algo determinado e impermutável, é incapaz de entender que há missões particulares e mensagens especiais. Por essa razão é hostil ao liberalismo, com uma hostilidade que se assemelha à do surdo em relação à palavra. A liberdade significou sempre na Europa franquia para ser o que autenticamente somos. Compreende-se que aspire a prescindir dela quem sabe que não tem autêntico mister.
Com estranha facilidade todo o mundo se colocou de acordo para combater e injuriar o velho liberalismo. A coisa é suspeita. Porque as pessoas não costumam pôr-se de acordo a não ser em coisas um pouco velhacas ou um pouco tolas. Não pretendo que o velho liberalismo seja uma idéia plenamente razoável: como pode ser se é velho e se é ismo! Mas sim penso que é uma doutrina sobre a sociedade muito mais profunda e clara do que supõem seus detratores coletivistas, que começam por desconhecê-lo. Ademais, há nele uma intuição do que a Europa tem sido, altamente perspicaz.
Quando Guizot, por exemplo, contrapõe a civilização européia às demais fazendo notar que nela não triunfou nunca em forma absoluta nenhum princípio, nenhuma idéia, nenhum grupo ou classe, e que a isso se deve o seu crescimento permanente e seu caráter progressivo, não podemos deixar de pôr o ouvido atento(6). Este homem sabe o que diz. A expressão é insuficiente porque é negativa, mas suas palavras chegam-nos carregadas de visões imediatas. Como do mergulhador emergente transcendem olores abismais, vemos que este homem chega efetivamente do profundo passado da Europa onde soube submergir. É, com efeito, incrível que nos primeiros anos do século XIX, tempo retórico e de grande confusão, se tenha composto um livro como a Histoire de la Civilisation en Europe. Todavia o homem de hoje pode aprender ali como a liberdade e o pluralismo são duas coisas recíprocas e como ambas constituem a permanente entranha da Europa.
Mas Guizot teve sempre péssima publicidade, como em geral, os doutrinários. Não me surpreendo. Quando vejo que para um homem ou grupo se dirige fácil e insistente o aplauso, surge em mim a veemente suspeita de que nesse homem ou nesse grupo, talvez junto a dotes excelentes, há algo sobremodo impuro. Talvez isto seja um erro em que incorro, mas devo dizer que não o procurei, que o foi dentro de mim decantando a experiência. De qualquer maneira, quero ter a coragem de afirmar que este grupo de doutrinários, de quem todo o mundo riu e fez mofas truanescas, é, a meu ver, o mais valioso que houve na política do continente durante o século XIX. Foram os únicos que viram claramente o que havia que fazer na Europa depois da Grande Revolução, e foram além disso homens que criaram em suas pessoas uma atitude digna e distante, no meio da rusticidade e da frivolidade crescente daquele século. Rotas e sem vigência quase todas as normas com que a sociedade presta uma continência ao indivíduo, não podia este constituir-se uma dignidade se não a extraía do fundo de si mesmo. Mal pode fazer-se isso sem alguma exageração, ainda que seja somente para se defender do abandono orgiástico em que vivia seu contorno. Guizot soube ser, como Buster Keaton, o homem que não ri(7). Não se abandona jamais. Condensam-se nele várias gerações de protestantes nimeses que haviam vivido em alerta perpétuo, sem poder flutuar à deriva no ambiente social, sem poder abandonar-se. Havia chegado a converter-se neles em um instinto a impressão radical de que existir é resistir, fincar os calcanhares no chão para se opor à correnteza. Numa época como a nossa, é bom tomar contacto com os homens que não “se deixam levar”. Os doutrinários são um caso excepcional de responsabilidade intelectual; quer dizer, do que mais tem faltado aos intelectuais europeus desde 1750, defeito que é, por sua vez, uma das causas profundas do presente desconcerto
Mas eu não sei se, ainda que me dirigindo a leitores franceses, Posso aludir ao doutrinarismo como a uma magnitude conhecida. Pois se dá o fato escandaloso de que não existe um só livro onde se tenha tentado precisar o que aquele grupo de homens pensava,(8) como, ainda que pareça incrível, não há tampouco um livro medianamente formal sobre Guizot nem sobre Royer-Collard(9). É verdade que nem um nem o outro publicaram jamais um soneto. Mas, enfim, pensaram profundamente, originalmente, sobre os problemas mais graves da vida pública européia, e constituíram o doutrinal político mais estimável de toda a centúria. Nem será possível reconstruir a história desta se não se estabelece intimidade com o modo em que se apresentaram as grandes questões ante estes homens(10), Seu estilo intelectual não é só diferente em espécie, mas o é de outro gênero e de outra essência em face de todos os demais triunfantes na Europa antes e depois deles. Por isso não os entenderam, apesar da sua clássica lucidez. E, todavia, é muito possível que o porvir pertença a tendências de intelecto muito semelhantes às suas. Pelo menos, asseguro a quem se proponha formular com rigor sistemático as idéias dos doutrinários, prazeres de pensamento não esperados e uma intuição da realidade social e política totalmente diferente das usadas. Perdura neles ativa a melhor tradição racionalista em que o homem se compromete consigo mesmo a procurar coisas absolutas; mas diferentemente do racionalismo linfático de enciclopedistas e revolucionários, que encontram o absoluto em abstrações bon marché, descobrem eles o histórico com o verdadeiro absoluto. A história é a realidade do homem. Não tem outra. Nela chegou a fazer-se tal e como é. Negar o passado é absurdo e ilusório, porque o passado é “o natural do homem que volta a galope”. O passado não está presente e não teve o trabalho de acontecer para que o neguemos, mas para que o integremos(11). Os doutrinários desprezavam os “direitos do homem” porque são absolutamente “metafísicos”, abstrações e irrealidades. Os verdadeiros direitos são os que absolutamente estão aí, porque foram aparecendo e se consolidando na história: tais são as “liberdades”, a legitimidade, a magistratura, as “capacidades”. Se alentassem hoje reconheceriam o direito de greve (não política) e o contrato coletivo. A um inglês tudo isso pareceria óbvio; mas os continentais ainda não chegamos a essa estação. Talvez desde o tempo de Alcuino tenhamos vivido cinqüenta anos pelo menos atrasados a respeito dos ingleses.
Igual desconhecimento do velho liberalismo sentem os coletivistas de agora quando supõem, nem mais nem menos, como coisa inquestionável, que era individualista. Em todos estes temas andam, como eu disse, as noções sobremodo turvas. Os russos desses anos passados costumavam chamar a Rússia de “o coletivo”. Não seria interessante averiguar que idéias ou imagens se espreguiçavam à invocação deste vocábulo na mente um tanto gasosa do homem russo que tão freqüentemente, como o capitão italiano de que falava Goethe, bisogna aver una confusione nella testa? Diante disso tudo eu rogaria ao leitor que tomasse em conta, não para aceitá-las, mas para que sejam discutidas e passem depois à sentença, as seguintes teses:
Primeira: o liberalismo individualista pertence à flora do século XVIII; inspira, em parte, a legislação da Revolução francesa, mas morre com ela.
Segunda: a criação característica do século XIX foi precisamente o coletivismo, É a primeira idéia que inventa apenas nascido e que ao longo de cem anos não fez senão crescer até inundar todo o horizonte.
Terceira: esta idéia é de origem francesa. Aparece pela primeira vez nos arquireacionários de Bonald e de Maistre. No essencial é imediatamente aceita por todos, sem outra exceção que não seja Benjamim Constant, um “atrasado” do século anterior. Mas triunfa em Saint-Simon, em Ballanche, em Comte e pulula por toda a parte(12). Por exemplo: um médico de Lyon, M. Amard, falará em 1821 do collectivisme em face do personnalisme(13). Leiam-se os artigos que em 1830 e 1831 publica L’Avenir contra o individualismo.
Mais importante, porém, que tudo isso é outra coisa. Quando, avançando pela centúria, chegamos aos grandes teorizadores do liberalismo — Stuart Mill ou Spencer — surpreende-nos que sua suposta defesa não se baseia em mostrar que a liberdade beneficia ou interessa a este, mas pelo contrário, em que interessa e beneficia à sociedade. O aspecto agressivo do título que Spencer escolhe para seu livro — O indivíduo contra o Estado — tem sido causa de que o não entendam teimosamente os que não lêem dos livros senão os títulos, Porque indivíduo e Estado significam nesse titulo dois meros órgãos de um único sujeito — a sociedade. E o que se discute é se certas necessidades sociais são melhor servidas por um ou pelo outro órgão. Nada mais. O famoso “individualismo” de Spencer boxeia continuamente dentro da atmosfera coletivista de sua sociologia. O resultado, no final, é que tanto ele como Stuart Mill tratam os indivíduos com a mesma crueldade socializante com que os termitas a certos de seus congêneres, os quais cevam para depois chupar-lhes a substância. Até esse ponto era a primazia do coletivo o fundo por si mesmo evidente sobre o qual ingenuamente dançavam suas idéias!
De onde se infere que minha defesa lohengrinesca do velho liberalismo é, completamente, desinteressada e gratuita. Porque o caso é que eu não sou um “velho liberal”. O descobrimento — sem dúvida glorioso e essencial — do social, do coletivo, era demasiado recente. Aqueles homens apalpavam, mais do que viam, o fato de que a coletividade é uma realidade diferente dos indivíduos e de sua simples soma, mas não sabiam bem em que consistia e quais eram seus efetivos atributos. Por outra parte, os fenômenos sociais do tempo camuflavam a verdadeira economia da coletividade, porque então convinha a esta ocupar-se em cevar bem os indivíduos. Não chegara ainda a hora da nivelação, da espoliação e da partilha em todas as ordens.
Daí que os “velhos liberais” se abrissem sem suficientes precauções ao coletivismo que respiravam. Mas quando se viu com clareza o que no fenômeno social, no fato coletivo, simplesmente e como tal, há por um lado de benefício, porém, por outro, de terrível, de pavoroso, só se pode aderir ao liberalismo de estilo radicalmente novo, menos ingênuo e de mais destra beligerância, um liberalismo que está germinando já, próximo a florescer, na linha mesma do horizonte.
Nem era possível que sendo estes homens, como eram, fartamente perspicazes, não entrevissem de quando em quando as angústias que seu tempo nos reservava. Contra o que sói acreditar-se tem sido normal na história que o porvir seja profetizado(14). Em Macaulay, em Tocqueville, em Comte, encontramos pré-desenhada nossa hora. Veja-se, por exemplo, o que há mais de oitenta anos escrevia Stuart Mill: “À parte as doutrinas particulares de pensadores individuais, existe no mundo uma forte e crescente inclinação a estender em forma extrema o poder da sociedade sobre o indivíduo, tanto por meio da força da opinião como pela legislativa. Ora bem, como todas as mudanças que se operam no mundo têm por efeito o aumento da força social e a diminuição do poder individual, este desbordamento não é um mal que tenda a desaparecer espontaneamente, mas, ao contrário, tende a fazer-se cada vez mais formidável. A disposição dos homens, seja como soberanos, seja como concidadãos, a impor aos demais como regra de conduta sua opinião e seus gostos, se acha tão energicamente sustentada por alguns dos melhores e alguns dos piores sentimentos inerentes à natureza humana, que quase nunca se reprime senão quando lhe falta poder. E como o poder não parece achar-se em via de declinar, mas de crescer, devemos esperar, a menos que uma forte barreira de convicção moral não se eleve contra o mal, devemos esperar, digo, que nas condições presentes do mundo esta disposição nada fará senão aumentar”(15).
Mas o que mais nos interessa em Stuart Mill é sua preocupação pela homogeneidade de má classe que via crescer em todo o Ocidente. Isso o faz acolher-se a um grande pensamento emitido por Humboldt na sua juventude. Para que o humano se enriqueça, se consolide e se aperfeiçoe é necessário, segundo Humboldt, que exista “variedade de situações”(16). Dentro de cada nação, e tomando em conjunto as nações, é preciso que se dêem circunstâncias diferentes. Assim, ao falhar uma restam outras possibilidades abertas. E insensato pôr a vida européia numa só carta, num só tipo de homem, numa idêntica “situação”. Evitar isso tem sido o secreto acerto da Europa até hoje, e a consciência desse segredo é a que, clara ou balbuciante, moveu sempre os lábios do perene liberalismo europeu. Nessa consciência se reconhece a si mesma como valor positivo, como bem e não como mal, a pluralidade continental. Importava-me esclarecer isso para que não se tergiverse a idéia de uma superação européia que este volume postula.
Tal e como vamos, com a míngua progressiva da “variedade de situações”, caminhamos em linha reta para o Baixo Império. Também foi aquele um tempo de massa e de pavorosa homogeneidade. Já no tempo dos Antoninos se nota claramente um estranho fenômeno, menos sublinhado e analisado do que devera: os homens tornaram-se estúpidos, O processo vinha de tempos atrás. Disse-se, com alguma razão, que o estóico Possidônio, mestre de Cícero, é o último homem antigo capaz de se colocar ante os fatos com a mente porosa e ativa, disposto a investigá-los. Depois dele, as cabeças se obliteram, e salvo os Alexandrinos, não farão outra coisa senão repetir, estereotipar.
Mas o sistema e documento mais terrível desta forma, a um tempo homogênea e estúpida — e uma eqüivale à outra — que adota a vida de um a outro extremo do Império, está onde menos se podia esperar e onde todavia, que eu saiba, ninguém o procurou: no idioma. A língua, que não nos serve para dizer suficientemente o que cada um de nós quiséramos dizer, revela pelo contrário e grita, sem que o queiramos, a condição mais arcana da sociedade que a fala. Na porção mais helenizada do povo romano, a língua vigente é a que se chamou “latim vulgar”, matriz de nossos romances. Não se conhece bem este latim vulgar e, em boa parte, só se chega a ele mediante reconstruções. Mas o que se conhece basta e sobra para que nos espantem dois de seus caracteres. Um é a incrível simplificação do seu mecanismo gramatical em comparação com o latim clássico. A saborosa complexidade indo-européia, que conservava a linguagem das classes superiores, ficou suplantada por uma fala plebéia, de mecanismo muito fácil, porém, ao mesmo tempo, ou por isso mesmo, pesadamente mecânico, como material; gramática balbuciante e perifrástica, de ensaio e rodeio como a infantil. E, efetivamente, uma língua pueril ou gaga que não permite a fina aresta do raciocínio nem líricas cambiantes. É uma língua sem luz nem temperatura, sem evidência e sem calor de alma, uma língua triste, que avança às cegas. Os vocábulos parecem velhas moedas de cobre, imundas e sem rotundidade, como fartas de rolar pelas tabernas mediterrâneas. Que vidas evadidas de si mesmas, desoladas, condenadas à eterna cotidianidade se adivinham atrás desse seco artefato lingüístico!
O outro caráter aterrador do latim vulgar é precisamente sua homogeneidade. Os lingüistas, que são talvez, depois dos aviadores, os homens menos dispostos a assustar-se com coisa alguma, não parecem admirar-se ante o fato de que falassem da mesma maneira países tão díspares como Cartago e Gália, Tingitânia e Dalmácia, Hispânia e Rumânia. Eu, pelo contrário, que sou bastante tímido, que tremo quando vejo como o vento fatiga uns caniços, não posso reprimir ante esse fato um estremecimento medular. Parece-me simplesmente atroz. E verdade que trato de me representar como era por dentro isso que olhado de fora nos aparece, tranqüilamente, como homogeneidade; procuro descobrir a realidade vivente de que esse fato é a quieta marca. Consta, é claro, que havia africanismos, hispanismos, galicismos. Mas ao constar isto quer dizer-se que o torso da língua era comum e idêntico, apesar das distâncias, do escasso intercâmbio, da dificuldade de comunicações e de que não contribuía para fixá-lo uma literatura. Como podiam vir à coincidência o celtibero e o belga, o morador de Hipona e o de Lutécia, o mauritânio e o dácio, senão em virtude de um achatamento geral, reduzindo a existência à sua base, nulificando suas vidas? O latim vulgar está aí nos arquivos, como um arrepiante empedernimento, testemunho de que uma vez a história agonizou sob o império homogêneo da vulgaridade por haver desaparecido a fértil “variedade de situações”.
IV
Nem este volume nem eu somos políticos. O assunto de que aqui se fala é prévio à política e pertence a seu subsolo. Meu trabalho é obscuro labor subterrâneo de mineiro. A missão do chamado “intelectual” é, em certo modo, oposta à do político. A obra intelectual aspira, com freqüência baldada, a esclarecer um pouco as coisas, enquanto a do político sói, pelo contrário, consistir em confundi-las mais do que estavam. Ser da esquerda é, como ser da direita, uma das infinitas maneiras que o homem pode escolher para ser imbecil: ambas, com efeito, são formas da hemiplegia moral. Ademais, a persistência destes qualificativos contribui não pouco a falsificar mais ainda a “realidade” do presente, já fala de per si, porque se encrespou o crespo das experiências políticas a que respondem, como o demonstra o fato de que hoje as direitas prometem revoluções e as esquerdas propõem tiranias.
Há obrigações de trabalhar sobre as questões do tempo. Isto, sem dúvida. E eu o fiz durante toda a minha vida. Sempre estive na estacada. Mas uma das coisas que agora se dizem — uma “corrente” — é que, incluso a custo da claridade mental, todo o mundo tem de fazer política sensu stricto. Dizem-no, é claro, os que não têm outra coisa que fazer. E até o corroboram citando de Pascal o imperativo d’abêtissement. Mas há muito tempo que aprendi a ficar em guarda quando alguém cita Pascal. E uma cautela de higiene elemental.
O politicismo integral, a absorção de todas as coisas e de todo o homem pela política, é uma e mesma coisa com o fenômeno de rebelião das massas que aqui se descreve. A massa em rebeldia perdeu toda a capacidade de religião e de conhecimento. Não pode ter dentro mais que política exorbitada, frenética, fora de si, posto que pretenda suplantar o conhecimento, a religião, a sagesse — enfim, as únicas coisas que por sua substância são aptas para ocupar o centro da mente humana —. A política despoja o homem de solidão e intimidade, e por isso é a predicação do politicismo integral uma das técnicas que se usam para socializá-lo.
Quando alguém nos pergunta o que somos em política, ou, antecipando-se com a insolência que pertence ao estilo de nosso tempo, nos adscreve simultaneamente em vez de responder devemos perguntar ao impertinente que pensa ele que é o homem e a natureza e a história, que é a sociedade e o indivíduo, a coletividade, o Estado, o uso, o direito. A política apressa-se a apagar as luzes para que todos estes gatos sejam pardos.
É preciso que o pensamento europeu proporcione sobre todos estes temas nova claridade. Para isso está aí, não para fazer o leque do pavão real nas reuniões acadêmicas. E é preciso que o faça prontamente ou, como dizia Dante, que encontre a saída,
studiate il passo
Mentre que l’Occidente non s’annera.
(Purg. XXVII, 62-63)
Isso seria o único de que poderia esperar-se com alguma probabilidade a solução do tremendo problema que as massas atuais aventam.
Este volume não pretende, nem de longe, nada parecido. Como suas últimas palavras fazem constar, é só uma primeira aproximação ao problema do homem atual. Para falar sobre ele mais seriamente e mais profundamente não haveria mais remédio senão pôr-se em roupa abissal, vestir o escafandro e descer ao mais profundo do homem. Importa fazer isso sem pretensões, mas com decisão, e eu o tentei num livro próximo a aparecer em outros idiomas sob o título El hombre y la gente.
Uma vez que nos afiguramos bem de como é esse tipo humano hoje dominante, e que eu chamei o homem-massa, é quando se suscitam as interrogações mais férteis e mais dramáticas: Pode-se reformar este tipo de homem? Quero dizer: os graves defeitos que há nele, tão graves que se não os extirpamos produzirão de modo inexorável a aniquilação do Ocidente, toleram ser corrigidos? Porque, como verá o leitor, se trata precisamente de um homem hermético, que não está aberto de verdade a nenhuma instância superior.
A outra pergunta decisiva, da qual, a meu juízo, depende toda possibilidade de saúde, é esta: podem as massas, ainda que quisessem, despertar a vida pessoal? Não cabe desenvolver aqui o tremendo tema, porque está demasiado virgem. Os termos com que deve ser levantado não constam na consciência pública. Nem sequer está esboçado o estudo da distinta margem de individualidade que cada época do passado deixou à existência humana. Porque é pura inércia mental do “progressismo” supor que conforme avança a história, assim cresce a folga que se concede ao homem para poder ser indivíduo pessoal, como cria o honrado engenheiro, mas nulo historiador, Herbert Spencer. Não; a história está cheia de retrocessos nesta ordem, e talvez a estrutura da vida em nossa época impeça superlativamente que o homem possa viver como pessoa.
Ao contemplar nas grandes cidades essas imensas aglomerações de seres humanos, que vão e vêm por suas ruas ou se concentram em festivais e manifestações políticas, incorpora-se em mim, obsedante, este pensamento: Pode hoje um homem de vinte anos formar um projeto de vida que tenha figura individual e que, portanto, necessitaria realizar-se mediante suas iniciativas independentes, mediante seus esforços particulares? Ao tentar o desenvolvimento desta imagem em sua fantasia, não notará que é, senão impossível, quase improvável, porque não há a sua disposição espaço em que possa alojá-la e em que possa mover-se segundo seu próprio ditame? Logo advertirá que seu projeto tropeça com o próximo, como a vida do próximo aperta a sua. O desânimo o levará com a facilidade de adaptação própria de sua idade a renunciar não só a todo ato, como até a todo desejo pessoal e buscará a solução oposta: imaginará para si uma vida standard, composta de desiderata comuns a todos e verá que para consegui-la tem de solicitá-la ou exigi-la em coletividade com os demais. Daí a ação em massa.
A coisa é horrível, mas não creio que exagera a situação efetiva em que se vão achando quase todos os europeus. Em uma prisão onde se amontoaram muito mais presos dos que cabem, ninguém pode mover um braço ou uma perna por iniciativa própria, porque chocaria com os corpos dos demais. Em tal circunstância, os movimentos têm de se executar em comum, e até os músculos respiratórios têm de funcionar a ritmo de regulamento. Isto seria a Europa convertida em formigueiro. Mas nem sequer esta cruel imagem é uma solução. O formigueiro humano é impossível, porque foi o chamado “individualismo”, que enriqueceu o mundo e a todos no mundo e foi esta riqueza que prolificou tão fabulosamente a planta humana. Quando os restos desse “individualismo” desaparecessem, faria sua reaparição na Europa o esfomeamento gigantesco do Baixo Império, e o formigueiro sucumbiria como ao sopro de um deus torvo e vingativo. Restariam muito menos homens, que o seriam um pouco mais.
Ante o feroz patetismo desta questão que, queiramos ou não, está visível, o tema da “justiça social”, apesar de tão respeitável, empalidece e se degrada até parecer retórico e insincero suspiro romântico. Mas, ao mesmo tempo, orienta sobre os caminhos acertados para conseguir o que dessa “justiça social”, é possível e é justo conseguir, caminhos que não parecem passar por uma miserável socialização, mas dirigir-se em linha reta para um magnânimo solidarismo. Este último vocábulo é, além do mais, inoperante, porque até hoje não se condensou nele um sistema enérgico de idéias históricas e sociais, pelo contrário ressuma só vagas filantropias.
A primeira condição para um melhoramento da situação presente é perceber bem sua enorme dificuldade. Só isto nos levará a atacar o mal nos estratos fundos de onde verdadeiramente se origina. É, com efeito, muito difícil salvar uma civilização quando lhe chegou a hora de cair sob o poder dos demagogos. Os demagogos têm sido apenas os grandes estranguladores de civilizações. A grega e a romana sucumbiram nas mãos desta fauna repugnante, que fazia Macaulay exclamar: “Em todos os séculos, os exemplos mais vis da natureza humana deparam-se entre os demagogos”(17). Mas um homem não é demagogo somente porque se ponha a gritar ante a multidão. Isso pode ser em ocasiões uma magistratura sacrossanta. A demagogia essencial do demagogo está dentro de sua mente, radica em sua irresponsabilidade ante as idéias mesmas que maneja e que ele não criou, mas recebeu dos verdadeiros criadores. A demagogia é uma forma de degeneração intelectual, que como amplo fenômeno da história européia aparece na França em 1750. Por que então? Por que na França? Este é um dos pontos nevrálgicos do destino ocidental e especialmente do destino francês.
Isso é o que, desde então, crê a França, e por sua irradiação, quase todo o continente, que o método para resolver os grandes problemas humanos é o método da revolução, entendendo por tal o que já Leibnitz chamava uma “revolução geral”(18), a vontade de transformar de chofre tudo e em todos os gêneros(19). Graças a isso essa maravilha que é a França chega em más condições à difícil conjuntura do presente. Porque esse país tem ou crê que tem uma tradição revolucionária. E se ser revolucionário é já coisa grave, quanto mais sê-lo, paradoxalmente, por tradição! É verdade que na França fez-se uma Grande Revolução e várias torvas ou ridículas; mas, se nos atemos à verdade nua dos anais, o que encontramos é que essas revoluções serviram principalmente para que durante todo um século, salvo uns dias ou umas semanas, a França tenha vivido mais que outro qualquer povo sob formas políticas, em maior ou menor escala, autoritárias e contra-revolucionárias. Sobretudo, a grande depressão moral da história francesa que foram os vinte anos do Segundo Império, deveu-se bem claramente à extravagância dos revolucionários de 1848(20), grande parte dos quais confessou o próprio Raspail que haviam sido antes clientes seus.
Nas revoluções tenta a abstração sublevar-se contra o concreto; por isso é consubstancial às revoluções o fracasso. Os problemas humanos não são, como os astronômicos ou os químicos, abstratos. São problemas de máxima concreção, porque são históricos. E o único método de pensamento que proporciona alguma probabilidade de acerto em sua manipulação é a “razão histórica”. Quando se contempla panoramicamente a vida pública da França durante os últimos cento e cinqüenta anos, salta à vista que seus geômetras, seus físicos e seus médicos se equivocaram sempre em seus juízos políticos, e que conseguiram ao contrário, acertar seus historiadores. Mas o racionalismo físico-matemático tem sido na França demasiado glorioso para que não tiranize a opinião pública. Malebranche rompe com um amigo seu porque viu sobre sua mesa um Tucídides(21).
Estes meses passados, impelindo minha solidão pelas ruas de Paris, compreendi que eu não conhecia ninguém na grande cidade, salvo as estátuas. Algumas destas, entretanto, são velhas amizades, antigas incitações ou perenes mestres de minha intimidade. E como não tinha com quem falar, conversei com elas sobre grandes temas humanos. Não sei se algum dia sairão à luz estas Conversaciones con estatuas, que dulcificaram uma etapa dolorosa e estéril de minha vida. Nelas se raciocina com o marquês de Condorcet, que está no Quai Conti, sobre a perigosa idéia do progresso. Com o pequeno busto de Comte que há em seu departamento da rue Monsieur-le-Prince falei sobre pouvoir spirituel, insuficientemente exercido por mandarins literários e por uma Universidade que ficou completamente excêntrica diante da efetiva vida das nações. Ao mesmo tempo tive a honra de receber o encargo de uma enérgica mensagem que esse busto dirige ao outro, ao grande, erigido na praça de Sorbonne, e que é o busto do falso Comte, do oficial, do de Littré. Mas era natural que me interessasse sobretudo em ouvir uma vez mais a palavra do nosso sumo mestre Descartes, o homem a quem a Europa mais deve.
O puro acaso que ciranda minha existência fez que eu redija estas linhas tendo à vista o lugar da Holanda em que habitou em 1642 o novo descobridor da raison. Este lugar, chamado Endageest, cujas árvores dão sombra a minha janela, é hoje um manicômio. Duas vezes ao dia — em admoestadora vizinhança — vejo passar os idiotas e os dementes que arejam por momentos à intempérie sua malograda humanidade.
Três séculos de experiência “racionalista” obrigam-nos a rememorar o esplendor e os limites daquela prodigiosa raison cartesiana. Esta raison é só matemática, física, biológica. Seus fabulosos triunfos sobre a natureza, superiores a quanto pudera sonhar-se, sublinham tanto mais seu fracasso ante os assuntos propriamente humanos e convidam a integrá-la em outra razão mais radical, que é a “razão histórica”(22).
Esta nos mostra a vaidade de toda revolução geral, de tudo quanto seja tentar a transformação súbita de uma sociedade e começar de novo a história, como pretendiam os confusonários do 89. Ao método da revolução opõe o único digno da larga experiência que o europeu atual tem atrás de si. As revoluções tão incontinentes em sua pressa, hipocritamente generosa, de proclamar direitos, violaram sempre, espezinhado e esfarrapado, o direito fundamental do homem, tão fundamental que é a definição mesma de sua substância: o direito à continuidade. A única diferença radical entre a história humana e a “história natural” é que aquela não pode nunca começar de novo. Köhler e outros mostraram como o chimpanzé e o orangotango não se diferenciam do homem pelo que, falando rigorosamente, chamamos inteligência, mas porque têm muito menos memória que nós. Os pobres animais cada manhã esquecem quase tudo que viveram no dia anterior, e seu intelecto tem de trabalhar sobre um mínimo material de experiências. Semelhantemente, o tigre de hoje é idêntico ao de seis mil anos, porque cada tigre tem de começar de novo a ser tigre, como se não houvesse outro antes. O homem, pelo contrário, mercê de seu poder de recordar, acumula seu próprio passado, possui-o e o aproveita. O homem não é nunca um primeiro homem: começa desde logo a existir sobre certa altitude de pretérito amontoado. Este é o tesouro único do homem, seu privilégio e sua marca. E a riqueza menor desse tesouro consiste no que dele pareça acertado e digno de conservar-se: o importante é a memória dos erros, que nos permite não cometer os mesmos sempre. O verdadeiro tesouro do homem é o tesouro dos seus erros, a extensa experiência vital decantada gota a gota em milênios. Por isso Nietzsche define o homem superior como o ser “de memória mais desenvolvida.”
Romper a continuidade com o passado, querer começar de novo, é aspirar a descer e plagiar o orangotango. Apraz-me que seja um francês, Dupont-White, que em 1860 se atrevesse a clamar: “La continuité est un droit de l’homme; elle est un hommage à tout ce qui le distingue de la bête”(23).
Diante de mim está um jornal em que acabo de ler o relato das festas com que a Inglaterra celebrou a coroação do novo rei. Diz-se que há muito a Monarquia inglesa é uma instituição meramente simbólica. Isso é verdade, mas dizendo-o assim deixamos escapar o melhor. Porque, efetivamente, a Monarquia não exerce no Império britânico nenhuma função material e palpável. Seu papel não é governar, nem administrar a justiça, nem mandar o Exército. Mas nem por isso é uma instituição vazia, carente de serviço. A Monarquia da Inglaterra exerce uma função determinadíssima e de alta eficácia: a de simbolizar. Por isso o povo inglês, com deliberado propósito, deu agora inusitada solenidade ao rito da coroação. Ante a turbulência atual do continente quis afirmar as normas permanentes que regulam sua vida. Deu-nos mais uma lição. Como sempre — já que a Europa sempre pareceu um tropel de povos —, os continentais, cheios de gênio, mas isentos de serenidade, nunca maduros, sempre pueris, e ao fundo, atrás deles, a Inglaterra... como a nurse da Europa.
Este é o povo que sempre chegou antes ao porvir, que se antecipou a todos em quase todas as ordens. Praticamente deveríamos omitir o quase. E eis aqui que este povo nos obriga, com certa impertinência do mais puro dandysmo, a presenciar seu vetusto cerimonial e a ver como atuam — porque não deixaram nunca de ser atuais os mais velhos e mágicos utensílios de sua história, a coroa e o cetro que entre nós regem apenas a sorte do baralho. O inglês faz empenho de nos fazer constar que seu passado, precisamente porque passou, porque lhe passou, continua existindo para ele. Desde um futuro ao qual não chegamos mostra-nos a vigência louçã de seu pretérito(24), Este povo circula por todo o seu tempo, é verdadeiramente senhor de seus séculos, que conserva em ativa posse. E isso é ser um povo de homens: poder hoje continuar no seu ontem sem por isso deixar de viver para o futuro, poder existir no verdadeiro presente, já que o presente é só a presença do passado e do porvir, o lugar onde pretérito e futuro efetivamente existem.
Com as festas simbólicas da coroação, a Inglaterra opôs, mais uma vez, ao método revolucionário o método da continuidade, o único que pode evitar na marcha das coisas humanas esse aspecto patológico que faz da história uma luta ilustre e perene entre os paralíticos e os epiléticos.
V
Como nestas páginas se faz a anatomia do homem hoje dominante, procedo partindo de seu aspecto externo, por assim dizer, de sua pele, e depois penetro um pouco mais em direção a suas vísceras. Daí por que sejam os primeiros capítulos os que mais caducaram. A pele do tempo mudou. O leitor deveria, ao ler esses capítulos, retroceder aos anos 1926-1928. Já começou a crise na Europa, mas ainda parece uma de tantas. As pessoas ainda sentem-se em segurança. Ainda gozam os luxos da inflação. E, sobretudo, pensava-se: aí está a América! Era a América da fabulosa prosperity.
O único do que vai dito nestas páginas que me inspira algum orgulho, é não haver incorrido no inconcebível erro de ótica que sofreram então quase todos os europeus, inclusive os próprios economistas. Porque não convém esquecer que então se pensava mui seriamente que os americanos haviam descoberto outra organização da vida que anulava para sempre as perpétuas pragas humanas que são as crises. Eu me envergonhava de que os europeus, inventores do mais elevado que até agora se inventou — o sentido histórico —, mostrassem carecer dele completamente. O velho lugar comum de que a América é o porvir havia nublado por instantes sua perspicácia. Tive então a coragem de me opor a semelhante deslize, sustentando que a América, longe de ser o futuro, era, na realidade, um remoto passado porque era primitivismo. E, também contra o que se crê, era-o e o é muito mais a América do Norte do que a América do Sul, a hispânica. Hoje a coisa vai sendo clara e os Estados Unidos não enviam já ao velho continente senhoritas para — como me dizia uma naquela ocasião — “convencer-se de que na Europa não há nada interessante”(25).
Violentando-me isolei neste quase-livro, do problema total que e para o homem e especialmente para o homem europeu seu imediato porvir, um só fator: a caracterização do homem médio que hoje se vai apoderando de tudo. Isto me obrigou a um duro ascetismo, à abstenção de expressar minhas convicções sobre tudo quanto toco de passagem. Mais ainda: a apresentar freqüentemente as coisas em forma que se era a mais favorável para aclarar o tema exclusivo deste estudo, era a pior para deixar ver minha opinião sobre estas coisas. Basta assinalar uma questão, embora fundamental. Medi o homem médio quanto a sua capacidade para continuar a civilização moderna e quanto a sua adesão à cultura. Dir-se-ia que essas duas coisas — a civilização e a cultura — não são para mim questões. A verdade é que elas são precisamente o que ponho em questão quase desde meus primeiros estudos. Mas eu não devia complicar os assuntos. Qualquer que seja nossa atitude ante a civilização e a cultura, está aí, como um fator de primeira ordem com que se deve contar, a anomalia representada pelo homem-massa. Por isso urgia isolar cruamente seus sintomas.
Não deve, pois, o leitor francês esperar mais deste volume, que não é, no final das contas, senão um ensaio de serenidade em meio à tormenta.
JOSE ORTEGA Y GASSET.
“Het Witte Huis”. Oegstgeest-Holanda, maio, 1937.
PRIMEIRA PARTE
A REBELIÃO
DAS
MASSAS
I. O FATO DAS AGLOMERAÇÕES(26)
Há um fato que, para bem ou para mal, é o mais importante na vida pública européia da hora presente. Este fato é o advento das massas ao pleno poderio social. Como as massas, por definição, não devem nem podem dirigir sua própria existência, e menos reger a sociedade, quer dizer-se que a Europa sofre agora a mais grave crise que a povos, nações, culturas, cabe padecer. Esta crise sobreveio mais de uma vez na história. Sua fisionomia e suas conseqüências são conhecidas. Também se conhece seu nome. Chama-se a rebelião das massas.
Para a inteligência do formidável fato convém que se evite dar, desde já, às palavras “rebelião”, “massas”, “poderio social”, etc. um significado exclusivo ou primariamente político. A vida pública não é só política, mas, ao mesmo tempo e ainda antes, intelectual, moral, econômica, religiosa; compreende todos os usos coletivos e inclui o modo de vestir e o modo de gozar.
Talvez a melhor maneira de aproximar-se a este fenômeno histórico consista em referir-nos a uma experiência visual, sublinhando uma feição de nossa época que é visível com os olhos da cara.
Simplicíssima de enunciar, ainda que não de analisar, eu a denomino o fato da aglomeração, do “cheio”. As cidades estão cheias de gente. As casas cheias de inquilinos. Os hotéis cheios de hóspedes. Os trens, cheios de viajantes. Os cafés, cheios de consumidores. Os passeios, cheios de transeuntes. As salas dos médicos famosos, cheias de enfermos. Os espetáculos, desde que não sejam muito extemporâneos, cheios de espectadores. As praias, cheias de banhistas. O que antes não era problema, começa a sê-lo quase de contínuo: encontrar lugar.
Nada mais. Há fato mais simples, mais notório, mais constante, na vida atual? Vamos agora puncionar o corpo trivial desta observação, e nos surpreenderá ver como dele brota um repuxo inesperado, onde a branca luz do dia, deste dia, do presente, se decompõe em todo o seu rico cromatismo interior.
Que é o que vemos e ao vê-lo nos surpreende tanto? Vemos a multidão, como tal, possuidora dos locais e utensílios criados pela civilização. Apenas refletimos um pouco, nos surpreendemos de nossa surpresa. Mas quê, não é o ideal? O teatro tem suas localidades para que se ocupem; portanto, para que a sala esteja cheia. E do mesmo modo os assentos o vagão ferroviário e seus quartos o hotel. Sim; não há dúvida. Mas o fato é que antes nenhum destes estabelecimentos e veículos costumavam estar cheios, e agora transbordam, fica fora gente afanosa de usufruí-los. Embora o fato seja lógico, natural, não se pode desconhecer que antes não acontecia e agora sim; portanto, que houve uma mudança, uma inovação, a qual justifica, pelo menos no primeiro momento, nossa surpresa.
Surpreender-se, estranhar, é começar a entender. E o esporte e o luxo específico do intelectual. Por isso sua atitude gremial consiste em olhar o mundo com os olhos dilatados pela estranheza. Tudo no mundo é estranho e é maravilhoso para umas pupilas bem abertas. Isso, maravilhar-se, é a delícia vedada ao futebolista e que, ao contrário, leva o intelectual pelo mundo em perpétua embriaguez de visionário. Seu atributo são os olhos em pasmo. Por isso, os antigos deram a Minerva a coruja, o pássaro com os olhos sempre deslumbrados.
A aglomeração, ou cheio, antes não era freqüente. Por que o é agora?
Os componentes dessas multidões não surgiram do nada. Aproximadamente, o mesmo número de pessoas existia há quinze anos. Depois da guerra pareceria natural que esse número fosse menor. Aqui topamos, entretanto, com a primeira nota importante. Os indivíduos que integram estas multidões preexistiam, mas não como multidão. Repartidos pelo mundo em pequenos grupos, ou solitários, levavam uma vida, pelo visto, divergente, dissociada, distante. Cada qual — indivíduo ou pequeno grupo — ocupava o lugar, talvez o seu, no campo, na aldeia, na vila, no bairro da grande cidade.
Agora, de repente, aparecem sob a espécie de aglomeração, e nossos olhos vêm por toda a parte multidões. Por toda a parte? Não, não; precisamente nos lugares melhores, criação realmente refinada da cultura humana, reservados antes a grupos menores, em definitiva, a minorias.
A multidão, de repente, tornou-se visível, e instalou-se nos lugares preferentes da sociedade. Antes, se existia, passava inadvertida, ocupava o fundo do cenário social; agora adiantou-se até às gambiarras, ela é o personagem principal. Já não há protagonistas: só há coro.
O conceito de multidão é quantitativo e visual. Traduzamo-lo, sem alterá-lo, à terminologia sociológica. Então achamos a idéia de massa social. A sociedade é sempre uma unidade dinâmica de dois fatores: minorias e massas. As minorias são indivíduos ou grupos de indivíduos especialmente qualificados. A massa é o conjunto de pessoas não especialmente qualificadas. Não se entenda, pois, por massas só nem principalmente “as massas operárias”. Massa é “o homem médio”. Deste modo se converte o que era meramente quantidade — a multidão — numa determinação qualitativa: é a qualidade comum, é o mostrengo social, é o homem enquanto não se diferencia de outros homens, mas que repete em si um tipo genérico. Que ganhamos com esta conversão da quantidade para a qualidade? Muito simples: por meio desta compreendemos a gênese daquela. E evidente, até acaciano, que a formação normal de uma multidão implica a coincidência de desejos, idéias, de modo de ser nos indivíduos que a integram. Dir-se-á que é o que acontece com todo grupo social, por seleto que pretenda ser. Com efeito; mas há uma diferença essencial.
Nos grupos que se caracterizam por não ser multidão e massa, a coincidência efetiva de seus membros consiste em algum desejo, idéia ou ideal, que por si exclui o grande número. Para formar uma minoria, seja qual seja, é preciso que antes cada qual se separe da multidão por razões essenciais, relativamente individuais. Sua coincidência com os outros que formam a minoria é, pois, secundário, posterior a haver-se cada qual singularizado, e é, portanto, em boa parte uma coincidência em não coincidir. Há casos em que esse caráter singularizador do grupo aparece a céu descoberto: os grupos ingleses que se chamam a si mesmos “não conformistas”, isto é, a agrupação dos que concordam só em sua desconformidade a respeito da multidão ilimitada. Este ingrediente de juntarem-se os menos precisamente para separar-se dos demais vai sempre misturado na formação de toda minoria. Falando do reduzido público que ouvia um músico refinado, diz graciosamente Mallarmé que aquele público salientava com a presença de sua escassez a ausência multitudinária.
A rigor, a massa pode definir-se, como fato psicológico, sem necessidade de esperar que apareçam os indivíduos em aglomeração. Diante de uma só pessoa podemos saber se é massa ou não. Massa é todo aquele que não se valoriza a si mesmo — no bem ou no mal — por razões especiais, mas que se sente “como todo o mundo”, e, entretanto, não se angustia, sente-se à vontade ao sentir-se idêntico aos demais. Imagine-se um homem humilde que ao tentar valorizar-se por razões especiais — ao perguntar de si para si se tem talento para isto ou para aquilo, se sobressai em alguma ordem — adverte que não possui nenhuma qualidade excelente. Este homem sentir-se-á medíocre e vulgar, e mal dotado; mas não se sentirá “massa”.
Quando se fala de “minorias seletas”, a velhacaria habitual costuma tergiversar o sentido desta expressão, fingindo ignorar que o homem seleto não é o petulante que se supõe superior aos demais, mas o que exige mais de si que os demais, embora não consiga cumprir em sua pessoa essas exigências superiores. E é indubitável que a divisão mais radical que cabe fazer na humanidade, é esta em duas classes de criaturas: as que exigem muito de si e acumulam sobre si mesmas dificuldades e deveres, e as que não exigem de si nada especial, mas que para elas viver é ser em cada instante o que já são, sem esforço de perfeição em si mesmas, bóias que vão à deriva.
Isto me lembra que o budismo ortodoxo se compõe de duas religiões distintas: uma, mais rigorosa e difícil; outra, mais frouxa e trivial; ou Mahayana — “grande veículo” ou “grande carril” — e o Hinayana — “pequeno veículo”, “caminho menor”. O decisivo é se pomos nossa vida num ou no outro veículo, a um máximo de exigências ou a um mínimo.
A divisão da sociedade em massas ou minorias excelentes não é, portanto, uma divisão em classes sociais, mas em classes de homens, e não pode coincidir com a jerarquização em classes superiores e inferiores. Claro está que nas superiores, quando chegam a sê-lo e enquanto o forem de verdade há mais verossimilitude em achar homens que adotam o “grande veículo”, enquanto as inferiores estão normalmente constituídas por indivíduos sem qualidade. Mas, a rigor, dentro de cada classe social há massa e minoria autêntica. Como veremos, é característico do tempo o predomínio, ainda nos grupos cuja tradição era seletiva, da massa e do vulgo. Assim, na vida intelectual, que por sua própria essência requer e supõe a qualificação, adverte-se o progressivo triunfo dos pseudo-intelectuais inqualificados, inqualificáveis e desclassificados por sua própria contextura. O mesmo nos grupos sobreviventes da “nobreza” masculina e feminina. A seu turno, não é raro encontrar hoje entre os obreiros, que antes podiam valer como o exemplo mais puro disto que chamamos “massa”, almas egregiamente disciplinadas.
Ora bem: existem na sociedade operações, atividades, funções da ordem mais diversa, que são, por sua mesma natureza, especiais, e, conseqüentemente, não podem ser bem executadas sem dotes também especiais. Por exemplo: certos prazeres de caráter artístico e luxuoso, ou bem as funções de governo e de juízo político sobre os assuntos públicos. Antes eram exercidas estas atividades especiais por minorias qualificadas — qualificadas, pelo menos, em pretensão —. A massa não pretendia intervir nelas: percebia-se que se queria intervir teria congruentemente de adquirir esses dotes especiais e deixar de ser massa. Conhecia seu papel numa saudável dinâmica social.
Se agora retrocedermos aos fatos enunciados a princípio, eles nos aparecerão inequivocamente como núncios de uma mudança de atitude na massa. Todos eles indicam que esta resolveu avançar para o primeiro plano social e ocupar os locais e usar os utensílios e gozar dos prazeres antes adstritos aos poucos. É evidente que, por exemplo, os locais não estavam premeditados para as multidões, posto que sua dimensão seja muito reduzida e o povo transborde constantemente deles, demonstrando aos olhos e com linguagem visível o fato novo: a massa, que, sem deixar de sê-lo, suplanta as minorias.
Ninguém, creio eu, deplorará que as pessoas gozem hoje em maior medida e número que antes, já que têm para isso os apetites e os meios. O mal é que esta decisão tomada pelas massas de assumir as atividades próprias das minorias, não se manifesta, nem pode manifestar-se, só na ordem dos prazeres, mas que é uma maneira geral do tempo. Assim — antecipando o que logo veremos —, creio que as inovações políticas dos mais recentes anos não significam outra coisa senão o império político das massas. A velha democracia vivia temperada por uma dose abundante de liberalismo e de entusiasmo pela lei. Ao servir a estes princípios o indivíduo obrigava-se a sustentar em si mesmo uma disciplina difícil. Ao amparo do princípio liberal e da norma jurídica podiam atuar e viver as minorias. Democracia e Lei, convivência legal, eram sinônimos. Hoje assistimos ao triunfo de uma hiperdemocracia em que a massa atua diretamente sem lei, por meio de pressões materiais, impondo suas aspirações e seus gostos. É falso interpretar as situações novas como se a massa se houvesse cansado da política e encarregasse a pessoas especiais seu exercício. Pelo contrário. Isso era o que antes acontecia, isso era a democracia liberal. A massa presumia que, no final das contas, com todos os seus defeitos e vícios, as minorias dos políticos entendiam um pouco mais dos problemas públicos que ela. Agora, por sua vez, a massa crê que tem direito a impor e dar vigor de lei a seus tópicos de café. Eu duvido que tenha havido outras épocas da história em que a multidão chegasse a governar tão diretamente como em nosso tempo. Por isso falo de hiperdemocracia.
O mesmo acontece nas demais ordens, muito especialmente na intelectual. Talvez cometa eu um erro; mas o escritor, ao tomar da pena para escrever sobre um tema que estudou intensamente, deve pensar que o leitor médio, que nunca se ocupou do assunto, se o lê, não é com o fim de aprender algo dele, mas, pelo contrário, para sentenciar sobre ele quando não coincide com as vulgaridades que este leitor tem na cabeça. Se os indivíduos que integram a massa se acreditassem especialmente dotados, teríamos não mais de um caso de erro pessoal, mas não uma subversão sociológica. O característico do momento é que a alma vulgar, sabendo-se vulgar, tem o denodo de afirmar o direito de vulgaridade e o impõe por toda a parte. Como se diz na América do Norte: ser diferente é indecente. A massa atropela tudo que é diferente, egrégio, individual, qualificado e seleto. Quem não seja como todo o mundo, quem não pense como todo o mundo, corre o risco de ser eliminado. E claro está que esse “todo o mundo” não é “todo o mundo”. “Todo o mundo” era, normalmente, a unidade complexa de massa e minorias discrepantes, especiais. Agora todo o mundo é só a massa.
II. A ASCENSÃO DO NÍVEL HISTÓRICO
Este é o fato formidável do nosso tempo, descrito sem ocultar a brutalidade de sua aparência. É, ademais, de uma absoluta novidade na história de nossa civilização. Jamais, em todo o seu desenvolvimento, aconteceu nada semelhante. Se temos de achar algo semelhante, teríamos de pular fora de nossa história e submergir-nos em um orbe, em um elemento vital, completamente diferente do nosso; teríamos de insinuar-nos no mundo antigo, e chegar a sua hora de declinação. A história do Império romano é também a história da subversão, do império das massas que absorvem e anulam as minorias dirigentes e se colocam em seu lugar. Então se produz também o fenômeno da aglomeração, do cheio. Por isso, como observou muito bem Spengler, foi preciso construir, como se faz agora, edifícios enormes. A época das massas é a época do colossal(27).
Vivemos sob o brutal império das massas. Perfeitamente; já chamamos duas vezes “brutal” a este império, já pagamos nosso tributo ao deus dos tópicos; agora, com o bilhete na mão, podemos alegremente ingressar no tema, ver por dentro o espetáculo. Ou supunha-se que eu ia contentar-me com essa descrição, talvez exata, mas externa, que é só a fachada, o frontispício sob os quais se apresenta o fato tremendo quando é olhado desde o passado? Se eu deixasse aqui este assunto e estrangulasse meu presente ensaio, ficaria o leitor pensando, muito justamente, que este fabuloso advento das massas à superfície da história não me inspirava outra coisa senão algumas palavras displicentes, desdenhosas, um pouco de abominação e outro pouco de repugnância; a mim, de quem é notório que sustento uma interpretação da história radicalmente aristocrática(28) É radical, porque eu não disse nunca que a sociedade humana deva ser aristocrática, mas muito mais que isso. Eu disse e continuo crendo, cada dia com mais enérgica convicção, que a sociedade humana é aristocrática sempre, queira ou não, por sua própria essência, até o ponto de que é sociedade na medida em que seja aristocrática, e deixa de sê-lo na medida em que se desaristocratize. Bem entendido que falo da sociedade e não do Estado. Ninguém pode acreditar que diante deste fabuloso encrespamento da massa, seja o aristocrático contentar-se com fazer um breve trejeito amaneirado, como um fidalgote de Versalhes. Versalhes — entende-se esse Versalhes dos trejeitos — não é aristocracia, é o seu oposto: é a morte e a putrefação de uma magnífica aristocracia. Por isso, de verdadeiramente aristocrático só restava naqueles seres a graça digna com que sabiam receber em seu pescoço a visita da guilhotina; aceitavam-na como o tumor aceita o bisturi. Não: a quem sinta a missão profunda das aristocracias, o espetáculo da massa o incita e aviva como ao escultor a presença do mármore virgem. A aristocracia social não se parece nada a esse grupo reduzidíssimo que pretende assumir para si íntegro o nome de “sociedade”, que se chama a si mesmo “a sociedade” e que vive simplesmente de convidar-se ou de não convidar-se. Como tudo no mundo tem sua virtude e sua missão, também tem as suas dentro do vasto mundo este pequeno “mundo elegante”, mas uma missão muito subalterna e incomparável com a faina hercúlea das autênticas aristocracias. Eu não teria inconveniente em falar sobre o sentido que possui essa vida elegante, em aparência tão sem sentido; mas nosso tema é agora outro de maiores proporções. Certamente que essa mesma “sociedade distinta” está de acordo com o tempo. Muito me fez meditar certa damazinha em flor, toda juventude e atualidade, estrela de primeira grandeza no zodíaco da elegância madrilenha, porque me disse: “Eu não tolero um baile ao qual tenham sido convidadas menos de oitocentas pessoas”. Através desta frase vi que o estilo das massas triunfa hoje sobre toda a área da vida e se impõe ainda naqueles últimos rincões que pareciam reservados aos happy few.
Repilo, pois, igualmente, toda interpretação de nosso tempo que não descubra a significação positiva oculta sob o atual império das massas e das que o aceitam, beatamente, sem estremecer de espanto. Todo destino é dramático e trágico em sua profunda dimensão. Quem não tenha sentido na mão palpitar o perigo do tempo, não chegou à entranha do destino, não fez mais senão acariciar sua mórbida face. No nosso, o ingrediente terrível é posto pela atropelante e violenta sublevação moral das massas, imponente, indomável e equívoca como todo destino. Para onde nos leva? É um mal absoluto, ou um bem possível? Aí está, colossal, instalada sobre nosso tempo como um gigante, cósmico sinal de interrogação, o qual tem sempre uma forma equívoca, com algo, efetivamente, de guilhotina ou de forca mas também com algo que quisera ser um arco triunfal!
O fato de que necessitamos submeter a anatomia pode formular-se sob estas duas rubricas: primeira, as massas exercitam hoje um repertório vital que coincide, em grande parte, com o que antes parecia reservado exclusivamente às minorias; segunda, ao mesmo tempo as massas tornaram-se indóceis diante das minorias; não lhes obedecem, não as seguem, não as respeitam, mas, pelo contrário, as puseram de lado e as suplantam.
Analisemos a primeira rubrica. Quero dizer com ela que as massas gozam dos prazeres e usam os utensílios inventados pelos grupos seletos e que antes só estes usufruíam. Sentem apetites e necessidades que antes se qualificavam de refinamentos, porque eram patrimônios de poucos. Um exemplo trivial: em 1820 não havia em Paris dez quartos de banho em casas particulares; vejam-se as Memórias da comtesse de Boigne. Mais ainda: as massas conhecem e empregam hoje, com relativa suficiência, muitas das técnicas que antes só os indivíduos especializados manejavam.
E não apenas as técnicas materiais, mas, o que é mais importante, as técnicas jurídicas e sociais. No século XVIII, certas minorias descobriram que todo indivíduo humano, pelo mero fato de nascer, e sem necessidade de qualificação alguma, possuía certos direitos políticos fundamentais, os chamados direitos do homem e do cidadão, e que, a rigor, estes direitos comuns a todos são os únicos existentes. Todo outro direito imposto a dotes especiais ficava condenado como privilégio. Isto foi, primeiro, um puro teorema e idéia de uns poucos; depois, esses poucos começaram a usar praticamente dessa idéia, a impô-la e reclamá-la: as minorias melhores. Não obstante, durante todo o século XIX a massa, que se ia entusiasmando com a idéia desses direitos como com um ideal, não os sentia em si, não os exercitava nem fazia valer senão de fato, sob as legislações democráticas, continuava vivendo, continuava sentindo-se a si mesma como no antigo regime. O “povo” — segundo então era chamado —, o “povo” sabia já que era soberano; mas não acreditava nisso. Hoje aquele ideal converteu-se numa realidade, não já nas legislações, que são esquemas externos da vida pública, mas no coração de todo indivíduo, quaisquer que sejam as suas idéias, inclusive quando as suas idéias são reacionárias; quer dizer, inclusive quando esmaga e tritura as instituições onde aqueles direitos se sancionam. A meu juízo, quem não entende esta curiosa situação das massas não pode compreender nada do que hoje começa a acontecer no mundo. A soberania do indivíduo não qualificado, do indivíduo humano genérico e como tal, passou, de idéia ou ideal jurídico que era, a ser um estado psicológico constitutivo do homem médio. E note-se bem: quando algo que foi ideal se faz ingrediente da realidade, inexoravelmente deixa de ser ideal. O prestígio e a magia autorizante, que são atributos do ideal, que são seu efeito sobre o homem, se volatilizam. Os direitos niveladores da generosa inspiração democrática converteram-se, de aspirações de ideais, em apetites de supostos inconscientes.
Ora bem: o sentido daqueles direitos não era outro senão tirar as almas humanas de sua interna servidão e proclamar dentro delas certa consciência de senhorio e dignidade. Não era isto que se queria? Que o homem médio se sentisse amo, dono, senhor de si mesmo e de sua vida? Já está conseguido. Por que se queixam os liberais, os democratas, os progressistas de há 30 anos? Ou é que, como os meninos querem uma coisa, mas não suas conseqüências? Quer-se que o homem médio seja senhor. Então não estranhe que atue por si, que reclame todos os prazeres, que imponha decidido sua vontade, que se negue a toda servidão, que não continue dócil, que cuide de sua pessoa e seus ócios, que componha sua indumentária: são alguns dos atributos perenes que acompanham a consciência de senhorio. Hoje os achamos residindo no homem médio, na massa.
Julgamos pois, que a vida do homem médio está agora constituída pelo repertório vital que antes caracterizava só as minorias culminantes. Ora bem: o homem médio representa a área sobre que se move a história de cada época; é na história o que é o nível do mar na geografia. Se, pois, o nível médio se acha hoje onde antes só tocavam as aristocracias, quer dizer-se lisa e lhanamente que o nível da história ascendeu de repente — depois de largas e subterrâneas preparações, mas em sua manifestação, de repente —, de um salto, numa geração. A vida humana, em totalidade, ascendeu. O soldado do dia, diríamos, tem muito de capitão; o exército humano se compõe já de capitães. Basta ver a energia, a resolução, o desembaraço com que qualquer indivíduo luta hoje pela existência, agarra o prazer que passa, impõe sua decisão.
Todo o bem, todo o mal do presente e do imediato porvir tem neste ascenso geral do nível histórico sua causa e sua raiz.
Mas agora nos ocorre uma advertência impremeditada. Isso, que o nível médio da vida seja o das antigas minorias, é um fato novo na história; mas era o fato nativo, constitucional, da América. Pense o leitor, para ver clara minha intenção, na consciência de igualdade jurídica. Esse estado psicológico de sentir-se amo e senhor de si e igual a qualquer outro indivíduo, que na Europa só os grupos preeminentes conseguiam adquirir, é o que desde o século XVIII, praticamente desde sempre, acontecia na América. E nova coincidência, ainda mais curiosa! Ao aparecer na Europa esse estado psicológico do homem médio, ao subir o nível de sua existência integral, o tom e maneiras da vida européia em todas as ordens adquire de repente uma fisionomia que fez muitos dizer: “A Europa está se americanizando”. Os que isto diziam não davam ao fenômeno importância maior; acreditavam que se tratava de uma leve mudança nos costumes, de uma moda, e, desorientados pelo parecido externo, o atribuíam a não se sabe que influxo da América na Europa. Com isso, a meu juízo, banalizou-se a questão, que é muito mais sutil e surpreendente e profunda.
A galanteria tenta agora subornar-me para que eu diga aos homens de Ultramar que, com efeito, a Europa se americanizou e que isto é devido a um influxo da América na Europa. Mas não: a verdade entra agora em colisão com a galanteria, e deve triunfar. A Europa não se americanizou. Não recebeu ainda influxo grande da América. Tanto um como outro, eventualmente, iniciam-se agora mesmo; mas não se produziram no próximo passado, de que o presente é broto. Há aqui um cúmulo desesperante de idéias falsas que nos estorvam a visão tanto aos americanos como aos europeus. O triunfo das massas e a conseguinte magnífica ascensão de nível vital aconteceu na Europa por razões internas, depois de dois séculos de educação progressista das multidões e de um paralelo enriquecimento econômico da sociedade. Mas isso é que o resultado coincide com o traço mais decisivo da existência americana; e por isso, porque coincide a situação moral do homem médio europeu com a do americano, aconteceu que pela primeira vez o europeu entende a vida americana, que antes lhe era um enigma e um mistério. Não se trata, pois, de um influxo, que seria um pouco estranho, que seria um refluxo, mas do que menos se suspeita ainda: trata-se de uma nivelação. Desde sempre se entrevia obscuramente pelos europeus que o nível médio da vida era mais alto na América que no velho continente. A intuição, pouco analítica, mas evidente deste fato, deu origem à idéia, sempre aceita, nunca posta em dúvida, de que a América era o porvir. Compreender-se-á que idéia tão ampla e tão arraigada não podia vir do vento, como dizem que as orquídeas se criam sem raízes no ar. O fundamento era aquela entrevisão de um nível mais elevado na vida média de Ultramar, que contrastava com o nível inferior das minorias melhores da América comparadas com as européias. Mas a história, como a agricultura, nutre-se dos vales e não dos cumes, da altitude média social e não das eminências.
Vivemos em tempo de nivelações: nivelam-se as fortunas, nivela-se a cultura entre as diferentes classes sociais, nivelam-se os sexos. Pois bem: também se nivelam os continentes. E como o europeu se achava vitalmente mais baixo, nesta nivelação não fez senão ganhar. Portanto, olhada deste lado, a subversão das massas significa um fabuloso aumento de vitalidade e possibilidades; tudo ao contrário, pois, do que ouvimos tão amiúde sobre a decadência da Europa. Frase confusa e tosca, onde não se sabe bem de que se fala, se dos Estados europeus, da cultura européia ou do que está sob tudo isso e importa infinitamente mais que tudo isto, a saber: da vitalidade européia. Dos Estados e da cultura européia diremos algum vocábulo mais adiante — e talvez a frase supradita valha para eles —; mas quanto à vitalidade, convém desde logo fazer constar que se trata de um erro crasso. Dita de outro modo, talvez minha afirmação pareça mais convincente e menos inverossímil; digo, pois, que hoje um italiano médio, um espanhol médio, um alemão médio, se diferenciam menos em tom vital de um ianque ou de um argentino que há trinta anos. E este é um dado que os americanos não devem esquecer.
III. A ALTURA DOS TEMPOS
O império das massas apresenta, pois, um aspecto favorável enquanto significa uma subida de todo o nível histórico, e revela que a vida média se move hoje em altura superior à que ontem pisava. O que nos faz compreender que a vida pode ter altitudes diferentes, e que é uma frase cheia de sentido a que sem sentido sói repetir-se quando se fala da altura dos tempos. Convém que nos detenhamos neste ponto, porque ele nos proporciona a maneira de fixar um dos caracteres mais surpreendentes de nossa época.
Diz-se, por exemplo, que esta ou a outra coisa não é própria da altura dos tempos. Com efeito: não o tempo abstrato da cronologia, que é todo ele chão, mas o tempo vital, o que cada geração chama “nosso tempo”, tem sempre certa altitude, eleva-se ontem sobre hoje, ou se mantém a par, ou cai por baixo. A imagem de cair, embainhada no vocábulo decadência, procede desta intuição. Do mesmo modo cada qual sente, com maior ou menor claridade, a relação em que sua própria vida se encontra com a altura do tempo onde transcorre. Há quem se sinta nos modos da existência atual como um náufrago que não consegue sair a flutuar. A velocidade do tempo com que hoje marcham as coisas, o ímpeto de energia com que se faz tudo, angustiam o homem de têmpera arcaica, e esta angústia mede o desnível entre a altura do seu pulso e a altura da época. Por outra parte, quem vive com plenitude e a gosto as formas do presente, tem consciência da relação entre a altura de nosso tempo e a altura das diversas idades pretéritas. Qual é essa relação?
Fora errôneo supor que sempre o homem de uma época sente as passadas, simplesmente porque passadas, como mais baixas de nível que a sua. Bastaria recordar que, ao parecer de Jorge Manrique,
Qualquer tempo passado
foi melhor.
Mas isso tampouco é verdade. Nem todas as idades se sentiram inferiores a algumas do passado, nem todas se supuseram superiores a quantas foram e recordam. Cada idade histórica manifesta uma sensação diferente ante esse estranho fenômeno da altura vital, e me surpreende que não tenham reparado nunca pensadores e historiógrafos em fato tão evidente e substancioso.
A impressão que Jorge Manrique declara tem sido certamente a mais geral, pelo menos se se toma grosso modo. À maior parte das épocas não lhes pareceu seu tempo mais elevado que outras idades antigas. Ao contrário, o mais habitual tem sido que os homens suponham em um vago pretérito tempos melhores, de existência mais plenária: a “idade de ouro”, dizemos os educados por Grécia e Roma; a Alcheringa, dizem os selvagens australianos. Isso revela que esses homens sentiam o pulso de sua própria vida mais ou menos falto de plenitude, decaído, incapaz de encher por completo o canal das veias. Por esta razão respeitavam o passado, os tempos “clássicos”, cuja existência se lhes apresentava como algo mais amplo, mais rico, mais perfeito e difícil que a vida de seu tempo. Ao olhar para trás e imaginar esses séculos mais valiosos, parecia-lhes não dominá-los, mas, ao contrário, ficar debaixo deles, como um grau de temperatura, se tivesse consciência, sentiria que não contém em si o grau superior; mas antes, que há neste mais calorias que nele mesmo. Desde cento e cinqüenta anos depois de Cristo esta impressão de encolhimento vital, de diminuição, de decair e perder pulso, cresce progressivamente no Império Romano. Já Horácio havia cantado: “Nossos pais, piores que nossos avós, nos engendraram ainda mais depravados, e nós daremos uma progênie todavia mais incapaz”. (Odes, Livro III, 6.)
Aetas parentum peior avis tulit
nos nequiores, mox daturos
progeniem vitiosorem.
Dois séculos mais tarde não havia em todo o Império bastantes itálicos medianamente valorosos com os quais preencher as praças de centuriões, e foi necessário alugar para este ofício dálmatas, e depois, bárbaros do Danúbio e do Reno. Enquanto isso, as mulheres tornaram-se estéreis e a Itália se despovoou.
Vejamos agora outra classe de épocas que gozam de uma impressão vital ao parecer a mais oposta a essa. Trata-se de um fenômeno muito curioso que nos importa muito definir. Quando há não mais de trinta anos os políticos peroravam ante as multidões, soíam rechaçar esta ou outra medida de governo, tal ou qual desmando, dizendo que era imprópria da plenitude dos tempos. É curioso recordar que a mesma frase aparece empregada por Trajano na sua famosa carta a Plínio, ao recomendar-lhe que não se perseguissem os cristãos em virtude de denúncias anônimas: Nec nostri saeculi est. Houve, pois, várias épocas na história que se sentiram como chegadas a uma altura plena, definitiva: tempos em que se crê haver chegado ao término de uma viagem, em que se cumpre um afã antigo e plenifica uma esperança. É a “plenitude dos tempos”, a completa madureza da vida histórica. Há trinta anos, com efeito, acreditava o europeu que a vida humana havia chegado a ser o que devia ser, o que desde muitas gerações se vinha anelando que fosse, o que teria já que ser sempre. Os tempos de plenitude se sentem sempre como resultante de muitas outras idades preparatórias, de outros tempos sem plenitude, inferiores ao próprio, sobre os quais vai montada esta hora bem granosa. Vistos de sua altura, aqueles períodos preparatórios aparecem como se neles se houvessem vivido de puro afã e ilusão não lograda; tempos de só desejo insatisfeito, de ardentes precursores, de “ainda não”, de contraste penoso entre uma civilização clara e a realidade que não lhe corresponde. Assim vê a Idade Média o século XIX. Por fim chega um dia em que esse velho desejo, às vezes milenário, parece cumprir-se; a realidade o recolhe e lhe obedece. Chegamos à altura entrevista, à meta antecipada, ao cume do tempo! Ao “ainda não” sucedeu o “por fim”.
Esta era a sensação que de sua própria vida tinham os nossos pais e toda a sua centúria. Não se esqueça disto: nosso tempo é um tempo que vem depois de um tempo de plenitude. Daí que, irremediavelmente, quem continua adscrito à outra margem, a esse próximo plenário passado, e o olhe todo sob sua ótica, sofrerá o espelhismo de sentir a idade presente como um cair desde a plenitude, como uma decadência.
Mas um velho afeiçoado à história, empedernido tomador de pulso de tempos, não se pode deixar alucinar por essa ótica da suposta plenitude.
Segundo eu disse, o essencial para que exista “plenitude dos tempos” é que um desejo antigo, o qual se vinha arrastando aneloso e querulante durante séculos, por fim um dia fica satisfeito. E, com efeito, esses tempos plenos são também satisfeitos de si mesmos; às vezes, como no século XIX, arquisatisfeitos(29). Mas agora compreendemos que esses séculos tão satisfeitos, tão fruídos, estão mortos por dentro. A autêntica plenitude vital não consiste na satisfação, na posse, na chegada. Já dizia Cervantes que “o caminho é sempre melhor que a pousada”. Um tempo que satisfez seu desejo, seu ideal, é que já não deseja nada mais, que se lhe secou a fonte do desejar. Isto é, que a famosa plenitude é em realidade uma conclusão. Há séculos que por não saber renovar seus desejos morre de satisfação, como morre o zângão afortunado depois do vôo nupcial(30).
Daí o dado surpreendente de que essas etapas de chamada plenitude tenham sentido sempre no sedimento de si mesmas uma peculiaríssima tristeza.
O desejo tão lentamente gestado, e que no século XIX parece finalmente realizar-se, é o que, resumindo, se denominou a si mesmo “cultura moderna”. Já o nome é inquietante: que um tempo se chame a si mesmo “moderno”, quer dizer, último, definitivo, diante do qual todos os demais são puros pretéritos, modestas preparações e aspirações para ele! Setas sem brio que erram o alvo!(31).
Não se sonda já aqui a diferença essencial entre nosso tempo e esse que acaba de preterir, de transpor? Nosso tempo, com efeito, não se sente já definitivo; ao contrário, em sua raiz mesma encontra obscuramente a intuição de que não há tempos definitivos, seguros, para sempre cristalizados, mas que pelo contrário essa pretensão de que um tempo de vida — o chamado “cultura moderna” — fosse definitivo, parece-nos uma obcecação e estreiteza inverossímeis do campo visual. E ao sentir assim percebemos uma deliciosa impressão de nos havermos evadido de um recinto estreito e hermético, de haver escapado, e sair de novo sob as estrelas ao mundo autêntico, profundo, terrível, imprevisível e inesgotável, onde tudo, tudo é possível: o melhor e o pior. A fé na cultura moderna era triste: era saber que amanhã ia ser em todo o essencial igual a hoje, que o progresso consistia só em avançar com todos os sempres sobre um caminho idêntico ao que já estava sob nossos pés. Um caminho assim é a bem dizer uma prisão que, elástica, se alarga sem nos libertar.
Quando nos começos do Império algum fino provinciano chegava a Roma — Lucano, por exemplo, ou Sêneca — e via as majestosas construções imperiais, símbolo de poder definitivo, sentia contrair-se seu coração. Já nada novo podia haver no mundo. Roma era eterna. E se há uma melancolia das ruínas, que se levanta delas como a evaporação das águas mortas, o provinciano sensível percebia uma melancolia não menos penosa, ainda que de signo inverso: a melancolia dos edifícios eternos.
Diante desse estado emotivo, não é evidente que a sensação de nossa época se parece mais à alegria e alvoroço de meninos que escaparam da escola? Agora já não sabemos o que vai haver amanhã no mundo, e isso secretamente nos regozija; porque isso, ser imprevisível, ser um horizonte sempre aberto a toda possibilidade, é a vida autêntica, é a verdadeira plenitude da vida.
Contrasta este diagnóstico, ao qual falta, é certo, sua outra metade, com o queixume de decadência que choraminga nas páginas de tantos contemporâneos. Trata-se de um erro ótico que provém de múltiplas causas. Outro dia veremos algumas; mas hoje quero antecipar a mais óbvia: provém de que, fiéis a uma ideologia, em minha opinião perigosa, olham da história só a política ou a cultura, e não advertem que tudo isso é só a superfície da história; que a realidade histórica é, antes que isso e mais fundo que isso, um puro afã de viver, uma potência parecida às cósmicas; não a mesma, portanto, não natural, mas sim irmã da que inquieta o mar, fecunda a fera, põe flor na árvore, faz tremeluzir a estrela.
Diante dos diagnósticos de decadência eu recomendo o seguinte raciocínio:
A decadência é, claro está, um conceito comparativo. Decai-se de um estado superior para um estado inferior. Ora bem: essa comparação pode fazer-se desde os pontos de vista mais diferentes e vários que caiba imaginar. Para um fabricante de boquilhas de âmbar, o mundo está em decadência porque já não se fuma apenas com boquilhas de âmbar. Outros pontos de vista serão mais respeitáveis que este, mas, a rigor, não deixam de ser parciais, arbitrários e externos à própria vida cujos quilates se trata precisamente de avaliar. Não há mais que um ponto de vista justificado e natural: instalar-se nessa vida, contemplá-la de dentro e ver se ela se sente a si mesma decaída, isto é, minguada, debilitada e insípida.
Mas, embora olhada por dentro de si mesma, como se conhece que uma vida se sente ou não decair? Para mim não cabe dúvida a respeito do sintoma decisivo: uma vida que não prefere outra nenhuma de antes, de nenhum antes, portanto, que se prefere a si mesma, não pode em nenhum sentido sério chamar-se decadente. Toda a minha excursão sobre o problema da altitude dos tempos perseguia esta conclusão. Pois acontece que precisamente o nosso goza neste ponto de uma sensação estranhíssima; que eu saiba, única até agora na história conhecida.
Nos salões do último século chegava indefectivelmente uma hora em que as damas e seus poetas amestrados faziam entre si esta pergunta: Em que época quisera você haver vivido? E eis aqui que cada um, encarnando a figura de sua própria vida, se dedicava a vagar imaginavelmente pelas vias históricas em busca de um tempo onde encaixar a gosto o perfil de sua existência. E é que, embora sentindo-se, ou por sentir-se em plenitude, esse século XIX ficava, com efeito, ligado ao passado, sobre cujos ombros acreditava estar; via-se, com efeito, como a culminação do passado. Daí que ainda acreditasse em épocas relativamente clássicas — o século de Péricles, o Renascimento —, onde se haviam preparado os valores vigentes. Isto bastaria para nos fazer suspeitar dos tempos de plenitude; levam a cara voltada para trás, olham o passado que neles se cumpre.
Pois bem: que diria sinceramente qualquer homem representativo do presente a quem se fizesse uma pergunta parecida? Eu creio que não é duvidoso: qualquer passado, sem excluir nenhum, lhe daria a impressão de um recinto angustioso onde não podia respirar. Isto é, que o homem do presente sente que sua vida é mais vida que todas as antigas, ou dito às avessas, que o passado íntegro ficou pequeno para a humanidade atual. Esta intuição de nossa vida de hoje anula com sua claridade elemental toda lucubração sobre decadência que não seja muito cautelosa.
Nossa vida sente-se, entretanto, de maior tamanho que todas as vidas. Como poderá sentir-se decadente? Pelo contrário: o que aconteceu é que, de tanto sentir-se mais vida, perdeu todo o respeito, toda a atenção ao passado. Daí que pela primeira vez nos encontremos com uma época que faz tábua rasa de todo classicismo, que não reconhece em nada pretérito possível modelo ou norma, e sobrevinda ao cabo de tantos séculos sem descontinuidade de evolução, parece, não obstante, um começo, uma alvorada, uma iniciação, uma infância. Olhamos para trás e o famoso Renascimento nos parece um tempo angustiosíssimo; provincial, de atitudes vãs — por que não dizê-lo? —, de mau gosto.
Eu resumia, há tempos, tal situação na forma seguinte: “Esta grave dissociação de pretérito e presente é o fato geral de nossa época e nela vai incluída a suspeita, mais ou menos confusa, que engendra a inquietude peculiar da vida nestes anos. Sentimos que de repente ficamos sós sobre a terra os homens atuais, que os mortos não morreram de brincadeira, mas completamente; que já não nos podem ajudar. O resto do espírito tradicional evaporou-se. Os modelos, as normas, as pautas não nos servem. Temos de resolver nossos problemas sem colaboração ativa do passado, em pleno atualismo — sejam de arte, de ciência ou de política —. O europeu está só, sem mortos viventes perto de si; como Pedro Schlehmil, perdeu sua sombra. E o que acontece sempre que chega o meio-dia(32)
Qual é, em resumo, a altura de nosso tempo?
Não é plenitude dos tempos, e entretanto, sente-se sobre todos os tempos sidos e por cima de todas as conhecidas plenitudes. Não é fácil formular a impressão que de si mesma tem nossa época: crê ser mais que as demais, e ao mesmo tempo sente-se como um começo, sem estar segura de não ser agonia. Que expressão escolheremos? Talvez esta: mais que os demais tempos e inferior a si mesma. Fortíssima e ao mesmo tempo insegura de seu destino. Orgulhosa de suas forças e ao mesmo tempo temendo-as.
IV. O CRESCIMENTO DA VIDA
O império das massas e o ascenso de nível, a altitude do tempo que ele anuncia, não são por sua vez mais que sintoma de um fato mais completo e geral. Este fato é quase grotesco e incrível em sua simples evidência. É, simplesmente, que o mundo, de repente, cresceu, e com ele e nele, a vida. A vida mundializou-se efetivamente; quero dizer que o conteúdo da vida no homem de tipo médio é hoje todo o planeta; que cada indivíduo vive habitualmente todo o mundo. Há pouco mais de um ano, os sevilhanos acompanhavam, hora a hora, em seus jornais populares, o que estava acontecendo com uns homens junto ao Pólo; quero dizer, que sobre o fundo ardente da campina bética passavam blocos de gelo à deriva. Cada pedaço de terra não está já recluído em seu lugar geométrico, mas para muitos efeitos vitais atua nos demais pontos do planeta. Segundo o princípio físico de que as coisas estão ali onde atuam, reconheceremos hoje a qualquer ponto do globo a mais efetiva ubiqüidade. Esta proximidade do longínquo, esta presença do ausente, aumentou em proporção fabulosa o horizonte de cada vida.
E o mundo cresceu também temporalmente. A pré-história e a arqueologia descobriram âmbitos históricos de longitude quimérica. Civilizações inteiras e impérios dos quais nem o nome se suspeitava, foram anexados a nossa memória como novos continentes. O jornal ilustrado e o cinema trouxeram estes remotíssimos pedaços de mundo à visão imediata do vulgo.
Mas este aumento espácio-temporal do mundo não significaria por si nada. O espaço e o tempo físicos são o absolutamente estúpido do universo. Por isso é mais justificado do que sói crer-se o culto à velocidade que transitoriamente exercitam nossos contemporâneos. A velocidade feita de espaço e tempo não é menos estúpida que seus ingredientes; mas serve para anular aqueles. Uma estupidez não se pode dominar a não ser com outra. Era para o homem questão de honra triunfar no espaço e no tempo cósmicos(33), que carecem por completo de sentido, e não há razão para estranhar de que nos produza um pueril prazer fazer funcionar a vazia velocidade, com a qual matamos espaço e jugulamos tempo. Ao anulá-los, vivificamo-los, tornamos possível ser o aproveitamento vital, podemos estar em mais lugares que antes, gozar de mais idas e mais vindas, consumir em menos tempo vital mais tempo cósmico.
Mas, em definitivo, o crescimento substantivo do mundo não consiste em suas maiores dimensões, mas em que inclua mais coisas. Cada coisa — tome-se a palavra em seu mais amplo sentido — é algo que se pode desejar, tentar, fazer, desfazer, encontrar, gozar ou repelir; nomes todos que significam atividades vitais.
Tome-se qualquer uma de nossas atividades; por exemplo, comprar. Imaginem-se dois homens, um do presente e outro do século XVIII, que possuam fortuna igual, proporcionalmente ao valor do dinheiro em ambas as épocas, e compare-se o repertório de coisas em venda que se oferece a um e a outro. A diferença é quase fabulosa. A quantidade de possibilidades que se abrem ante o comprador atual chega a ser praticamente ilimitada. Não é fácil imaginar com o desejo um objeto que não exista no mercado, e vice-versa: não é possível que um homem imagine e deseje quanto se acha à venda. Dir-me-ão que, com fortuna proporcionalmente igual, o homem de hoje não poderá comprar mais coisas que o do século XVIII. O fato é falso. Hoje podem comprar-se muitas mais, porque a indústria barateou quase todos os artigos. Mas finalmente não me importaria que o fato fosse certo; pelo contrário, sublinharia mais o que tento dizer.
A atividade de comprar conclui em decidir-se por um objeto; mas é também antes uma eleição, e a eleição começa por perceber as possibilidades que oferece o mercado. De onde resulta que a vida, em seu modo “comprar”, consiste primeiramente em viver as possibilidades de compra como tais. Quando se fala de nossa vida sói esquecer-se disto, que me parece essencialíssimo: nossa vida é em todo instante e antes que nada consciência do que nos é possível. Se em cada momento não tivéssemos à nossa frente mais que uma só possibilidade, careceria de sentido chamá-la assim. Seria apenas pura necessidade. Mas ai está: esse estranhíssimo fato de nossa vida possui a condição radical de que sempre encontra ante si várias saídas, que por serem várias adquirem o caráter de possibilidades entre as quais havemos de decidir(34). Tanto vale dizer que vivemos como dizer que nos encontramos em um ambiente de possibilidades determinadas. A este âmbito costuma chamar-se “as circunstâncias”. Toda vida é achar-se dentro da “circunstância” ou mundo(35). Porque este é o sentido originário da idéia (mundo). Mundo é o repertório de nossas possibilidades vitais. Não é, pois, algo à parte e alheio a nossa vida, mas que é sua autêntica periferia. Representa o que podemos ser; portanto, nossa potencialidade vital. Esta tem de se concretizar para realizar-se, ou, dito de outra maneira, chegamos a ser só uma parte mínima do que podemos ser. Daí que nos parece o mundo uma coisa tão enorme, e nós, dentro dele, uma coisa tão pequena. O mundo ou nossa vida possível é sempre mais que nosso destino ou vida efetiva.
Mas agora importa-me só fazer notar como cresceu a vida do homem na dimensão de potencialidade. Conta com um âmbito de possibilidade fabulosamente maior que nunca. Na ordem intelectual encontra mais caminho de possível ideação, mais problemas, mais dados, mais ciências, mais pontos de vista. Enquanto os ofícios ou carreiras na vida primitiva se numeram quase com os dedos de u’a mão — pastor, caçador, guerreiro, mago —, o programa de misteres possíveis hoje é superlativamente grande. Nos prazeres acontece coisa parecida, se bem — e o fenômeno tem mais gravidade do que se supõe — não é seu elenco tão exuberante como nos demais aspectos da vida. Entretanto, para o homem de vida média que habita as urbes — e as urbes são a representação da existência atual —, as possibilidades de gozar aumentaram, no que vai de século, de uma maneira fantástica.
Mas o crescimento da potencialidade vital não se reduz ao dito até aqui. Aumentou também em um sentido mais imediato e misterioso. É um fato constante e notório que no esforço físico e esportivo se cumpram hoje performances que superam enormemente quantas se conhecem do passado. Não basta admirar cada uma delas e reconhecer o record que batem, mas advertir a impressão de que o organismo humano possui em nosso tempo capacidades superiores às que nunca teve. Porque coisa similar acontece na ciência. Em um par de lustros tão somente, esta ampliou e inverossimilmente seu horizonte cósmico. A física de Einstein move-se em espaços tão vastos, que a antiga física de Newton ocupa neles apenas um sótão(36) E este crescimento extensivo se deve a um crescimento intensivo na precisão científica. A física de Einstein está feita atendendo às mínimas diferenças que antes se desprezavam e não entravam em conta por parecer sem importância. O átomo, enfim, limite ontem do mundo, hoje inchou até se converter em todo um sistema planetário. E em tudo isto não me refiro ao que possa significar como perfeição da cultura — isso não me interessa agora —, mas ao crescimento das potências subjetivas que tudo isso supõe. Não ressalto que a física de Einstein seja mais exata que a de Newton, mas que o homem Einstein seja capaz de maior exatidão e liberdade de espírito(37) que o homem Newton; do mesmo modo que o campeão de boxe dá hoje murros de maior calibre que jamais se deram.
Como o cinematógrafo e a ilustração põem ante os olhos do homem médio os lugares mais remotos do planeta, os jornais e as conversações lhe fazem chegar a notícia destas performances intelectuais que os aparelhos técnicos recém-inventados confirmam desde as vitrinas. Tudo isso decanta em sua mente a impressão de fabulosa prepotência.
Não quero dizer com o dito que a vida humana seja hoje melhor que em outros tempos. Não falei da atualidade da vida presente, mas apenas de seu crescimento, de seu avanço quantitativo ou potencial. Creio com isso descrever rigorosamente a consciência do homem atual, seu tom vital que consiste em sentir-se com maior potencialidade que nunca e parecer-lhe todo o pretérito afetado de pequenez.
Era necessária esta descrição para obviar as lucubrações sobre decadência, e, em espécie, sobre decadência ocidental que pulularam no ar do último decênio. Recorde-se o raciocínio que eu fazia, e que me parece tão simples como evidente. Não vale falar de decadência sem precisar que é o que decai. Refere-se o pessimista vocábulo à cultura? Há uma decadência da cultura européia? Há somente uma decadência das organizações nacionais européias? Suponhamos que sim. Bastaria isso para falar da decadência ocidental? De modo algum. Porque são estas decadências diminuições parciais, relativas a elementos secundários da história — cultura e nações —. Só há uma decadência absoluta: a que consiste numa vitalidade minguante; e esta só existe quando se sente. Por esta razão me detive a considerar um fenômeno que sói desatender-se: a consciência ou sensação que toda época tem de sua altitude vital.
Isto nos leva a falar da “plenitude” que sentiram alguns séculos diante de outros que, inversamente, se viam a si mesmos como decaídos de maiores alturas, de antigas e deslumbrantes idades de ouro. E concluía eu fazendo notar o fato evidentíssimo de que nosso tempo se caracteriza por uma estranha presunção de ser mais que todo o tempo passado; mais ainda: por desentender-se de todo pretérito, não reconhecer épocas clássicas e normativas, senão ver-se a si mesmo como uma vida nova superior a todas as antigas e irredutível a elas.
Duvido que sem se afiançar bem nesta advertência se possa entender o nosso tempo. Porque esse é precisamente seu problema. Se se sentisse decaído, veria outras épocas como superiores a ele e isto seria uma e mesma coisa com estimá-las e admirá-las e venerar os princípios que as informaram. Nosso tempo teria ideais claros e firmes, ainda que fosse incapaz de realizá-los. Mas a verdade é estritamente o contrário: vivemos em um tempo que se sente fabulosamente capaz para realizar, mas que não sabe o que realizar. Domina todas as coisas, mas não é dono de si mesmo. Sente-se perdido em sua própria abundância. Com mais meios, mais saber, mais técnicas que nunca, o mundo atual vai como o mais infeliz que tenha havido: puramente ao acaso.
Daí essa estranha dualidade de prepotência e insegurança que se aninha na alma contemporânea. Acontece-lhe como se dizia do Regente durante a infância de Luiz XV — que tinha todos os talentos, menos o talento para usar deles. Muitas coisas pareciam já impossíveis ao século XIX, firme em sua fé progressista. Hoje, de tanto nos parecer tudo possível, pressentimos que é possível o pior: o retrocesso, a barbárie, a decadência(38). Por si mesmo não seria isto um mau sintoma: significaria que voltamos a tomar contato com a insegurança essencial a todo viver, com a inquietude a um tempo dolorosa e deliciosa que vai encerrada em cada minuto se sabemos vivê-lo até o seu centro, até sua pequena víscera palpitante e cruenta. Geralmente, recusamos tomar essa pulsação pavorosa que faz de cada instante sincero um miúdo coração transeunte; esforçando-nos por ganhar segurança e insensibilizar-nos para o dramatismo radical do nosso destino, vertendo sobre ele o costume, o uso, o tópico — todos os clorofórmios — .É, pois, benéfico que pela primeira vez depois de quase três séculos nos surpreendamos com a consciência de não saber o que vai acontecer amanhã.
Todo aquele que se coloque ante a existência numa atitude séria e se faça dela plenamente responsável, sentirá certo gênero de insegurança que o incita a permanecer alerta. A atitude que a ordenança romana impunha à sentinela da legião era manter o indicador sobre os lábios para evitar a sonolência e manter-se atenta. Não está mal esse ademane, que parece imperar um maior silêncio ao silêncio noturno, para poder ouvir a secreta germinação do futuro. A segurança das épocas de plenitude — assim na última centúria — é uma ilusão ótica que leva a despreocupar-se do porvir, encarregando de sua direção a mecânica do universo. O mesmo que o liberalismo progressista é o socialismo de Marx, supõem que o desejado por eles como futuro ótimo se realizará, inexoravelmente, com necessidade parelha à astronômica. Protegidos ante sua própria consciência por essa idéia, soltaram o leme da história, deixaram de estar alerta, perderam a agilidade e a eficácia. Assim, a vida se lhes escapou dentre as mãos, fez-se por completo insubmissa, e hoje anda solta, sem rumo conhecido. Sob sua máscara de generoso futurismo, o progressista não se preocupa do futuro; convencido de que não tem surpresa nem segredos, peripécias nem inovações essenciais; certo de que já o mundo irá em linha reta, sem desvios nem retrocessos, retrai sua inquietude do porvir e se instala num definitivo presente. Não poderá estranhar que hoje o mundo pareça vazio de projetos, antecipações e ideais. Ninguém se preocupou de preveni-los. Tal tem sido a deserção das minorias dirigentes, que se acha sempre ao reverso da rebelião das massas.
Mas já é tempo de que voltemos a falar desta. Depois de haver insistido na vertente favorável que apresenta o triunfo das massas, convém que nos deslizemos por sua outra ladeira, mais perigosa.
V. UM DADO ESTATÍSTICO
Este ensaio quisera vislumbrar o diagnóstico de nosso tempo, de nossa vida atual. Vai enunciada a primeira parte dele, que pode resumir-se assim: nossa vida, como repertório de possibilidades, é magnífica, exuberante, superior a todas as historicamente conhecidas. Mas assim como seu formato é maior, transbordou todos os caminhos, princípios, normas e ideais legados pela tradição. É mais vida que todas as vidas, e por isso mesmo mais problemática. Não pode orientar-se no pretérito(39). Tem de inventar seu próprio destino.
Mas agora é preciso completar o diagnóstico. A vida, que é, antes de tudo, o que podemos ser, vida possível, é também, e por isso mesmo, decidir entre as possibilidades o que em efeito vamos ser. Circunstâncias e decisão são os dois elementos radicais de que se compõe a vida. A circunstância — as possibilidades — é o que de nossa vida nos é dado e imposto. Isso constitui o que chamamos o mundo. A vida não elege seu mundo, mas viver é encontrar-se, imediatamente, em um mundo determinado e insubstituível: neste de agora. Nosso mundo é a dimensão de fatalidade que integra nossa vida. Mas esta fatalidade vital não se parece à mecânica. Não somos arremessados para a existência como a bala de um fuzil, cuja trajetória está absolutamente predeterminada. A fatalidade em que caímos ao cair neste mundo — o mundo é sempre este, este de agora — consiste em todo o contrário. Em vez de impor-nos uma trajetória, impõe-nos várias e, consequentemente, nos força... a eleger. Surpreendente condição a de nossa vida! Viver é sentir-se fatalmente forçado a exercitar a liberdade, a decidir o que vamos ser neste mundo. Nem um só instante se deixa descansar nossa atividade de decisão. Inclusive quando desesperados nos abandonamos ao que queira vir, decidimos não decidir.
É, pois, falso dizer que na vida “decidem as circunstâncias”. Pelo contrário: as circunstâncias são o dilema, sempre novo, ante o qual temos de nos decidir. Mas quem decide é o nosso caráter.
Tudo isto vale também para a vida coletiva. Também nela há, primeiro, um horizonte de possibilidades, e, depois, uma resolução que elege e decide o modo efetivo da existência coletiva. Esta resolução emana do caráter que a sociedade tenha, ou, o que é o mesmo, do tipo de homem dominante nela. Em nosso tempo, domina o homem-massa; é ele quem decide. Não se diga que isto era o que acontecia já na época da democracia, do sufrágio universal. No sufrágio universal não decidem as massas, senão que seu papel consistiu em aderir à decisão de uma ou outra minoria. Estas apresentavam seus “programas” — excelente vocábulo —. Os programas eram, com efeito, programas de vida coletiva. Neles convidava-se a massa a aceitar um projeto de decisão.
Hoje acontece uma coisa muito diferente. Se se observa a vida pública dos países onde o triunfo das massas avançou mais — são os países mediterrâneos —, surpreende notar que neles se vive politicamente ao dia. O fenômeno é sobremaneira estranho. O Poder público acha-se em mãos de um representante de massas. Estas são tão poderosas, que aniquilaram toda possível oposição. São donas do Poder público em forma tão incontrastável e superlativa, que seria difícil encontrar na história situações de governo tão prepotentes como estas. E, entretanto, o Poder público, o Governo, vive ao dia; não se apresenta como um porvir franco, não significa um anúncio claro de futuro, não aparece como começo de algo cujo desenvolvimento ou evolução seja imaginável. Em suma, vive sem programa de vida, sem projeto. Não sabe aonde vai porque, a rigor, não vai, não tem caminho prefixado, trajetória antecipada. Quando esse poder público tenta justificar-se, não alude para nada ao futuro, senão, pelo contrário, fecha-se no presente e diz com perfeita sinceridade: “Sou um modo anormal de governo que é imposto pelas circunstâncias”. Quer dizer, pela urgência do presente, não por cálculos do futuro. Daí que sua atuação se reduza a evitar o conflito de cada hora; não a resolvê-lo, mas a escapar dele imediatamente, empregando os meios que sejam, ainda à custa de acumular com seu emprego maiores conflitos sobre a hora próxima. Assim tem sido sempre o Poder público quando o exerceram diretamente as massas: onipotente e efêmero. O homem-massa é o homem cuja vida carece de projeto e caminha ao acaso. Por isso não constrói nada, ainda que suas possibilidades, seus poderes, sejam enormes.
E este tipo de homem decide em nosso tempo. Convém, pois, que analisemos seu caráter.
A chave para esta análise encontra-se quando, retrocedendo ao começo deste ensaio, nos perguntamos: de onde vieram todas estas multidões que agora enchem e transbordam o cenário histórico?
Há alguns anos destacava o grande economista Werner Sombart um dado simplicíssimo, que é estranho não conste em toda cabeça que se preocupe dos assuntos contemporâneos. Este simplicíssimo dado basta por si só para esclarecer nossa visão da Europa atual, e se não basta, põe na pista de todo esclarecimento. O dado é o seguinte: desde que no século VI começa a história européia até o ano 1800 — portanto, em toda a longitude de doze séculos —, a Europa não consegue chegar a outra cifra de povoação senão a de 180 milhões de habitantes. Pois bem: de 1800 a 1914 — portanto, em pouco mais de um século, a população européia ascende de 180 a 460 milhões! Presumo que o contraste destas cifras não deixa lugar a dúvidas a respeito dos dotes prolíficos da última centúria. Em três gerações produziram gigantescamente massa humana que, lançada como uma torrente sobre a área histórica, a inundou. Bastaria, repito, este dado para compreender o triunfo das massas e quanto nele se reflete e se anuncia. Por outra parte, deve ser acrescido como o somando mais concreto ao crescimento da vida como antes fiz constar.
Mas ao mesmo tempo nos mostra esse dado que é infundada a admiração com que ressaltamos o crescimento de países novos como os Estados Unidos da América. Maravilha-nos seu crescimento, que num século chegou a 100 milhões de homens, quando o maravilhoso é a proliferação da Europa. Eis aqui outra razão para corrigir o espelhismo que supõe uma americanização da Europa. Nem sequer o traço que pudera aparecer mais evidente para caracterizar a América — a velocidade de aumento em sua povoação — lhe é peculiar. A Europa cresceu no século passado muito mais que a América. A América está feita com a sobra da Europa.
Mas ainda que não seja tão conhecido como devera o dado calculado por Werner Sombart, era de sobra notório o fato confuso de haver aumentado consideravelmente a povoação européia para insistir nele. Não é, pois, o aumento de população o que nas cifras transcritas me interessa, senão que mercê a seu contraste põe em relevo a impetuosidade do crescimento. Esta é a que agora nos importa. Porque esta impetuosidade significa que têm sido projetados a magotes sobre a história montões e montões de homens em ritmo tão acelerado, que não era fácil saturá-los da cultura tradicional.
E, com efeito, o tipo médio do atual homem europeu possui uma alma mais sã e mais forte que as do passado século, porém muito mais simples. Daí que às vezes produza a impressão de um homem primitivo surgido inesperadamente em meio a uma velhíssima civilização. Nas escolas que tanto orgulhavam o passado século, não se pode fazer outra coisa senão ensinar às massas as técnicas da vida moderna, mas não foi possível educá-las. Deram-se-lhe instrumentos para viver intensamente, mas não sensibilidade para os grandes deveres históricos; inoculou-se-lhes atropeladamente o orgulho e o poder dos meios modernos, mas não o espírito. Por isto não querem nada com o espírito, e as novas gerações dispõem-se a tomar o comando do mundo como se o mundo fosse um paraíso sem rastros antigos, sem problemas tradicionais e complexos.
Corresponde, pois, ao século passado a glória e a responsabilidade de haver soltado sobre a face da história as grandes multidões. Por essa razão oferece este fato a perspectiva mais adequada para julgar com eqüidade essa centúria. Algo extraordinário, incomparável, devia haver nela quando na sua atmosfera se produzem tais colheitas de fruto humano. É frívola e ridícula toda preferência dos princípios que inspiraram qualquer outra idade pretérita se antes não demonstra que se encarregou deste fato magnífico e tentou digeri-lo. Aparece a história inteira como um gigantesco laboratório onde se fizeram os ensaios imagináveis para obter uma fórmula de vida pública que favorecesse a planta “homem”. E ultrapassando toda possível sofisticação, encontramo-nos com a experiência de que ao submeter a semente humana ao tratamento destes dois princípios, democracia liberal e técnica, num só século, triplicasse a espécie européia.
Fato tão exuberante força-nos, se não preferirmos ser dementes, a tirar estas conseqüências: primeira, que a democracia liberal fundada na criação técnica é o tipo superior de vida pública até agora conhecido; segunda, que esse tipo de vida não será o melhor imaginável, mas o que imaginemos melhor terá de conservar o essencial daqueles princípios; terceira, que é suicida todo retorno a formas de vida inferiores à do século XIX.
Uma vez reconhecido isto com toda a claridade que demanda a claridade do próprio fato, é preciso revolver-se contra o século XIX. Se é evidente que havia nele algo extraordinário e incomparável, não o é menos que deveu padecer certos vícios radicais, certas constitutivas insuficiências quando engendrou uma casta de homens — os homens-massa rebeldes — que põem em perigo iminente os princípios mesmos a que deveram a vida. Se esse tipo humano continua dono da Europa e é definitivamente quem decide, bastarão trinta anos para que nosso continente retroceda à barbárie. As técnicas jurídicas e materiais se volatilizarão com a mesma facilidade com que se perderam tantas vezes segredos de fabricação(40). A vida toda se contrairá. A atual abundância de possibilidades se converterá em efetiva míngua, escassez, impotência angustiosa, em verdadeira decadência. Porque a rebelião das massas é uma e mesma coisa com o que Rathenau chamava “a invasão vertical dos bárbaros”.
Importa, pois, muito conhecer a fundo este homem-massa, que é pura potência do maior bem e do maior mal.
VI. COMEÇA A DISSECAÇÃO DO HOMEM-MASSA
Como é este homem-massa que domina hoje a vida pública — a vida política e a não política? Por que é como é, quero dizer, como se produziu?
Convém responder conjuntamente a ambas as questões, porque se prestam mútuo esclarecimento. O homem que agora tenta pôr-se à frente da existência européia é muito diferente daquele que dirigiu o século XIX, mas foi produzido e preparado no século XIX. Qualquer mente perspicaz de 1820, de 1850, 1880, pode, por um simples raciocínio a priori, prever a gravidade da situação histórica atual. E, com efeito, nada novo acontece que não tenha sido previsto há cem anos. “As massas avançam!” dizia, apocalíptico, Hegel. “Sem um novo poder espiritual, nossa época, que é uma época revolucionária, produzirá uma catástrofe”, anunciava Augusto Comte.
“Vejo subir a preamar do nihilismo!”, gritava de um penhasco alcantilado da Engadina o bigodudo Nietzche. É falso dizer que a história não é previsível. Inúmeras vezes tem sido profetizada. Se o porvir não oferecesse um flanco à profecia, não poderíamos tampouco compreendê-la quando logo se cumpre e se faz passado. A idéia de que o historiador é um profeta pelo avesso resume toda a filosofia.
Situação de tal modo aberta e franca tinha por força que decantar no estrato mais profundo dessas da história. Certamente que só cabe antecipar a estrutura geral do futuro; por isso mesmo é o único que, em verdade, compreendemos do pretérito ou do presente. Por isso, se o senhor quer ver bem sua época, olhe-a de longe. A que distância? Muito simples: à distância justa que o impeça ver o nariz de Cleópatra.
Que aspecto oferece a vida desse homem multitudinário, que com progressiva abundância vai engendrando o século XIX? Desde já, um aspecto de omnimoda facilidade material. Nunca pode o homem médio resolver com tanta folga seu problema econômico. Enquanto em proporção diminuíam as grandes fortunas e se tornava mais dura a existência do operário industrial, o homem médio de qualquer classe social encontrava cada dia mais franco seu horizonte econômico. Cada dia ajuntava um novo luxo ao repertório de seu standard vital. Cada dia sua posição era mais segura e mais independente do arbítrio alheio. O que antes se houvera considerado comum benefício da sorte que inspirava humilde gratidão ao destino, converteu-se num direito que não se agradece, mas que se exige.
Desde 1900 começa também o operário a ampliar e assegurar a sua vida. Entretanto, tem de lutar para consegui-lo. Não se encontra, como o homem médio, com um bem-estar posto diante dele solicitamente por uma sociedade e um Estado que são um portento de organização.
A esta facilidade e segurança econômica ajuntam-se as físicas: o confort e a ordem pública. A vida marcha sobre cômodos carris, e não há verossimilitude de que intervenha nela nada violento e perigoso. Tal imagem limita-se a incutir nas almas médias uma impressão vital, que podia expressar-se com a perífrase, tão graciosa e aguda, de nosso velho povo: “ampla é Castela”. Quer dizer que em todas essas ordens elementares e decisivas a vida se apresentou ao homem novo isenta de impedimentos. A compreensão deste fato e sua importância surgem automaticamente quando se recorda que essa franquia vital faltou por completo aos homens vulgares do passado. Foi, pelo contrário, para eles a vida um destino angustiante — no econômico e no físico —. Sentiram o viver a nativitate como um cúmulo de impedimentos que era forçoso suportar, sem que coubera outra solução que não fosse adaptar-se a eles, alojar-se na estreiteza que deixavam.
Mas é ainda mais clara a contraposição de situações se do material passamos ao civil e moral. O homem médio, desde a segunda metade do século XIX, não acha ante si barreiras sociais nenhumas. Quer dizer, tampouco nas formas da vida pública encontra-se ao nascer com entraves e limitações. Nada o obriga a conter sua vida. Também aqui “ampla é Castela”. Não existem os “estados” nem as “castas”. Não há ninguém civilmente privilegiado. O homem médio aprende que todos os homens são legalmente iguais.
Jamais em toda a história havia sido posto o homem numa circunstância ou contorno vital que se parecesse nem de longe ao que essas condições determinam. Trata-se, com efeito, de uma inovação radical no destino humano, que é implantada pelo século XIX. Cria-se um novo cenário para a existência do homem, novo no físico e no social. Três princípios fizeram possível esse novo mundo: a democracia liberal, a experimentação científica e o industrialismo. Os dois últimos podem resumir-se num: a técnica. Nenhum desses princípios foi inventado pelo século XIX, mas procedem das duas centúrias anteriores. A honra do século XIX não estriba em sua invenção, mas em sua implantação. Ninguém desconhece isso. Mas não basta com o reconhecimento abstrato, e assim é preciso compreender perfeitamente suas inexoráveis conseqüências.
O século XIX foi essencialmente revolucionário. O que teve de tal não deve ser buscado no espetáculo de suas barricadas, que, simplesmente, não constituem uma revolução, mas que colocou o homem médio — a grande massa social — em condições de vida radicalmente opostas às que sempre a haviam rodeado. Virou pelo avesso a existência pública. A revolução não é a sublevação contra a ordem preexistente, mas a implantação de uma nova ordem que tergiversa a tradicional. Por isso não há exageração nenhuma em dizer que o homem engendrado pelo século XIX, é, para os efeitos da vida pública, um homem à parte de todos os demais homens. O do século XVIII se diferencia, está claro, do dominante no XVII, e este do que caracteriza ao XVI, mas todos eles são parentes, similares e ainda idênticos no essencial se se confronta com eles este homem novo. Para o “vulgo” de todas as épocas, “vida” havia significado, antes de tudo, limitação, obrigação, dependência; numa palavra, pressão. Se se quer, diga-se opressão, contanto que não se entenda por esta só a jurídica e social, esquecendo a cósmica. Porque esta última é a que não faltou nunca até cem anos científica — física e administrativa —, praticamente ilimitada. Ao contrário, até mesmo para o rico e poderoso, o mundo era um âmbito de pobreza, dificuldade e perigo(41)
O mundo que desde o nascimento rodeia o homem novo não o move a limitar-se em nenhum sentido, não lhe apresenta veto nem contenção alguma, mas pelo contrário fustiga seus apetites, que, em princípio, podem crescer indefinidamente. Pois acontece — e isto é muito importante — que esse mundo do século XIX e começos do XX não tem apenas as perfeições e amplitudes que de fato possui, mas que além disso sugere a seus habitantes uma segurança radical em que amanhã será ainda mais rico, mas perfeito e mais amplo, como se gozasse de um espontâneo e inesgotável crescimento. Todavia hoje, apesar de alguns signos que iniciam uma pequena brecha nessa fé rotunda, todavia hoje muito poucos homens duvidam de que os automóveis serão dentro de cinco anos mais confortáveis e mais baratos que os do dia. Acredita-se nisto tão firmemente como na próxima saída do sol. O sinal é formal. Porque, com efeito, o homem vulgar, ao encontrar-se com esse mundo técnica e socialmente tão perfeito, crê que o produziu a natureza, e não pensa nunca nos esforços geniais de indivíduos excelentes que supõe sua criação. Menos ainda admitirá a idéia de que todas estas facilidades continuam apoiando-se em certas difíceis virtudes dos homens, dos quais o menor malogro volatilizaria rapidissimamente a magnífica construção.
Isto nos leva a apontar no diagrama psicológico do homem-massa atual dois primeiros traços: a livre expansão de seus desejos vitais, portanto, de sua pessoa, e a radical ingratidão a tudo quanto tornou possível a facilidade de sua existência. Um e outro traço compõem a conhecida psicologia da criança mimada. E, com efeito, não erraria quem utilizasse esta como uma quadrícula para olhar através dela a alma das massas atuais. Herdeiro de um passado extensíssimo e genial — genial de inspirações e de esforços —, o novo vulgo tem sido mimado pelo mundo circunstante. Mimar não é limitar os desejos, dar a impressão a um ser de que tudo lhe está permitido e a nada está obrigado. A criatura submetida a este regime não tem a experiência de suas próprias limitações. À força de evitar-lhe toda pressão em redor, todo choque com outros seres, chega a crer efetivamente que só ele existe, e se acostuma a não contar com os demais, sobretudo a não contar com ninguém como superior a ele. Esta sensação da superioridade alheia só podia ser-lhe proporcionada por quem, mais forte que ele, lhe houvesse obrigado a renunciar a um desejo, a reduzir-se, a conter-se. Assim teria aprendido esta essencial disciplina: “Aí termino eu e começa outro que pode mais do que eu. No mundo, pelo visto, há dois: eu e outro superior a mim”. Ao homem médio de outras épocas ensinava-lhe quotidianamente seu mundo esta elemental sabedoria, porque era um mundo tão toscamente organizado, que as catástrofes eram freqüentes e não havia nele nada seguro, abundante nem estável. Mas as novas massas encontram uma paisagem cheia de possibilidades e além disso segura, e tudo isso presto, a sua disposição, sem depender de seu prévio esforço, como achamos o sol no alto sem que nós o tenhamos subido ao ombro. Nenhum ser humano agradece a outro o ar que respira, porque o ar não foi fabricado por ninguém: pertence ao conjunto do que “está aí”, do que dizemos “é natural”, porque não falta. Estas massas mimadas são suficientemente pouco inteligentes para crer que essa organização material e social, posta a sua disposição como o ar, é de sua própria origem, já que tampouco falha, ao que parece, e é quase tão perfeita como a natural.
Minha tese é, pois, esta: a própria perfeição com que o século XIX deu uma organização a certas ordens da vida, é origem de que as massas beneficiárias não a considerem como organização, mas como natureza. Assim se explica e define o absurdo estado de ânimo que essas massas revelam: não lhes preocupa mais que seu bem-estar e ao mesmo tempo são insolidárias das causas desse bem-estar. Como não vêem nas vantagens da civilização um invento e construção prodigiosos, que só com grandes esforços e cautelas se pode sustentar, crêem que seu papel se reduz a exigi-las peremptoriamente, como se fossem direitos nativos. Nos motins que a escassez provoca soem as massas populares buscar pão, e o meio que empregam sói ser destruir as padarias. Isto pode servir como símbolo do comportamento que em mais vastas e sutis proporções usam as massas atuais ante a civilização que as nutre(42).
VII. VIDA NOBRE E VIDA VULGAR,
OU ESFORÇO E INÉRCIA
Somos aquilo que nosso mundo nos convida a ser, e as feições fundamentais de nossa alma são impressas nela pelo perfil do contorno como por um molde. Naturalmente: viver não é mais que tratar com o mundo. O semblante geral que ele nos apresenta será o semblante geral de nossa vida. Por isso insisto tanto em fazer notar que o mundo de onde nasceram as massas atuais mostrava uma fisionomia radicalmente nova na história. Enquanto no pretérito viver significava para o homem médio encontrar a sua volta dificuldades, perigos, escassez, limitações de destino e dependência, o mundo novo aparece como um âmbito de possibilidades praticamente ilimitadas, sem dúvida, onde não se depende de ninguém. À volta desta impressão primária e permanente vai se formar cada alma contemporânea, como em volta da oposta se formaram as antigas. Porque esta impressão fundamental se converte em voz interior que murmura sem cessar umas como palavras no mais profundo da pessoa e lhe insinua tenazmente uma definição da vida que é, ao mesmo tempo, um imperativo. E se a impressão tradicional dizia: “Viver é sentir-se limitado e, por isso mesmo, ter de contar com o que nos limita”, a voz novíssima grita: “Viver é não encontrar limitação alguma; portanto, abandonar-se tranqüilamente a si mesmo. Praticamente nada é impossível, nada é perigoso e, em princípio, ninguém é superior a ninguém”.
Esta experiência básica modifica por completo a estrutura tradicional, perene, do homem-massa. Porque este se sentiu sempre constitutivamente condicionado a limitações materiais e a poderes superiores sociais. Isto era, a seus olhos, a vida. Se lograva melhorar sua situação, se ascendia socialmente, atribuía-o a um golpe da sorte, que lhe era nominativamente favorável. E quando não a isto, a um enorme esforço e ele sabia muito bem quanto lhe havia custado. Em um e outro caso tratava-se de uma exceção à índole normal da vida e do mundo; exceção que, como tal, era devida a alguma causa especialíssima.
Mas a nova massa encontra a plena franquia vital como estado nativo e estabelecido, sem causa especial nenhuma. Nada de fora a incita a reconhecer nela própria limites e, portanto, a contar em todo momento com outras instâncias, sobretudo com instâncias superiores. O labrego chinês acreditava, até há pouco, que o bem-estar de sua vida dependia das virtudes privadas que possuísse o seu Imperador. Portanto, sua vida era constantemente regulada por esta instância suprema de que dependia. Mas o homem que analisamos habitua-se a não apelar de si mesmo a nenhuma instância fora dele. Está satisfeito tal como é. Ingenuamente, sem necessidade de ser vão, como a coisa mais natural do mundo, tenderá a afirmar e considerar bom tudo quanto em si acha; opiniões, apetites, preferências ou gostos. Por que não, se, segundo vemos, nada nem ninguém o força a compreender que ele é um homem de segunda classe, limitadíssimo, incapaz de criar nem conservar a organização mesma que dá à sua vida essa amplitude e esse contentamento, nos quais baseia tal afirmação de sua pessoa?
Nunca o homem-massa teria apelado a nada fora dele se a circunstância não lhe houvesse forçado violentamente a isso. Como agora a circunstância não o obriga, o eterno homem-massa, conseqüente com sua índole, deixa de apelar e sente-se soberano de sua vida. Contrariamente, o homem seleto ou excelente está constituído por uma íntima necessidade de apelar de si mesmo a uma norma além dele, superior a ele, a cujo serviço livremente se põe. Lembre-se de que, no início, distinguíamos o homem excelente do homem vulgar dizendo: que aquele é o que exige muito de si mesmo, e este, o que não exige nada, apenas contenta-se com o que é e está encantado consigo mesmo(43). Contra o que sói crer-se, é a criatura de seleção, e não a massa, quem vive em essencial servidão. Sua vida não lhe apraz se não a faz consistir em serviço a algo transcendente. Por isso não estima a necessidade de servir como uma opressão. Quando esta, por infelicidade, lhe falta, sente desassossego e inventa novas normas mais difíceis, mais exigentes, que a oprimam. Isto é a vida como disciplina — a vida nobre —. A nobreza define-se pela exigência, pelas obrigações, não pelos direitos. Noblesse oblige. “Viver a gosto é de plebeu: o nobre aspira a ordenação e a lei” (Goethe). Os privilégios da nobreza não são originariamente concessões ou favores, mas, pelo contrário, são conquistas, e, em princípio, supõe sua conservação que o privilegiado seria capaz de reconquistá-las em todo instante, se fosse necessário e alguém se lho disputasse(44). Os direitos privados ou privilégios não são, pois, posse passiva e simples gozo, mas representam o perfil onde chega o esforço da pessoa. Contrariamente, os direitos comuns, como são os “do homem e do cidadão”, são propriedade passiva, puro usufruto e benefício, tão generoso do destino com que todo homem se encontra, e que não corresponde a esforço algum, como não seja o respirar e evitar a demência. Eu diria, pois, que o direito impessoal se tem e o pessoal se mantém.
É irritante a degeneração sofrida no vocabulário usual por uma palavra tão inspiradora como “nobreza”. Porque ao significar para muitos “nobreza de sangue” hereditária, converte-se em algo parecido aos direitos comuns, numa qualidade estática e passiva, que se recebe e transmite como uma coisa inerte. Mas o sentido próprio, o étimo do vocábulo “nobreza” é essencialmente dinâmico. Nobre significa o “conhecido”, entende-se o conhecido de todo o mundo, o famoso, que se deu a conhecer sobressaindo sobre a massa anônima. Implica um esforço insólito que motivou a fama. Nobre, pois, eqüivale a esforçado ou excelente. A nobreza ou fama do filho já é puro benefício. O filho é conhecido porque seu pai conseguiu ser famoso. É conhecido por reflexo, e, com efeito, a nobreza hereditária tem um caráter indireto, é luz espelhada, é nobreza lunar como feita com mortos. Só fica nela de vivo, autêntico, dinâmico, a incitação que produz no descendente a manter o nível de esforço que o antepassado alcançou. Sempre, ainda neste sentido desvirtuado, noblesse oblige. O nobre originário obriga-se a si mesmo, e ao nobre hereditário obriga-o a herança. Há, de qualquer modo, certa contradição na transferência da nobreza, desde o nobre inicial a seus sucessores. Mais lógicos os chineses, invertem a ordem da transmissão, e não é o pai quem enobrece o filho, mas o filho quem, ao conseguir a nobreza, a comunica a seus antepassados, destacando com o seu esforço sua estirpe humilde. Por isso, ao conceder os níveis de nobreza, graduam-se pelo número de gerações passadas que ficam prestigiadas, e há quem só torna nobre seu pai e quem alonga sua fama até o quinto ou décimo avô. Os antepassados vivem do homem atual, cuja nobreza é efetiva, atuante; em suma: é; não, foi(45).
A “nobreza” não aparece como termo formal até o Império romano, e precisamente para opô-lo à nobreza hereditária, já em decadência.
Para mim, nobreza é sinônimo de vida esforçada, posta sempre a superar-se a si mesma, a transcender do que já é para o que se propõe como dever e exigência. Desta maneira, a vida nobre fica contraposta à vida vulgar e inerte, que, estaticamente, se reclui a si mesma, condenada à perpétua imanência, caso uma força exterior não a obrigue a sair de si. Daí que chamemos massa a este modo de ser homem — não tanto porque seja multitudinário, quanto porque é inerte.
À medida que se avança pela vida, vamos nos fartando de advertir que a maior parte dos homens — e das mulheres — são incapazes de outro esforço que o estritamente imposto como reação a uma necessidade externa. Por isso mesmo ficam mais isolados, e como monumentalizados em nossa experiência, os pouquíssimos seres que conhecemos capazes de um esforço espontâneo e luxuoso. São os homens seletos, os nobres, os únicos ativos e não só reativos, para os quais viver é uma perpétua tensão, um incessante treinamento. Treinamento = áskesis. São os ascetas(46).
Não surpreenda esta aparente digressão. Para definir o homem-massa atual, que é tão massa como o de sempre, mas quer suplantar os excelentes, é preciso contrapô-lo às duas formas puras que nele se mesclam: a massa normal e o autêntico nobre ou esforçado.
Agora podemos caminhar mais depressa, porque já somos donos do que, a meu juízo, é a chave ou equação psicológica do tipo humano dominante hoje. Tudo que vem depois é conseqüência ou corolário dessa estrutura radical que poderia resumir-se assim: o mundo organizado pelo século XIX, ao produzir automaticamente um homem novo, intrometeu nele formidáveis apetites, poderosos meios de toda ordem para satisfazê-los — econômico, corporais (higiene, saúde média superior à de todos os tempos), civis e técnicos (entendo por estes a enormidade de conhecimentos parciais e de eficiência prática que hoje o homem médio possui e de que sempre careceu no passado) —. Depois de haver estabelecido nele todas estas potências, o século XIX o abandonou a si mesmo, e então, seguindo o homem médio sua índole natural, fechou-se dentro de si. Desta sorte, encontramo-nos com uma massa mais forte que a de nenhuma época, mas, a diferença da tradicional, hermética em si mesma, incapaz de atender a nada nem a ninguém, acreditando que se basta — em suma: indócil(47). Continuando as coisas como até aqui, cada dia se notará mais em toda a Europa — e por reflexo em todo o mundo — que as massas são incapazes de se deixar dirigir em nenhuma ordem. Nas horas difíceis que chegam para nosso continente, é possível que, subitamente angustiadas, tenham um momento a boa vontade de aceitar, em certas matérias especialmente angustiosas, a direção de minorias superiores.
Mas ainda essa boa vontade fracassará. Porque a disposição radical de sua alma está feita de hermetismo e indocilidade, porque lhe falta de nascença a função de atender ao que está além dela, sejam fatos, sejam pessoas. Quererão acompanhar a alguém, e não poderão. Quererão ouvir, e descobrirão que são surdas.
Por outra parte, é ilusório pensar que o homem médio vigente, por muito que tenha ascendido seu nível vital em comparação com o de outros tempos, poderá reger, por si mesmo, o processo da civilização. Digo processo, não já progresso. O simples processo de manter a civilização atual é superlativamente complexo e requer sutilezas incalculáveis. Mal pode governá-lo este homem-massa que aprendeu a usar muitos aparelhos de civilização, mas que se caracteriza por ignorar de raiz os princípios mesmos da civilização.
Reitero ao leitor que, paciente, tenha lido até aqui, a conveniência de não entender todos estes enunciados atribuindo-lhes, imediatamente, um significado político. A atividade política, que é de toda a vida pública a mais eficiente e mais visível, é, contrariamente, a derradeira, resultante de outras mais íntimas e impalpáveis. Assim, a indocilidade política não seria grave se não proviesse de uma mais profunda e decisiva indocilidade intelectual e moral. Por isso, enquanto não tenhamos analisado esta, faltará a última claridade ao teorema deste ensaio.
VIII. POR QUE AS MASSAS INTERVÊM EM TUDO
E POR QUE SÓ INTERVÊM VIOLENTAMENTE
Ficamos em que aconteceu algo sobremodo paradoxal, mas que em verdade era naturalíssimo: de tanto se mostrarem abertos mundo e vida ao homem medíocre, a alma fechou-se para ele. Pois bem: eu sustento que nessa obliteração das almas médias consiste a rebeldia das massas em que, por sua vez, consiste o gigantesco problema hoje levantado para a humanidade.
Já sei que muitos dos que me lêem não pensam como eu. Também isto é naturalíssimo e confirma o teorema. Pois ainda que em definitivo minha opinião fosse errônea, sempre ficaria o fato de que muitos destes leitores discrepantes não pensaram cinco minutos sobre tão complexa matéria. Como poderiam pensar como eu? Mas ao supor-se com direito a ter uma opinião sobre o assunto sem prévio esforço para forjá-la, manifestam seu exemplar senhorio ao modo absurdo de ser homem que eu chamei “massa rebelde”. Isso é precisamente ter obliterada, hermética, a alma. Neste caso tratar-se-ia de hermetismo intelectual. A pessoa encontra-se com um repertório de idéias dentro de si. Decide contentar-se com elas e considerar-se intelectualmente completa. Não sentindo nada de menos fora de si, instala-se definitivamente naquele repertório. Eis aí o mecanismo da obliteração.
O homem-massa sente-se perfeito. Um homem de seleção, para sentir-se perfeito, necessita ser especialmente vaidoso, e a crença na sua perfeição não está consubstancialmente unida a ele, não é ingênua, mas chega-lhe de sua vaidade e ainda para ele mesmo tem um caráter fictício, imaginário e problemático. Por isso o vaidoso necessita dos demais, busca neles a confirmação da idéia que quer ter de si mesmo. De sorte que nem ainda neste caso mórbido nem ainda “cegado” pela vaidade, consegue o homem nobre sentir-se em verdade completo. Contrariamente ao homem medíocre de nossos dias, ao novo Adão, não se lhe ocorre duvidar de sua própria plenitude. Sua confiança em si é, como de Adão, paradisíaca. O hermetismo nato de sua alma lhe impede o que seria condição prévia para descobrir sua insuficiência: comparar-se com outros seres. Comparar-se seria sair um pouco de si mesmo e trasladar-se ao próximo. Mas a alma medíocre é incapaz de transmigrações — esporte supremo.
Encontramo-nos, pois, com a mesma diferença que eternamente existe entre o tolo e o perspicaz. Este surpreende-se a si mesmo sempre a dois passos de ser tolo; por isso faz um esforço para escapar à iminente tolice, e nesse esforço consiste a inteligência. O tolo, ao contrário, não suspeita de si mesmo: julga-se discretíssimo, e daí a invejável tranqüilidade com que o néscio se assenta e instala em sua inépcia. Como esses insetos que não há maneira de extrair do orifício em que habitam, não há modo de desalojar o tolo de sua tolice, levá-lo de passeio um pouco além de sua cegueira e obrigá-lo a que contraste sua visão grosseira habitual com outros modos de ver mais sutis. O tolo é vitalício e impermeável. Por isso dizia Anatole France que o néscio é muito mais funesto que o malvado. Porque o malvado descansa algumas vezes; o néscio, jamais(48).
Não se trata de que o homem-massa seja tolo. Pelo contrário, o atual é mais esperto, tem mais capacidade intelectiva que o de nenhuma outra época. Mas essa capacidade não lhe serve de nada; a rigor, a vaga sensação de possuí-la apenas lhe serve para fechar-se mais em si mesmo e não usá-la. De uma vez para sempre consagra o sortimento de tópicos, prejuízos, ou, simplesmente, vocábulos ocos que o acaso amontoou no seu interior, e com um audácia que só se explica pela ingenuidade, impô-los-á por toda a parte. Isto é o que no primeiro capítulo enunciava eu como característico em nossa época: não que o vulgar creia que é destacado e não vulgar, mas que o vulgar proclame e imponha o direito da vulgaridade, ou a vulgaridade como um direito.
O império que sobre a vida pública hoje exerce a vulgaridade intelectual, é talvez o fator da presente situação mais novo, menos assimilável a nada do pretérito. Pelo menos na história européia até hoje, nunca o vulgo havia crido ter “idéias” sobre as coisas. Tinha crenças, tradições, experiências, provérbios, hábitos mentais, mas não se imaginava de posse de opiniões teóricas sobre o que as coisas são ou devem ser — por exemplo, sobre política ou sobre literatura —. Parecia-lhe bem ou mal o que o político projetava e fazia; dava ou retirava sua adesão, mas sua atitude reduzia-se a repercutir, positiva ou negativamente, a ação criadora de outros. Nunca se lhe ocorreu opor às “idéias” do político outras suas; nem sequer julgar as “idéias” do político do tribunal de outras “idéias” que cria possuir. A mesma coisa em arte e nas demais ordens da vida pública. Uma e inata consciência de sua limitação, de não estar qualificado para teorizar(49), vedava-o completamente. A conseqüência automática disto era que o vulgo não pensava, nem de longe, decidir em quase nenhuma das atividades públicas, que em sua maior parte são de índole teórica.
Hoje, pelo contrário, o homem médio tem as “idéias” mais taxativas sobre quanto acontece e deve acontecer no universo. Por isso perdeu o uso da audição. Para que ouvir, se já tem dentro de si o que necessita? Já não é época de ouvir, mas, pelo contrário, de julgar, de sentenciar, de decidir. Não há questão de vida pública em que não intervenha, cego e surdo como é, impondo suas “opiniões”.
Mas não é isto uma vantagem? Não representa um progresso enorme que as massas tenham “idéias”, quer dizer, que sejam cultas? De maneira alguma. As “idéias” deste homem médio não são autenticamente idéias, nem sua posse é cultura. A idéia é um xeque-mate à verdade. Quem queira ter idéias necessita antes dispor-se a querer a verdade e aceitar as regras do jogo que ela imponha. Não vale falar de idéias ou opiniões onde não se admite uma instância que a regula, uma série de normas às quais na discussão cabe apelar. Estas normas são os princípios da cultura. Não me importa quais são. O que digo é que não há cultura onde não há normas. A que nossos próximos possam recorrer. Não há cultura onde não há princípios de legalidade civil a que apelar. Não há cultura onde não há acatamento de certas últimas posições intelectuais a que referir-se na disputa(50). Não há cultura quando as relações econômicas não são presididas por um regime de tráfico sob o qual possam amparar-se. Não há cultura onde as polêmicas estéticas não reconhecem a necessidade de justificar a obra de arte.
Quando faltam todas essas coisas, não há cultura; há, no sentido mais estrito da palavra, barbárie. E isto é, não tenhamos ilusões, o que começa a haver na Europa sob a progressiva rebelião das massas. O viajante que chega a um país bárbaro, sabe que naquele território não regem princípios aos quais possa recorrer. Não há normas bárbaras propriamente ditas, a barbárie é ausência de norma e de possível apelação.
O mais e o menos de cultura mede-se pela maior ou menor precisão das normas. Onde há pouca, regulam estas a vida só grosso modo; onde há muita, penetram até o pormenor no exercício de todas as atividades. A escassez da cultura intelectual espanhola, isto é, do cultivo ou exercício disciplinado do intelecto, manifesta-se, não em que se saiba mais ou menos, mas na habitual falta de cautela e cuidados para ajustar-se à verdade que soem mostrar os que falam e escrevem. Não, pois, em que se acerte ou não — a verdade não está em nossa mão —, mas na falta de escrúpulo que leva a não cumprir os requisitos elementais para acertar. Continuamos sendo o eterno padre de aldeia que rebate triunfante o maniqueu, sem haver procurado antes averiguar o que pensa o maniqueu.
Qualquer pessoa pode perceber que na Europa, há alguns anos, começaram a acontecer “coisas esquisitas”. Para dar algum exemplo concreto destas coisas esquisitas mencionarei certos movimentos políticos, como o sindicalismo e o fascismo. Não se diga que parecem esquisitos simplesmente porque são novos. O entusiasmo pela inovação é de tal modo ingênito no europeu, que o levou a produzir a história mais inquieta de quantas se conhecem. Não se atribua, pois, o que estes novos fatos têm de esquisito ao que têm de novo, mas à estranhíssima bitola destas novidades. Sob as espécies de sindicalismo e fascismo aparece pela primeira vez na Europa um tipo de homem que não quer dar razões nem quer ter razão, mas que, simplesmente, se mostra resolvido a impor suas opiniões. Eis aqui o novo: o direito a não ter razão, a razão da sem-razão. Eu vejo nisso a manifestação mais palpável do novo modo de ser das massas, por haverem resolvido dirigir a sociedade sem ter capacidade para isso. Em sua conduta política revela-se a estrutura da alma nova da maneira mais crua e contundente, mas a chave está no hermetismo intelectual. O homem médio encontra-se com “ideais” dentro de si, mas carece da função de idear. Nem sequer suspeita qual é o elemento sutilíssimo em que as idéias vivem. Quer opinar, mas não quer aceitar as condições e supostos de todo opinar. Daqui que suas “idéias” não sejam efetivamente senão apetites ou palavras, como as romanças musicais.
Ter uma idéia é crer que se possuem as razões dela, e é, portanto, crer que existe uma razão, um orbe de verdades inteligíveis. Idear, opinar, é uma mesma coisa como apelar a tal instância, submeter-se a ela, aceitar seu Código e sua sentença, crer, portanto, que a forma superior da convivência é o diálogo em que se discutem as razões de nossas idéias. Mas o homem-massa sentir-se-ia perdido se aceitasse a discussão, e instintivamente repudia a obrigação de acatar essa instância suprema que se acha fora dele. Por isso, o “novo” é na Europa “acabar com as discussões”, e detesta-se toda forma de convivência que por si mesma implique acatamento de normas objetivas, desde a conversação até o Parlamento, passando pela ciência. Isso quer dizer que se renuncia à convivência de cultura, que é uma convivência sob normas, e retrocede-se a uma convivência bárbara. Suprimem-se todos os trâmites normais e se vai diretamente à imposição do que se deseja. O hermetismo da alma, que, como vimos antes, propele a massa para que intervenha em toda a vida pública, leva-a também, inexoravelmente, a um procedimento único de intervenção: a ação direta.
O dia em que se reconstrua a gênese de nosso tempo, advertir-se-á que as primeiras notas de sua peculiar melodia soaram naqueles grupos sindicalistas e realistas franceses por volta de 1900, inventores da maneira e da palavra “ação direta”. Perpetuamente o homem tem recorrido à violência: às vezes este recurso era simplesmente um crime, e não nos interessa. Em outras era a violência o meio a que recorria a quem havia esgotado todos os demais para defender a razão e a justiça que cria ter. Será muito lamentável que a condição humana leve volta e meia a esta forma de violência, mas é inegável que ela significa a maior homenagem à razão e à justiça. Tal violência não é outra coisa senão a razão exasperada. A força era, com efeito, a ultima ratio. Um pouco estupidamente tem se entendido com ironia esta expressão, que declara muito bem o prévio rendimento da força às normas racionais. A civilização não é outra coisa senão o ensaio de reduzir a força a ultima ratio. Agora começamos a ver isto com bastante clareza, porque a “ação direta” consiste em inverter a ordem e proclamar a violência como prima ratio; a rigor, como única razão é ela a norma que propõe a anulação de toda norma, que suprime tudo que medeia entre nosso propósito e sua imposição. É a Charta magna da barbárie.
Convém recordar que em todos os tempos, quando a massa por um ou outro motivo, atuou na vida pública, o fez em forma de “ação direta”. Foi, pois, sempre o modo de operar natural às massas. E corrobora energicamente a tese deste ensaio o fato patente de que agora, quando a intervenção direta das massas na vida pública passou de casual e infreqüente a ser o normal, apareça a “ação direta” oficialmente como norma reconhecida.
Toda a convivência humana vai caindo sob este novo regime em que se suprimem as instâncias indiretas. No trato social suprime-se a “boa educação”. A literatura, como “ação direta”, constitui-se no insulto. As relações sexuais reduzem seus trâmites.
Trâmites, normas, cortesia, usos intermediários, justiça, razão! de que veio inventar tudo isso, criar tanta complicação? Tudo isso se resume na palavra “civilização”, que, através da idéia de civis, o cidadão, descobre sua própria origem. Trata-se com tudo isso de fazer possível a cidade, a comunidade, a convivência. Por isso, se olhamos por dentro cada um desses instrumentos da civilização que acabo de enumerar, acharemos uma mesma entranha em todos. Todos, com efeito, supõem o desejo radical e progressivo de cada pessoa contar com as demais. Civilização é, antes de tudo, vontade de convivência. É se incivil e bárbaro na medida em que não se conte com os demais. A barbárie é tendência à dissociação. .E assim todas as épocas bárbaras têm sido tempo de espalhamento humano, pululação de mínimos grupos separados e hostis.
A forma que na política representou a mais alta vontade de convivência é a democracia liberal. Ela leva ao extremo a resolução de contar com o próximo e é protótipo da “ação indireta”. O liberalismo é o princípio de direito político segundo o qual o Poder público, não obstante ser onipotente, limita-se a si mesmo e procura, ainda à sua custa, deixar espaço no Estado que ele impera para que possam viver os que nem pensam nem sentem como ele, quer dizer, como os mais fortes, como a maioria. O liberalismo — convém hoje recordar isto — é a suprema generosidade: é o direito que a maioria outorga à minoria e é, portanto, o mais nobre grito que soou no planeta. Proclama a decisão de conviver com o inimigo; mais ainda, com o inimigo débil. Era inverossímil que a espécie humana houvesse chegado a uma coisa tão bonita, tão paradoxal, tão elegante, tão acrobática, tão antinatural. Por isso, não deve surpreender que tão rapidamente pareça essa mesma espécie decidida a abandoná-la. E um exercício demasiado difícil e complicado para que se consolide na terra.
Conviver com o inimigo! Governar com a oposição! Não começa a ser já incompreensível semelhante ternura? Nada acusa com maior clareza a fisionomia do presente como o fato de que vão sendo tão poucos os países onde existe a oposição. Em quase todos, uma massa homogênea pesa sobre o Poder público e esmaga, aniquila todo o grupo opositor. A massa — quem o diria ao ver seu aspecto compacto e multitudinário? — não deseja a convivência com o que não é ela. Odeia de morte o que não é ela.
IX. PRIMITIVISMO E TÉCNICA
Importa-me muito recordar aqui que estamos submersos na análise de uma situação — a do presente — substancialmente equívoca. Por isso a princípio insinuei que todos os traços atuais e, em espécie, a rebelião das massas, apresentam duplo aspecto. Qualquer deles não só tolera, mas até reclama uma dupla interpretação, favorável e pejorativa. E este equívoco não reside em nosso juízo, mas na própria realidade. Não é que possa parecer-nos por um lado bem, por outro mal, mas é que em si mesma a situação presente é potência bifronte de triunfo ou de morte.
Não é coisa de lastrear este ensaio com toda uma metafísica da história. Mas é claro que o vou construindo sobre a base subterrânea de minhas convicções filosóficas, expostas ou aludidas em outros lugares. Não creio na absoluta determinação da história. Pelo contrário, penso que toda vida, e portanto, a história, se compõe de puros instantes, cada um dos quais está relativamente indeterminado com respeito ao anterior, de sorte que nele a realidade vacila, piétine sur place, e não sabe bem se se decidir por uma ou outra entre várias possibilidades. Este titubeio metafísico proporciona a todo o vital essa inconfundível qualidade de vibração e estremecimento.
A rebelião das massas pode, com efeito, ser trânsito de uma nova e sem par organização da humanidade, mas também pode ser uma catástrofe no destino humano. Não há razão para negar a realidade do progresso, mas é preciso corrigir a noção que crê seguro este progresso. Mais congruente com os fatos é pensar que não há nenhum progresso seguro, nenhuma evolução, sem a ameaça de involução e retrocesso. Tudo, tudo é possível na história — tanto o progresso triunfal e indefinido como a periódica regressão —. Porque a vida, individual ou coletiva, pessoal ou histórica, é a única entidade do universo cuja substância é perigo. Compõem-se de peripécias. É, rigorosamente falando, drama(51).
Isto, que é verdade em geral, adquire maior intensidade nos “momentos críticos”, como é o presente. E assim os sintomas de nova conduta que sob o império atual das massas vão aparecendo e agrupávamos sob o título “ação direta”, podem anunciar também futuras perfeições. É claro que toda velha cultura arrasta no seu avanço tecidos caducos e não pequena carregação de matéria córnea, estorvo à vida e tóxico resíduo. Há instituições mortas, valorizações e respeitos sobreviventes e já sem sentido, soluções indevidamente complicadas, normas que provaram sua insubstancialidade. Todos estes elementos da ação indireta, da civilização, demandam uma época de frenesi simplificador. A sobrecasaca e o plastrão românticos solicitam uma vingança por meio do atual deshabillé e o “em mangas de camisa”. Aqui, a simplificação é higiene e melhor gosto; portanto, uma solução mais perfeita, como sempre que com menos meios se consegue mais. A árvore do amor romântico exigia também uma poda para que caíssem as demasiadas magnólias falsas cerzidas a seus ramos e o furor de lianas, volutas, retorcimentos e intrincações que não a deixavam tomar sol.
Em geral, a vida pública, sobretudo a política, requeria urgentemente uma redução ao autêntico, e a humanidade européia não poderia dar o salto elástico que o otimista reclama dela se antes não se desnuda, se não se aligeira até sua pura essencialidade, até coincidir consigo mesma. O entusiasmo que sinto por esta disciplina de nudificação, de autenticidade, a consciência de que é imprescindível para franquear o passo a um futuro estimável, me faz reivindicar plena liberdade de ideador diante de todo o passado. É o porvir que deve imperar sobre o pretérito, e dele recebermos a ordem para nossa conduta diante de tudo quanto foi(52).
Mas é preciso evitar o pecado maior dos que dirigiram o século XIX: a defeituosa consciência de sua responsabilidade, que os fez não se manterem alertas e em vigilância. Deixar-se deslizar pela pendente favorável que apresenta o curso dos acontecimentos e embotar-se para a dimensão de perigo e carranca que mesmo a hora mais jocunda possui, é precisamente faltar à missão de responsável. Hoje torna-se mister suscitar uma hiperestesia de responsabilidade nos que sejam capazes de senti-la, e parece o mais urgente sublinhar o lado palmariamente funesto dos sintomas atuais.
É indubitável que num balanço diagnóstico de nossa vida pública os fatores adversos superem em muito os favoráveis, se o cálculo se faz não tanto pensando no presente como no que anunciam e prometem.
Todo o crescimento de possibilidades concretas que a vida experimentou corre risco de anular-se a si mesmo ao topar com o mais pavoroso problema sobrevindo no destino europeu e que de novo formulo: apoderou-se da direção social um tipo de homem a quem não interessam os princípios da civilização. Não os desta ou os daquela, mas — ao que hoje pode julgar-se — os de nenhuma. Interessam-lhe evidentemente os anestésicos, os automóveis e algumas coisas mais. Mas isto confirma seu radical desinteresse pela civilização. Pois estas coisas são só produtos dela, e o fervor que se lhes dedica faz ressaltar mais cruamente a insensibilidade para os princípios de que nascem. Baste fazer constar este fato: desde que existem as nuove scienze, as ciências físicas — portanto, desde o Renascimento —, o entusiasmo por elas havia aumentado sem colapso, ao longo do tempo. Mais concretamente: o número de pessoas que em proporção se dedicavam a essas puras investigações era maior em cada geração. O primeiro caso de retrocesso — repito, proporcional — produziu-se na geração que hoje vai dos vinte aos trinta anos. Nos laboratórios de ciência pura começa a ser difícil atrair discípulos. E isso acontece quando a indústria alcança seu maior desenvolvimento e quando as pessoas mostram maior apetite pelo uso de aparelhos e medicinas criados pela ciência.
Se não fora prolixo, poderia demonstrar-se semelhante incongruência na política, na arte, na moral, na religião e nas zonas cotidianas da vida.
Que nos significa situação tão paradoxal? Este ensaio pretende haver preparado a resposta a tal pergunta. Significa que o homem hoje dominante é um primitivo, um Naturmensch emergindo em meio de um mundo civilizado. O civilizado é o mundo, porém, seu habitante não o é: nem sequer vê nele a civilização, mas usa dela como se fosse natureza. O novo homem deseja o automóvel e goza dele, mas crê que é fruta espontânea de uma árvore edênica. No fundo de sua alma desconhece o caráter artificial, quase inverossímil, da civilização, e não estenderá seu entusiasmo pelos aparelhos até os princípios que os tornam possíveis. Quando mais acima, transpondo umas palavras de Rathenau, dizia eu que assistimos à “invasão vertical dos bárbaros”, pode julgar-se — como é habitual — que se tratava apenas de uma “frase”. Agora se vê que a expressão poderá enunciar uma verdade ou um erro, mas que é o contrário de uma “frase”, a saber: uma definição formal que condena toda uma complicada análise. O homem-massa atual é, com efeito, um primitivo que pelos bastidores deslizou no velho cenário da civilização.
A toda hora se fala hoje dos progressos fabulosos da técnica; mas eu não vejo que se fale, nem pelos melhores, com uma consciência de seu futuro suficientemente dramático. O próprio Spengler, tão sutil e tão profundo — ainda que tão maníaco —, parece-me neste ponto demasiado otimista. Pois crê que à “cultura” vai suceder uma época de “civilização”, sob a qual entende sobretudo a técnica. A idéia que Spengler tem da cultura, e em geral da história, é tão remota da pressuposta neste ensaio, que não é fácil, nem ainda para retificá-las, trazer aqui a comento suas conclusões. Só saltando sobre distâncias e precisões, para reduzir ambos os pontos de vista a um comum denominador, pudera estabelecer-se assim a divergência: Spengler crê que a técnica pode continuar vivendo quando morreu o interesse pelos princípios da cultura. Eu não posso resolver-me a crer tal coisa. A técnica é consubstancialmente ciência, e a ciência não existe se não interessa em sua pureza e por ela mesma, e não pode interessar se as pessoas não continuam entusiasmadas com os princípios gerais da cultura. Se se embota esse fervor — como parece ocorrer —, a técnica só pode perviver um pouco de tempo, aquele que lhe dure a inércia do impulso cultural que a criou. Vive-se com a técnica, mas não da técnica. Esta não se nutre nem se respira a si mesma, não é causa sui, mas precipitado útil, prático, de preocupações supérfluas, não práticas(53).
Vou, pois, à advertência de que o atual interesse pela técnica não garante nada, e menos que nada, o progresso mesmo ou a perduração da técnica. Está bem que se considere o tecnicismo como um dos traços característicos da “cultura moderna”, quer dizer, de uma cultura que contém um gênero de ciência, o qual vem a ser materialmente aproveitável. Por isso, ao resumir a fisionomia novíssima da vida implantada pelo século XIX, eu ficava com estas só duas feições: democracia liberal e técnica(54). Mas repito que surpreende a frivolidade com que ao falar da técnica se esquece que sua víscera cordial é a ciência pura, e que as condições de sua perpetuação englobam as que tornam possível o puro exercício científico. Pensou-se em todas as coisas que precisam continuar vigentes nas almas para que possa continuar havendo de verdade “homens de ciência”? Acredita-se seriamente que enquanto haja dollars haverá ciência? Esta idéia em que muitos se tranqüilizam não é senão uma prova mais de primitivismo.
Aí é nada a quantidade de ingredientes, os mais díspares entre si, que é mister reunir e agitar para obter coquetel da ciência físico-química! Ainda contentando-se com a pressão mais débil e sumária do tema, sobressai já o claríssimo fato de que em toda a amplitude da terra e em toda a do tempo, a físico-química só conseguiu constituir-se, estabelecer-se plenamente no breve quadrilátero que inscrevem Londres, Berlim, Viena e Paris. E ainda dentro deste quadrilátero, só no século XIX. Isto demonstra que a ciência experimental é um dos produtos mais improváveis da história. Magos, sacerdotes, guerreiros e pastores têm pululado por toda a parte e à vontade. Mas esta fauna do homem experimental requer, pelo visto, para se produzir, um conjunto de condições mais insólito que o que engendra o unicórnio. Fato tão sóbrio e tão magro devia fazer refletir um pouco sobre o caráter supervolátil, evaporante, da inspiração científica(55). Bem arranjado está quem creia que se a Europa desaparecesse poderiam os norte-americanos continuar a ciência!
Importaria muito tratar a fundo o assunto e especificar com toda a minúcia quais são os supostos históricos vitais da ciência experimental e, consequentemente, da técnica. Mas não espere que, embora esclarecida a questão, o homem-massa se daria por inteirado. O homem-massa não atende a razões e só aprende em sua própria carne.
Uma observação impede-me iludir-me sobre a eficácia de tais prédicas, que a foro de racionais teriam que ser sutis. Não é demasiado absurdo que nas circunstâncias atuais não sinta o homem médio, espontaneamente e sem prédicas, fervor superlativo por aquelas ciências e suas congêneres as biológicas? Porque repare-se em qual é a situação atual: enquanto evidentemente todas as demais coisas da cultura se tornaram problemáticas — a política, a arte, as normas sociais, a própria moral —, há uma que cada dia comprova, da maneira mais indiscutível e mais própria para fazer efeito no homem-massa, sua maravilhosa eficiência: a ciência empírica. Cada dia facilita um novo invento, que esse homem médio utiliza. Cada dia produz um novo analgésico ou vacina, que beneficia esse homem médio. Todo o mundo sabe que, não cedendo à inspiração científica, se se triplicassem ou decuplicassem os laboratórios, multiplicar-se-iam automaticamente riqueza, comodidades, saúde, bem-estar. Pode imaginar-se propaganda mais formidável e contundente em favor de um princípio vital? Como, não obstante, não há sombra de que as massas peçam a si mesmas um sacrifício de dinheiro e de atenção para dotar melhor a ciência? Longe disso, o após-guerra converteu o homem de ciência no novo pária social. E conste que me refiro a físicos, químicos, biólogos — não aos filósofos —. A filosofia não necessita de proteção, nem de atenção, nem de simpatia da massa. Cuida de seu aspecto de perfeita inutilidade(56), e como isso se liberta de toda submissão do homem médio. Sabe que é por essência problemática, e abraça alegre seu livre destino de pássaro do bom Deus, sem pedir a ninguém que conte com ela, nem recomendar-se, nem defender-se. Se alguém de boa mente a aproveita para algo, regozija-se por simples simpatia humana; mas não vive desse proveito alheio, nem o premedita, nem o espera. Como vai pretender que alguém a tome em sério, se ela começa por duvidar de sua própria existência, se não vive mais que na medida em que se combata a si mesma, em que se desvive a si mesma? Deixemos, pois, de lado a filosofia, que é aventureira de outro nível.
Mas as ciências experimentais necessitam da massa, como esta necessita delas, sob pena de sucumbir, já que num planeta sem físico-química não se pode sustentar o número de homens hoje existentes.
Que raciocínios podem conseguir o que não consegue o automóvel, onde esses homens vão e vêm, e a injeção de pantopom que fulmina, milagrosa., suas dores? A desproporção entre o benefício constante e patente que a ciência lhes procura e o interesse que por ela mostram é tal, que não há modo de subornar-se a si mesmo com ilusórias esperanças, e esperar mais que barbárie de quem assim se comportar. Maxime se, segundo veremos, este desapego pela ciência. como tal aparece, talvez com maior clareza que em nenhuma outra parte, na. massa dos técnicos mesmos — de médicos, engenheiros, etc., os quais soem exercer sua profissão com um estado de espírito idêntico no essencial ao de quem se contenta com usar do automóvel ou comprar o tubo de aspirina —, sem a menor solidariedade íntima com o destino da ciência, da civilização.
Haverá quem se sinta mais sobrecolhido por outros sintomas de barbárie emergente que, sendo de qualidade positiva, de ação, e não de omissão, saltam mais aos olhos e se materializam em espetáculo. Para mim é este da desproporção entre o proveito que o homem médio recebe da ciência e a gratidão que lhe dedica — que não lhe dedica — o mais aterrador(57). Só posso explicar-me esta ausência do adequado reconhecimento se recordo que no centro da África os negros vão também em automóvel e se aspirinizam. O europeu que começa a predominar — esta é minha hipótese — seria, relativamente à complexa civilização em que nasceu, um homem primitivo, um bárbaro emergindo por um alçapão, um “invasor vertical”.
X. PRIMITIVISMO E HISTÓRIA
A natureza está sempre aí. Sustenta-se a si mesma. Nela, na selva, podemos impunemente ser selvagens. Podemos inclusive resolver a não deixar de sê-lo nunca, sem mais risco que o advento de outros seres que não o sejam. Mas, em princípio, são possíveis povos perenemente primitivos. Há-os. Breyssig chamou-os de “os povos da perpétua aurora”, os que ficaram numa alvorada estática, congelada, que não avança para nenhum meio-dia.
Isso acontece no mundo que é só Natureza. Mas não acontece no mundo que é civilização, como o nosso. A civilização não está aí, não se sustenta a si mesma. É artifício e requer um artista ou artesão. Se o senhor quer aproveitar-se das vantagens da civilização, mas não se preocupa de sustentar a civilização..., o senhor está enfarado. A três por dois o senhor fica sem civilização. Um descuido, e quando o senhor olha à sua volta tudo se volatilizou! Como se houvessem recolhido uns tapetes que tapavam a pura Natureza, reaparece repristinada a selva primitiva. A selva sempre é primitiva. E vice-versa. Tudo que é primitivo é selva.
Os românticos de todos os tempos se desarticulavam ante esta cena de desolação, em que o natural e subumano tornava a oprimir a palidez humana da mulher, e pintavam o cisne sobre Lêda, estremecido; o touro com Pasifae e Antíope sob o capro. Generalizando acharam um espetáculo mais sutilmente indecente na paisagem com ruínas, onde a pedra civilizada, geométrica, se afoga sob o abraço da silvestre vegetação. Quando um bom romântico divisa um edifício, a primeira coisa que seus olhos procuram é, sobre o acrotério ou o telhado, o “amarelo saramago”. Ele anuncia que, em definitivo, tudo é terra; que por toda a parte a selva rebrota.
Seria estúpido rir do romântico. Também o romântico tem razão. Sob essas imagens inocentemente perversas palpita um enorme e sempiterno problema: o das relações entre a civilização e o que ficou depois dela — a Natureza —, entre o racional e o cósmico. Reclamo, pois, a franquia para ocupar-me dele em outra ocasião e para ser na hora oportuna romântico.
Mas agora encontro-me em faina oposta. Trata-se de conter a selva invasora, O “bom europeu” tem de se dedicar agora ao que constitui, como é sabido, grave preocupação dos Estados australianos: impedir que as figueiras ganhem terreno e joguem os homens ao mar. Pelo ano quarenta e tantos, um emigrante meridional, nostálgico de sua paisagem — Málaga? Sicília? —, levou para a Austrália num vaso de barro uma figueirazinha. Hoje os orçamentos da Oceania sobrecarregam-se com verbas onerosas destinadas à guerra contra a figueira, que invadiu o continente e cada ano ganha em corte mais de um quilômetro.
O homem-massa crê que a civilização em que nasceu e que usa é tão espontânea e primigênea como a Natureza, e ipso facto converte-se em primitivo. A civilização se lhe antolha selva. Eu já o disse, mas agora é preciso acrescentar algumas precisões. Os princípios em que se apoia o mundo civilizado — o que é preciso sustentar — não existem para o homem médio atual. Não lhe interessam os valores fundamentais da cultura, e não se faz solidário deles. Não está disposto a pôr-se a seu serviço. Como aconteceu isto? Por muitas causas; mas agora vou destacar apenas uma.
A civilização, quanto mais avança, torna-se tanto mais complexa e mais difícil. Os problemas que hoje levanta são arqui-intrincados. Cada vez é menor o número de pessoas cuja mente está à altura desses problemas. O após-guerra nos oferece um exemplo bem claro disso. A reconstituição da Europa — está se vendo — é um assunto demasiado algébrico, e o europeu vulgar revela-se inferior à tão sutil empresa. Não é que faltem meios para a solução. Faltam cabeças. Mais exatamente: há algumas cabeças, muito poucas; mas o corpo vulgar da Europa central não quer pô-las sobre os ombros.
Este desequilíbrio entre a sutileza complicada dos problemas e a das mentes será cada vez maior se não se remedeia, e constitui a mais elementar tragédia da civilização. De tanto ser férteis e certeiros os princípios que a informam, aumenta sua colheita em quantidade e em agudeza até ultrapassar a receptividade do homem normal. Não creio que isto tenha acontecido jamais no passado. Todas as civilizações feneceram pela insuficiência de seus princípios. A européia ameaça sucumbir pelo contrário. Na Grécia e em Roma não fracassou o homem, mas seus princípios. O Império romano finda por falta de técnica. Ao chegar a um grau de povoação grande e exigir tão vasta convivência a solução de certas urgências materiais, que só a técnica podia achar, começou o mundo a involuir, a retroceder e consumir-se.
Mas agora é o homem quem fracassa por não poder continuar emparelhado com o progresso de sua própria civilização. Causa inquietude ouvir falar sobre os temas mais elementais do dia por pessoas relativamente mais cultas. Parecem toscos labregos que com dedos grossos e desajeitados querem colher uma agulha que está sobre uma mesa. Manejam-se, por exemplo, os temas políticos e sociais com o instrumental de conceitos rombudos que serviram a duzentos anos para enfrentar situações de fato duzentas vezes menos sutis.
Civilização avançada é uma e mesma coisa com problemas árduos. Daí que quanto maior seja o progresso, tanto mais em perigo está. A vida é cada vez melhor; mas, bem entendido, cada vez mais complicada. É claro que ao complicarem-se os problemas, vão-se aperfeiçoando também os meios para resolvê-los. Mas é mister que cada nova geração se torne senhora desses meios adiantados. Entre estes — para concretizar um pouco — há um banalmente unido ao avanço da civilização, que é ter muito passado às suas costas, muita experiência; em suma: história. O saber histórico é uma técnica de primeira ordem para conservar e continuar uma civilização provecta. Não por que dê soluções positivas ao novo aspecto dos conflitos vitais — a vida é sempre diferente do que foi —, mas porque evita cometer os erros ingênuos de outros tempos. Mas se o senhor, além de ser velho, e, portanto, de que sua vida começa a ser difícil, perdeu a memória do passado, o senhor não aproveita sua experiência, então tudo é desvantagem. Pois eu creio que esta é a situação da Europa. As pessoas mais “cultas” de hoje padecem uma ignorância histórica incrível. Eu sustento que hoje sabe o europeu dirigente muito menos história que o homem do século XVIII e mesmo do XVII. Aquele saber histórico das minorias governantes — governantes sensu lato — tornou possível o avanço prodigioso do século XIX. Sua política está pensada — pelo XVIII — precisamente para evitar erros de todas as políticas antigas, está ideada em vista desses erros, e resume em sua substância a mais longa experiência. Mas já o século XIX começou a perder “cultura histórica”, apesar de que no seu transcurso os especialistas a fizeram avançar muitíssimo como ciência(58). A este abandono se devem em boa parte seus peculiares erros, que hoje gravitam sobre nós. Em seu último terço iniciou-se — embora subterraneamente — a involução, o retrocesso à barbárie; isto é, à ingenuidade e primitivismo de quem não tem ou esquece seu passado.
Por isso são bolchevismo e fascismo, as duas tentativas “novas” de política que na Europa e seus confinantes se estão fazendo, dois claros exemplos de regressão substancial. Não tanto pelo conteúdo positivo de suas doutrinas, que, isolado, tem naturalmente uma verdade parcial — quem no universo não possui uma porciúncula de razão? —, como pela maneira anti-histórica, anacrônica, com que tratam sua parte de razão. Movimentos típicos de homens-massa dirigidos, como todos os que o são, por homens medíocres, extemporâneos e sem memória extensa, sem “consciência histórica”, comportam-se desde o início como se houvessem passado já, como se sucedendo nesta hora pertencessem à fauna de antanho.
A questão não está em ser ou não ser comunista e bolchevista. Não discuto o credo. O que é inconcebível e anacrônico é que um comunista de 1917 se atire a fazer uma revolução que é em sua forma idêntica a todas as que houve antes e na qual não se corrigem os mínimos defeitos e erros das antigas. Por isso não é interessante historicamente o acontecido na Rússia; por isso é estritamente o contrário de um começo de vida humana. É, pelo contrário, uma monótona repetição da revolução de sempre, é o perfeito lugar comum das revoluções. Até o ponto de que não há frase feita, das muitas que sobre as revoluções a velha experiência humana fez, que não receba deplorável confirmação quando se aplica a esta. “A revolução devora seus próprios filhos!” “A revolução começa por um partido moderado, a seguir passa aos extremistas e começa mui rapidamente a retroceder para uma restauração”, etc., etc. A esses tópicos veneráveis podiam ajuntar-se algumas outras verdades menos notórias, porém não menos prováveis, entre elas esta: uma revolução não dura mais de quinze anos, período que coincide com a vigência de uma geração(59).
Quem aspire verdadeiramente a criar uma nova realidade social ou política, necessita preocupar-se antes de tudo de que esses humílimos lugares comuns da experiência histórica fiquem invalidados pela situação que ele suscita. De minha parte reservarei a qualificação de genial ao político que mal comece a operar comecem a ficar loucos os professores de História dos Institutos, em vista de que todas as “leis” de sua ciência aparecem caducadas, interrompidas e feitas cisco.
Invertendo o signo que afeta o bolchevismo, poderíamos dizer coisas similares do fascismo. Nem um nem outro ensaio estão “à altura dos tempos”, não levam dentro de si resumido todo o pretérito, condição irremissível para superá-lo. Com o passado não se luta corpo a corpo. O porvir o vence porque o devora. Se deixar algo dele fora está perdido.
Um e outro — bolchevismo e fascismo — são duas falsas alvoradas; não trazem a manhã do amanhã, mas a de um arcaico dia, já usado uma ou muitas vezes; são primitivismo. E isto serão todos os movimentos que recaiam na simplicidade de travar uma luta com tal ou qual porção do passado, em vez de proceder a sua digestão.
Não há dúvida de que é preciso superar o liberalismo do século XIX. Mas isso é justamente o que não pode fazer quem, como o fascismo, se declara anti-liberal. Por isso — ser antiliberal ou não liberal — é o que fazia o homem anterior ao liberalismo. E como já uma vez este triunfou daquela, repetirá sua vitória inumeráveis vezes ou se acabará tudo — liberalismo e anti-liberalismo — numa destruição da Europa. Há uma cronologia vital inexorável. O liberalismo é nela posterior ao anti-liberalismo, ou, o que é o mesmo, é mais vida que este, como o canhão é mais arma que a lança.
Desde já, uma atitude anti-algo parece posterior a este algo, posto que signifique uma reação contra ele e supõe sua prévia existência. Mas a inovação que o anti representa se desvanece no vazio ademane negador e deixa só como conteúdo positivo uma “antigualha”. Quem se declara anti-Pedro não faz, traduzindo sua atitude à linguagem positiva, senão declarar-se partidário de um mundo onde Pedro não existe. Mas isso é precisamente o que acontecia ao mundo quando ainda não havia nascido Pedro. O antipedrista, em vez de colocar-se depois de Pedro, coloca-se antes e retrocede toda a película à situação passada, ao cabo da qual está inexoravelmente o reaparecimento de Pedro. Acontece, pois, com todos estes anti o que, segundo a lenda, aconteceu a Confúcio. O qual nasceu, naturalmente, depois de seu pai; mas, diabo!, nasceu já com oitenta anos enquanto seu progenitor não tinha mais que trinta. Todo anti não é mais que um simples e vazio não.
Seria tudo muito fácil se com um não puro e simples aniquilássemos o passado. Mas o passado é pura essência revenant. Se o mandamos embora, volta, volta irremediavelmente. Por isso sua única autêntica superação é não mandá-lo embora. Contar com ele. Comportar-se à sua vista para sorteá-lo, evitá-lo. Em suma, “a altura dos tempos”, com hiperestésica consciência da conjuntura histórica.
O passado tem razão, a sua. Se não se lhe dá essa que tem, voltará a reclamá-la, e de passagem a impor a que não tem. O liberalismo tinha uma razão, e essa é preciso dá-la per saecula saecculorum. Mas não tinha toda a razão, e essa que não tinha é a que se devia tirar-lhe. A Europa necessita conservar seu essencial liberalismo. Esta é a condição para superá-lo.
Se falei aqui de fascismo e bolchevismo não foi senão obliquamente, fixando-me só na sua feição anacrônica. Esta é, a meu juízo, inseparável de tudo que hoje parece triunfar. Porque hoje triunfa o homem-massa, e, portanto, só tentativas por eles informadas, saturadas de seu estilo primitivo, podem celebrar uma aparente vitória. Mas, à parte isso, não discuto agora a entranha de um nem a do outro, como não pretendo dirimir o perene dilema entre revolução e evolução. O máximo que este ensaio se atreve a solicitar é que revolução ou evolução sejam históricas e não anacrônicas.
O tema que verso nestas páginas é politicamente neutro, porque alenta em estrato muito mais profundo que a política e suas dissensões. Não é mais nem menos massa o conservador que o radical, e esta diferença — que em toda época tem sido muito superficial — não impede nem de longe que ambos sejam um mesmo homem, vulgo rebelde.
A Europa não tem remissão se seu destino não é posto nas mãos de pessoas verdadeiramente “contemporâneas” que sintam palpitar debaixo de si todo o subsolo histórico, que conheçam a latitude presente da vida e repugnem toda atitude arcaica e silvestre. Necessitamos da história íntegra para ver se conseguimos escapar dela, não recair nela.
XI. A ÉPOCA DO “MOCINHO SATISFEITO”
Resumo: O novo fato social que aqui se analisa é este: a história européia parece, pela primeira vez, entregue à decisão do homem vulgar como tal. Ou dito em voz ativa: o homem vulgar, antes dirigido, resolveu governar o mundo. Esta resolução de avançar para o primeiro plano social produziu-se nele, automaticamente, mal chegou a amadurecer o novo tipo de homem que ele representa. Se atendendo aos defeitos da vida pública, estuda-se a estrutura psicológica deste novo tipo de homem-massa, encontra-se o seguinte: 1o., uma impressão nativa e radical de que a vida é fácil, abastada, sem limitações trágicas; portanto, cada indivíduo médio encontra em si uma sensação de domínio e triunfo que, 2o., o convida a afirmar-se a si mesmo tal qual é, a considerar bom e completo seu haver moral e intelectual. Este contentamento consigo o leva a fechar-se em si mesmo para toda instância exterior, a não ouvir, a não pôr em tela de juízo suas opiniões e a não contar com os demais. Sua sensação íntima de domínio o incita constantemente a exercer predomínio. Atuará, pois, como se somente ele e seus congêneres existissem no mundo; portanto, 3o., intervirá em tudo impondo sua vulgar opinião, sem considerações, contemplações, trâmites nem reservas; quer dizer, segundo um regime de “ação direta”.
Este repertório de feições fez com que pensássemos em certos modos deficientes de ser homem, como o “menino mimado” e o primitivo rebelde; quer dizer, o bárbaro. (O primitivo normal, pelo contrário, é o homem mais dócil a instâncias superiores que jamais existiu — religião, tabus, tradição social, costumes —.) Não é necessário estranhar que eu acumule dictérios sob esta figura de ser humano. O presente ensaio não é mais que um primeiro ensaio de ataque a esse homem triunfante, e o anúncio de que uns quantos europeus vão reagir energicamente contra sua pretensão de tirania. Por enquanto trata-se de um ensaio de ataque: o ataque a fundo virá depois, talvez muito breve, em forma muito diferente da que este ensaio reveste, O ataque a fundo tem de vir de maneira que o homem-massa não se possa precaver contra ele, que o veja diante de si e não suspeite que aquilo, precisamente aquilo, é o ataque a fundo.
Este personagem, que agora anda por toda a parte e onde quer impor sua barbárie íntima, é, com efeito, o garoto mimado da história humana. O garoto mimado é o herdeiro que se comporta exclusivamente como herdeiro. Agora a herança é a civilização — as comodidades, a segurança; em suma, as vantagens da civilização —. Como vimos, só dentro da folga social que esta fabricou no mundo, pode surgir um homem constituído por aquele repertório de feições, inspirado por tal caráter. É uma de tantas deformações como o luxo produz na matéria humana. Tenderíamos ilusoriamente a crer que uma vida nascida em um mundo abastado seria melhor, mais vida e de superior qualidade à que consiste, precisamente, em lutar com a escassez. Mas não é verdade. Por razões muito rigorosas e arquifundamentais que agora não é oportuno enunciar. Agora, em vez dessas razões, basta recordar o fato sempre repetido que constitui a tragédia de toda a aristocracia hereditária. O aristocrata herda, quer dizer, encontra atribuídas a sua pessoa umas condições de vida que ele não criou, portanto, que não se produzem organicamente unidas a sua vida pessoal e própria. Acha-se ao nascer instalado, de repente e sem saber como, em meio de sua riqueza e de suas prerrogativas. Ele não tem, intimamente, nada que ver com elas, porque não vêm dele. São a carapaça gigantesca de outra pessoa, de outro ser vivente, seu antepassado. E tem de viver como herdeiro, isto é, tem de usar a carapaça de outra vida. Em que ficamos? Que vida vai viver o “aristocrata” de herança, a sua ou a do prócer inicial? Nem uma nem outra. Está condenado a representar o outro, portanto, a não ser nem o outro nem ele mesmo. Sua vida perde inexoravelmente autenticidade, e converte-se em pura representação ou ficção de outra vida. A abundância de meios que está obrigado a manejar não o deixa viver seu próprio e pessoal destino, atrofia sua vida. Toda vida é luta, esforço por ser ela mesma. As dificuldades com que tropeço para realizar minha vida são, precisamente, o que desperta e mobiliza minhas atividades, minhas capacidades. Se meu corpo não me pesasse eu não poderia andar. Se a atmosfera não me oprimisse, sentiria meu corpo como uma coisa vaga, fofa, fantasmática. Assim, no “aristocrata” herdeiro toda a sua pessoa vai se desvanecendo, por falta de uso e esforço vital. O resultado é essa específica parvoíce das velhas nobrezas, que não se assemelha a nada e que, a rigor, ninguém descreveu ainda em seu interno e trágico mecanismo — o interno e trágico mecanismo que conduz toda a aristocracia hereditária à sua irremediável degeneração.
Valha isto tão somente para enfrentar nossa ingênua tendência a crer que a abundância de meios favorece a vida. Pelo contrário. Um mundo abundoso(60) de possibilidades produz automaticamente graves deformações e viciosos tipos de existência humana — os que se podem reunir na classe geral “homem-herdeiro”, de que o “aristocrata” não é senão um caso particular, e outro um menino mimado e outro, muito mais amplo e radical, o homem-massa de nosso tempo —. (Por outra parte, caberia aproveitar mais detalhadamente a anterior alusão ao “aristocrata”, mostrando como muitos dos traços característicos deste, em todos os povos e tempo, se dão, de maneira germinal, no homem-massa. Por exemplo: a propensão de fazer ocupação central da vida os jogos e os esportes; o cultivo do seu corpo — regime higiênico e atenção à beleza do traje —; falta de romanticismo na relação com a mulher; divertir-se com o intelectual, mas, no fundo, não estimá-lo e mandar que os lacaios ou os esbirros o açoitem; preferir a vida sob a autoridade absoluta a um regime de discussão(61), etc. etc.).
Insisto, pois, com leal desgosto em fazer ver que este homem cheio de tendências incivis, que este novíssimo bárbaro é um produto automático da civilização moderna, especialmente da forma que esta civilização no século XIX. Não veio de fora ao mundo civilizado como os “grandes bárbaros brancos” do século V; não nasceu tampouco dentro dele por geração espontânea e misteriosa, como, segundo Aristóteles, os girinos na alverca, mas é o seu fruto natural. Cabe formular esta lei que a paleontologia e a biogeografia confirmam: a vida humana surgiu e progrediu só quando os meios com que contava estavam equilibrados pelos problemas que sentia. Isto é verdade, tanto na ordem espiritual como na física. Assim, para me referir a uma dimensão muito concreta da vida corporal, recordarei que a espécie humana brotou em zonas do planeta onde a estação quente ficava compensada por uma estação de frio intenso. Nos trópicos, o animal-homem degenera, e vice-versa, as raças inferiores — por exemplo, os pigmeus — foram repelidas para os trópicos por raças nascidas depois delas e superiores na escala da evolução(62).
Pois bem, a civilização do século XIX é de tal índole que permite ao homem médio instalar-se em um mundo abundante, do qual percebe só a superabundância de meios, mas não as angústias. Encontra-se rodeado de instrumentos prodigiosos, de medicinas benéficas, de Estados previdentes, de direitos cômodos. Ignora, por seu turno, o difícil que é inventar essas medicinas e instrumentos e assegurar para o futuro sua produção; não percebe o instável que é a organização do Estado, e mal sente dentro de si obrigações. Este desequilíbrio o falsifica, vicia-o em sua raiz de ser vivente, fazendo-o perder contacto com a substância mesma da vida, que é absoluto perigo, radical problematismo. A forma mais contraditória da vida humana que pode aparecer na vida humana é o “mocinho satisfeito”. Por isso, quando se torna figura predominante, é preciso dar o grito de alarme e anunciar que a vida se acha ameaçada de degeneração; quer dizer, de relativa morte. Segundo isto, o nível vital que representa a Europa de hoje é superior a todo o passado humano; mas se olhamos o porvir, faz temer que nem conserve sua altura nem produza outro nível mais elevado, porém, pelo contrário, que retroceda e recaia em altitudes inferiores.
Isto, penso, faz ver com suficiente clareza a anormalidade superlativa que representa o “mocinho satisfeito”. Porque é um homem que veio à vida para fazer o que bem entende. Com efeito, o “filho de família” forja para si esta ilusão. Já sabemos por que: no âmbito familiar, tudo, até os maiores delitos, pode ficar no final das contas impune. O âmbito familiar é relativamente artificial, e tolera dentro de si muitos atos que na sociedade, no ar da rua trariam automaticamente conseqüências desastrosas e iniludíveis para seu autor. Mas o “mocinho” é aquele que acredita poder comportar-se fora de casa como em casa, aquele que acredita que nada é fatal, irremediável e irrevogável. Por isso acredita que pode fazer o que bem entende(63). Grande equívoco! Vossa Mercê irá aonde o levem, como se diz ao papagaio no conto do português. Não é o que não se deva fazer o que esteja na vontade da pessoa; é que não se pode fazer senão o que cada qual tem que fazer, tem que ser. Cabe unicamente negar-se a fazer isso que é preciso fazer; mas isto não nos deixa em liberdade para fazer outra coisa que esteja na nossa vontade. Neste ponto possuímos apenas uma liberdade negativa de arbítrio — a nolição —. Podemos perfeitamente desertar de nosso destino mais autêntico; mas é para cair prisioneiro nos graus inferiores de nosso destino. Eu não posso fazer isto evidente a cada leitor no que seu destino individualíssimo tem como tal, porque não conheço a cada leitor, mas é possível fazê-lo ver naquelas porções ou facetas de seu destino que são idênticas às de outros. Por exemplo: todo europeu atual sabe, com uma certeza muito mais vigorosa que a de todas as suas idéias e “opiniões” expressas, que o homem europeu atual tem de ser liberal. Não discutamos se esta ou a outra forma de liberdade é a que tem de ser. Refiro-me a que o europeu mais reacionário sabe, no fundo de sua consciência, que isso que a Europa tentou no último século com o nome de liberalismo é, em última instância, algo iniludível, inexorável, que o homem ocidental de hoje é, queira ou não queira.
Embora se demonstre, com plena e incontrastável verdade, que são falsas e funestas todas as maneiras concretas em que se tentou até agora realizar esse imperativo irremissível de ser politicamente livre, inscrito no destino europeu, fica em pé a última evidência de que no século último tinha substancialmente razão. Esta evidência última atua tanto no comunista europeu como no fascista, por muitas atitudes que tenham para nos convencer e convencer-se do contrário, como atua — queira ou não queira, creia-o ou não — no católico que presta mais leal adesão ao Syllabus(64). Todos “sabem” que além das justas críticas com que se combatem as manifestações do liberalismo fica a irrevogável verdade deste, uma verdade que não é teórica, científica, intelectual, mas de uma ordem radicalmente diferente e mais decisiva de tudo isso — a saber, uma verdade de destino —. As verdades teóricas não são discutíveis, mas todo seu sentido e sua força estão em ser discutidas; nascem da discussão, vivem enquanto se discutem e estão feitas exclusivamente para a discussão. Mas o destino — o que vitalmente se tem que ser ou não se tem que ser — não se discute, mas sim aceita-se ou não. Se o aceitamos, somos autênticos; se não o aceitamos, somos a negação, a falsificação de nós mesmos(65), O destino não consiste naquilo que temos vontade de fazer; mas melhormente se reconhece e mostra seu claro, rigoroso perfil na consciência de ter que fazer o que não está na nossa vontade.
Pois bem: “o mocinho-satisfeito” caracteriza-se por “saber” que certas coisas não podem ser e, entretanto, e por isso mesmo, fingir com seus atos e palavras a convicção contrária, O fascista se mobilizará contra a liberdade política, precisamente porque sabe que esta não faltará nunca no fim das contas e em sério, mas que está aí, irremediavelmente, na substância mesma da vida européia, e que nela se recairá sempre que a verdade seja necessária, na hora das seriedades. Porque esta é a tônica da existência no homem-massa: a inseriedade, a “piada”. O que fazem, fazem-no sem o caráter de irrevogável, como faz suas travessuras o “filho de família”. Toda essa pressa para adotar em todas as ordens atitudes aparentemente trágicas, últimas, talhantes, é só a aparência. Brincam de tragédia porque crêem que não é verossímil a tragédia efetiva no mundo civilizado.
Seria bom que estivéssemos forçados a aceitar como autêntico ser de uma pessoa o que ela pretendia mostrar-nos como tal. Se alguém se obstina em afirmar que dois mais dois é igual a cinco e não há motivo para supô-lo clemente, devemos afirmar que não o crê, por muito que grite e ainda se deixe matar para sustentá-lo.
Um furacão de farsa geral e onímoda sopra sobre o torrão europeu. Quase todas as posições que se tomam e ostentam são internamente falsas. Os únicos esforços que fazem destinam-se a fugir do próprio destino, a cegar-se ante sua evidência e sua chamada profunda, a evitar cada qual o confronto com isso que tem que ser. Vive-se humoristicamente e tanto mais quanto mais trágica seja a máscara adotada. Há humorismo onde quer que se vive de atitudes revogáveis, em que a pessoa não se finca inteira e sem reservas. O homem-massa não afirma o pé sobre a firmeza incomovível de seu signo; pelo contrário, vegeta suspenso ficticiamente no espaço. Por isso é que nunca como agora estas vidas sem peso e sem raiz — déracinées de seu destino — se deixem arrastar pela mais inconstante corrente. É a época das “correntes” e do “deixar-se ir”. Quase ninguém apresenta resistência aos superficiais torvelinhos que se formam em arte ou em idéias, ou em política, ou nos usos sociais. Por isso, mais que nunca triunfa a retórica. O superrealista acredita haver superado toda a história literária quando escreveu “aqui uma palavra que não é necessário escrever” onde outros escreveram “jasmins, cisnes e faunesas”. Mas é claro que com isso só fez extrair outra retórica que até agora jazia nas latrinas.
Esclarece a situação atual advertir, não obstante a singularidade de sua fisionomia, a porção que de comum tinha com outras do passado. Assim acontece que mal chega à sua máxima atitude a civilização mediterrânea — por volta do século III A. C. — aparece o cínico. Diógenes pateia com suas sandálias sujas de lama os tapetes de Arístipo. O cínico tornou-se um personagem pululante, que se achava atrás de cada esquina e em todas as alturas. Ora bem, o cínico não fazia outra coisa senão sabotar aquela civilização. Era o nihilista do helenismo. Jamais criou nem fez nada, seu papel era desfazer — melhor dito, tentar desfazer, porque tampouco conseguiu seu propósito — O cínico, parasita da civilização, vive de negá-la, pela mesma razão de que está convencido de que ela não desaparecerá. Que faria o cínico num povo selvagem onde todos, naturalmente e a sério, fazem o que ele em farsa, considera como seu papel pessoal? Que é um fascista se não fala mal da liberdade e um superrealista se não perjura da arte!
Não podia comportar-se de outra maneira esse tipo de homem nascido no mundo demasiadamente bem organizado, do qual só percebe as vantagens e não os perigos. O contorno o mima, porque é “civilização” — isto é, uma casa —, e o “filho de família” não sente nada que o faça sair de sua índole caprichosa, que incite a ouvir instâncias externas superiores a ele, e muito menos que o obrigue a tomar contato com o fundo inexorável de seu próprio destino.
XII. A BARBÁRIE DO “ESPECIALISMO”
A tese era que a civilização do século XIX produziu automaticamente o homem-massa. Convém não fechar sua exposição geral sem analisar, num caso particular, a mecânica dessa produção. Desta sorte, ao concretizar-se, a tese ganha em força persuasiva.
Esta civilização do século XIX, dizia eu, pode resumir-se em duas grandes dimensões: democracia liberal e técnica. Tomemos agora somente a última. A técnica contemporânea nasce da copulação entre o capitalismo e a ciência experimental. Não toda técnica é científica. Aquele que fabricou os machados de pedra, no período chelense, carecia de ciência, e, não obstante, criou uma técnica. A China chegou a um alto grau de tecnicismo sem suspeitar em nada a existência da física. Só a técnica moderna da Europa possui uma raiz científica, e dessa raiz lhe vem seu caráter específico, a possibilidade de um ilimitado progresso. As demais técnicas — mesopotâmica, nilota, grega, romana, oriental — espraiam-se até um ponto de desenvolvimento que não podem ultrapassar, e apenas o tocam começam a retroceder em lamentável involução.
Esta maravilhosa técnica ocidental tornou possível a maravilhosa proliferação da casta européia. Recorde-se o dado de que tomou seu vôo este ensaio e que, como eu disse, encerra germinalmente todas estas meditações. Do século V a 1800 a Europa não consegue ter uma população superior a 180 milhões. De 1800 a 1914 ascende a mais de 460 milhões. O pulo é único na história humana. Não há dúvida de que a técnica — junto com a democracia liberal — engendrou o homem-massa no sentido quantitativo desta expressão. Mas estas páginas tentaram mostrar que também é responsável da existência do homem-massa no sentido qualitativo e pejorativo do termo.
Por “massa” — prevenia eu no princípio — não se entende especialmente o obreiro; não designa aqui uma classe social, mas uma classe ou modo de ser homem que se dá hoje em todas as classes sociais, que por isso mesmo representa o nosso tempo, sobre o qual predomina e impera. Agora vamos ver isso com sobrada evidência.
Quem exerce o poder social? Quem impõe a estrutura de seu espírito na época? Sem dúvida, a burguesia. Quem, dentro dessa burguesia é considerado como o grupo superior, com a aristocracia do presente? Sem dúvida, o técnico: engenheiro, médico, financista, professor etc. etc. Quem, dentro do grupo técnico, o representa com maior altitude e pureza? Sem dúvida, o homem de ciência. Se um personagem astral visitasse a Europa, e com ânimo de julgá-la lhe perguntasse por que tipo de homem, entre os que a habitam, preferia ser julgada, não há dúvida de que a Europa apontaria satisfeita e certa de uma sentença favorável, seus homens de ciência. É claro que o personagem astral não perguntaria por indivíduos excepcionais, mas procuraria a regra, o tipo genérico “homem de ciência”, cume da humanidade européia.
Pois bem: o homem de ciência atual é o protótipo do homem-massa. E não por casualidade, nem por defeito unipessoal de cada homem de ciência, mas porque a técnica mesma — raiz da civilização — o converte automaticamente em homem-massa; quero dizer, faz dele um primitivo, um bárbaro moderno.
A coisa é muito conhecida: fez-se constar inúmeras vezes; mas, somente articulada no organismo deste ensaio, adquire a plenitude de seu sentido e a evidência de sua gravidade.
A ciência experimental inicia-se ao finalizar o século XVI (Galileu), consegue constituir-se nos finais do XVII (Newton) e começa a desenvolver-se nos meados do XVIII. O desenvolvimento de algo é coisa diferente de sua constituição e está submetido a condições diferentes. Assim, a constituição da física, nome coletivo da ciência experimental, obrigou a um esforço de unificação. Tal foi a obra de Newton e demais homens de seu tempo. Mas o desenvolvimento da física iniciou uma faina de caráter oposto à unificação para progredir, a ciência necessitava que os homens de ciência se especializassem. Os homens de ciência, não a ciência. A ciência não é especialista. Ipso facto deixaria de ser verdadeira. Nem sequer a ciência empírica, tomada na sua integridade, é verdadeira se a separamos da matemática, da lógica, da filosofia. Mas o trabalho nela tem de ser — irremissivelmente — especializado.
Seria de grande interesse, e maior utilidade que a aparente à primeira vista, fazer uma história das ciências físicas e biológicas, mostrando o processo de crescente especialização no trabalho dos investigadores. Isso faria ver como, geração após geração, o homem de ciência tem sido constrangido, encerrado num campo de ocupação intelectual cada vez mais estreito. Mas não é isto o importante que essa história nos ensinaria, mas justamente o inverso: como em cada geração o científico, por ter de reduzir sua órbita de trabalho, ia progressivamente perdendo contato com as demais partes da ciência, com uma interpretação integral do universo, que é o único merecedor dos nomes de ciência, cultura, civilização européia.
A especialização começa, precisamente, num tempo que chama homem civilizado ao homem “enciclopédico”. O século XIX inicia seus destinos sob a direção de criaturas que vivem enciclopedicamente, embora sua produção tenha já um caráter de especialismo. Na geração seguinte, a equação se deslocou, e a especialidade começa a desalojar dentro de cada homem de ciência a cultura integral. Quando em 1890 uma terceira geração assume o comando intelectual da Europa, encontramo-nos com um tipo de científico sem exemplo na história. É um homem que, de tudo quanto há de saber para ser um personagem discreto, conhece apenas determinada ciência, e ainda dessa ciência só conhece bem a pequena porção em que ele é ativo investigador. Chega a proclamar como uma virtude o não tomar conhecimento de quanto fique fora da estreita paisagem que especialmente cultiva, e denomina diletantismo a curiosidade pelo conjunto do saber.
O caso é que, fechado na estreiteza de seu campo visual, consegue, com efeito, descobrir novos fatos e fazer avançar sua ciência, que ele apenas conhece, e com ela a enciclopédia do pensamento, que conscienciosamente desconhece. Como foi e é possível coisa semelhante? Porque convém repisar a extravagância deste fato inegável: a ciência experimental progrediu em boa parte mercê do trabalho de homens fabulosamente medíocres, e menos que medíocres. Quer dizer, que a ciência moderna, raiz e símbolo da civilização atual, deu guarida dentro de si ao homem intelectualmente médio e lhe permite operar com bom êxito. A razão disso está no que é, ao mesmo tempo, vantagem maior e perigo máximo da ciência nova e de toda civilização que esta dirige e representa: a mecanização. Uma boa parte das coisas que é preciso fazer em física e em biologia é faina mecânica de pensamento que pode ser executada por qualquer pessoa. Para os efeitos de inúmeras investigações é possível dividir a ciência em pequenos segmentos, encerrar-se em um e desinteressar-se dos demais. A firmeza e exatidão dos métodos permitem esta transitória e prática desarticulação do saber. Trabalha-se com um desses métodos como com uma máquina, e nem sequer é forçoso para obter abundantes resultados possuir idéias rigorosas sobre o sentido e fundamento deles. Assim a maior parte dos científicos propelem o progresso geral da ciência encerrados num nicho de seu laboratório, como a abelha no seu alvéolo.
Por isso cria uma casta de homens sobremodo estranhos. O investigador que descobriu um novo fato da Natureza tem por força de sentir uma impressão de domínio e de segurança em sua pessoa. Com certa aparente justiça se considerará como “um homem que sabe”. E, com efeito, nele se dá um pedaço de algo que, junto com outros pedaços não existentes nele, constituem verdadeiramente o saber. Esta é a situação íntima do especialista, que nos primeiros anos deste século chegou à sua mais frenética exageração. O especialista “sabe” muito bem seu mínimo rincão de universo; mas ignora basicamente todo o resto.
Eis aqui um precioso exemplar deste estranho homem novo que eu tentei, por uma e outra de suas vertentes e aspectos, definir. Eu disse que era uma configuração humana sem igual em toda a história. O especialista serve-nos para concretizar energicamente a espécie e fazendo ver todo o radicalismo de sua novidade. Porque outrora os homens podiam dividir-se, simplesmente, em sábios e ignorantes, em mais ou menos sábios e mais ou menos ignorantes. Mas o especialista não pode ser submetido a nenhuma destas duas categorias. Não é um sábio, porque ignora formalmente o que não entra na sua especialidade; mas tampouco é um ignorante, porque é “um homem de ciência” e conhece muito bem sua porciúncula de universo. Devemos dizer que é um sábio ignorante, coisa sobremodo grave, pois significa que é um senhor que se comportará em todas as questões que ignora, não como um ignorante, mas com toda a petulância de quem na sua questão especial é um sábio.
E, com efeito, este é o comportamento do especialista. Em política, em arte, nos usos sociais, nas outras ciências tomará posições de primitivo, e ignorantíssimo; mas as tomará com energia e suficiência, sem admitir — e isto é o paradoxal — especialistas dessas coisas. Ao especializá-lo a civilização o tornou hermético e satisfeito dentro de sua limitação; mas essa mesma sensação íntima de domínio e valia o levará a querer predominar fora de sua especialidade. E a conseqüência é que, ainda neste caso, que representa um maximum de homem qualificado — especialismo — e, portanto, o mais oposto ao homem-massa, o resultado é que se comportará sem qualificação e como homem-massa em quase todas as esferas da vida.
A advertência não é vaga. Quem quiser pode observar a estupidez com que pensam, julgam e atuam hoje na política, na arte, na religião e nos problemas gerais da vida e do mundo os “homens de ciência”, e é claro, depois deles, médicos, engenheiros, financistas, professores, etc. Essa condição de “não ouvir”, de não se submeter a instâncias superiores que reiteradamente apresentei como característica do homem-massa, chega ao cúmulo nesses homens parcialmente qualificados. Eles simbolizam, e em grande parte constituem o império atual das massas, e sua barbárie é a causa mais imediata da desmoralização européia.
Por outra parte, significam o mais claro e preciso exemplo de como a civilização do último século abandonada à sua própria inclinação, produziu esse broto de primitivismo e barbárie.
O resultado mais imediato desse especialismo não compensado tem sido que hoje, quando há maior número de “homens de ciência” que nunca, haja muito menos homens “cultos” que, por exemplo, em 1750. E o pior é que com esses perdigueiros do forno científico nem sequer está garantido o progresso íntimo da ciência. Porque esta necessita de tempo em tempo, como orgânica regulação de seu próprio incremento, um trabalho de reconstituição, e, como eu disse, isso requer um esforço de unificação, cada vez mais difícil, que cada vez complica regiões mais vastas do saber total. Newton pode criar seu sistema físico sem saber muita filosofia, mas Einstein precisou saturar-se de Kant e de Mach para poder chegar a sua aguda síntese. Kant e Mach — com estes nomes simboliza-se só a massa enorme de pensamentos filosóficos e psicológicos que influíram em Einstein — serviram para liberar a mente desse e deixar-lhe a via livre para sua inovação. Mas Einstein não é suficiente. A física entra na crise mais profunda de sua história, e só poderá salvá-la uma nova enciclopédia mais sistemática que a primeira.
O especialismo, pois, que tornou possível o progresso da ciência experimental durante um século, aproxima-se a uma etapa em que não poderá avançar por si mesmo se não se encarrega uma geração melhor de construir-lhe um novo forno mais poderoso.
Mas se o especialista desconhece a fisiologia interna da ciência que cultiva, muito mais radicalmente ignora as condições históricas de sua perduração, isto é, como devem estar organizados a sociedade e o coração do homem, para que possa continuar havendo investigadores. A decadência de vocação científica que se observa nestes anos — à qual já aludi — é um sintoma preocupador para todo aquele que tenha uma idéia clara do que é civilização, a idéia que sói faltar ao típico “homem de ciência”, cume de nossa atual civilização. Também ele acredita que a civilização está aí, simplesmente, como a crosta terrestre e a selva primigênea.
XIII. O MAIOR PERIGO, O ESTADO
Numa boa ordenação das coisas públicas, a massa é o que não atua por si mesma. Tal é a sua missão. Veio ao mundo para ser dirigida, influída, representada, organizada — até para deixar de ser massa, ou, pelo menos, aspirar a isso —. Mas não veio ao mundo para fazer tudo isso por si. Necessita referir sua vida à instância superior, constituída pelas minorias excelentes. Discuta-se quanto se queira quem são os homens excelentes; mas que sem eles — sejam uns ou outros — a humanidade não existiria no que tem de mais essencial, é coisa sobre a qual convém que não haja dúvida alguma, embora leve a Europa todo um século metendo a cabeça debaixo da asa, ao modo dos estrúcios para ver se consegue não ver tão radiante evidência. Porque não se trata de uma opinião fundada em fatos mais ou menos freqüentes e prováveis, mas numa lei da “física” social, muito mais incomovível que as leis da física de Newton. No dia em que volte a imperar na Europa uma autêntica filosofia(66) — única coisa que pode salvá-la —, compreender-se-á que o homem é, tenha ou não vontade disso, um ser constitutivamente forçado a procurar uma instância superior. Se consegue por si mesmo encontrá-la, é que é um homem excelente; senão, é que é um homem-massa e necessita recebê-la daquele.
Pretender a massa atuar por si mesma é, pois, rebelar-se contra seu próprio destino, e como isso é o que faz agora, falo eu da rebelião das massas. Porque no final das contas a única coisa que substancialmente e com verdade pode chamar-se é a que consiste em não aceitar cada qual seu destino, em rebelar-se contra si mesmo. A rigor, a rebelião do arcanjo Luzbel não o houvera sido menos se em vez de empenhar-se em ser Deus — o que não era seu destino — se houvesse obstinado em ser o mais ínfimo dos anjos, que tampouco o era. (Se Luzbel tivesse sido russo, como Tolstoi, teria talvez preferido este último estilo de rebeldia, que não é mais nem menos contra Deus que o outro tão famoso).
Quando a massa atua por si mesma, fá-lo só de uma maneira, porque não tem outra: lincha. Não é completamente casual que a lei de Lynch seja americana, já que a América é de certo modo o paraíso das massas. Nem muito menos poderá estranhar que agora, quando as massas triunfam, triunfe a violência e se faça dela a única ratio, a única doutrina. Há muito tempo que eu fazia notar este comércio da violência como norma(67), Hoje chegou a seu máximo desenvolvimento, e isso é um bom sintoma, porque significa que automaticamente vai iniciar-se seu descenso. Hoje é já a violência a retórica do tempo; os retóricos, os inanes, a fazem sua. Quando uma realidade humana cumpriu sua história, naufragou e morreu, as ondas a cospem nas costas da retórica, onde, cadáver, pervive largamente. A retórica é o cemitério das realidades humanas; no mínimo, seu hospital de inválidos. À realidade sobrevive seu nome que, ainda sendo sua palavra, é, afinal de contas, nada menos que palavra e conserva sempre algo de seu poder mágico.
Mas ainda quando não seja impossível que tenha começado a minguar o prestígio da violência como norma cinicamente estabelecida, continuaremos sob seu regime, bem que em outra forma.
Refiro-me ao perigo maior que hoje ameaça a civilização européia. Como todos os demais perigos que ameaçam esta civilização, também este nasceu dela. Mais ainda: constitui uma de suas glórias; é o Estado contemporâneo. Encontramo-nos, pois, com uma réplica do que no capítulo anterior se disse sobre a ciência: a fecundidade de seus princípios a propelem a um fabuloso progresso; mas este impõe inexoravelmente a especialização, e a especialização ameaça afogar a ciência.
A mesma coisa acontece com o Estado.
Rememore-se o que era o Estado nos fins do século XVIII em todas as nações européias. Bem pouca coisa! O primeiro capitalismo e suas organizações industriais, onde pela primeira vez triunfa a técnica, a nova técnica, a racionalizada, haviam produzido um primeiro crescimento da sociedade. Uma nova classe social apareceu, mais poderosa em número e potência que as preexistentes: a burguesia. Esta burguesia sem mérito possuía, antes de tudo e sobretudo uma coisa: talento, talento prático. Sabia organizar, disciplinar, dar continuidade e articulação ao esforço. No meio dela, como num oceano, navegava ao azar a “nave do Estado”. A nave do Estado é uma metáfora reinventada pela burguesia, que se sentia a si mesma oceânica, onipotente e grávida de tormentas. Aquela nave era coisa de nada ou pouco mais: apenas tinha soldados, apenas tinha burocratas, apenas tinha dinheiro. Havia sido fabricada na Idade Média por uma classe de homens muito diferentes dos burgueses: os nobres, gente admirável por sua coragem, por seu dom de mando, por seu sentido de responsabilidade. Sem eles não existiriam as nações da Europa. Mas com todas essas virtudes do coração, os nobres andavam, sempre andaram, mal de cabeça. Viviam da outra víscera. De inteligência muito limitada, sentimentais, instintivos, intuitivos; em suma, “irracionais”. Por isso não puderam desenvolver nenhuma técnica, coisa que obriga à racionalização. Não inventaram a pólvora. Entediaram-se. Incapazes de inventar novas armas, deixaram que os burgueses — tomando-as do Oriente ou outro lugar — utilizassem a pólvora, e com isso, automaticamente, ganharam a batalha ao guerreiro nobre, ao “cavalheiro”, coberto estupidamente de ferro, que apenas podia mover-se na lida, e a quem não ocorrera que o segredo eterno da guerra não consiste tanto nos meios de defesa como nos de agressão (segredo que Napoleão redescobriria)(68)
Como o Estado é uma técnica — de ordem pública e de administração —, o “antigo regime” chega aos fins do século XVIII com um Estado fraquíssimo, açoitado de todos os lados por uma ampla e revolta sociedade. A desproporção entre o poder do Estado e o poder social é tal nesse momento, que comparando a situação com a vigente em tempo de Carlos Magno, aparece o Estado do século XVIII como uma degeneração. O Estado carolíngio era, está claro, muito menos poderoso que o de Luís XVI, mas, em compensação, a sociedade que o rodeava não tinha força nenhuma(69). O enorme desnível entre a força social e a do poder público tornou possível a Revolução, as revoluções (até 1848).
Mas com a Revolução apossou-se do Poder público a burguesia e aplicou ao Estado suas inegáveis virtudes, e em pouco mais de uma geração criou um Estado poderoso, que acabou com as revoluções. Desde 1848, quer dizer, desde que começa a segunda geração de governos burgueses não há na Europa verdadeiras revoluções. E não certamente porque não houvesse motivos para elas, mas porque não havia meios. Nivelou-se o Poder público com o poder social. Adeus revoluções para sempre! Já não cabe na Europa mais que o contrário: o golpe de Estado. E tudo que com posterioridade pode dar-se ares de revolução, não foi mais que um golpe de Estado com máscara.
Em nosso tempo, o Estado chegou a ser máquina formidável que funciona prodigiosamente, de uma maravilhosa eficiência pela quantidade e precisão dos seus meios. Plantada no meio da sociedade, basta tocar u’a mola para que atuem suas enormes alavancas e operem fulminantes sobre qualquer parte do corpo social.
O Estado contemporâneo é o produto mais visível e notório da civilização. E é muito interessante, é revelador, precatar-se da atitude que ante ele adota o homem-massa. Este o vê, admira-o, sabe que está aí, garantindo sua vida; mas não tem consciência de que é uma criação humana inventada por certos homens e mantida por certas virtudes e por certo que houve ontem nos homens e que pode evaporar-se amanhã. Por outra parte, o homem-massa vê no Estado um poder anônimo, e como ele se sente a si mesmo anônimo vulgo —, crê que o Estado é coisa sua. Imagine-se que sobrevem na vida pública de um país qualquer dificuldade, conflito ou problema: o homem-massa tenderá a exigir que imediatamente o assuma o Estado, que se encarregue diretamente de resolvê-lo com seus gigantescos e incontrastáveis meios.
Este é o maior perigo que hoje ameaça a civilização: a estatificação da vida, o intervencionismo do Estado, a absorção de toda espontaneidade social pelo Estado; quer dizer, a anulação da espontaneidade histórica, que em definitivo sustenta, nutre e impele os destinos humanos. Quando a massa sente uma desventura, ou simplesmente algum forte apetite, é uma grande tentação para ela essa permanente e segura possibilidade de conseguir tudo — sem esforço, luta, dúvida nem risco — apenas ao premir a mola e fazer funcionar a portentosa máquina. A massa diz a si mesma: “o Estado sou eu”, o que é um perfeito erro. O Estado é a massa só no sentido em que se pode dizer de dois homens que são idênticos porque nenhum dos dois se chama João. Estado contemporâneo e massa coincidem só em ser anônimos. Mas o caso é que o homem-massa crê, com efeito, que ele é o Estado, e tenderá cada vez mais a fazê-lo funcionar a qualquer pretexto, a esmagar com ele toda minoria criadora que o perturbe — que o perturbe em qualquer ordem: em política, em idéias, em indústria.
O resultado desta tendência será fatal. A espontaneidade social ficará violentada uma vez e outra pela intervenção do Estado; nenhuma nova semente poderá frutificar. A sociedade terá de viver para o Estado; o homem, para a máquina do Governo. E como no final das contas não é senão u’a máquina cuja existência e manutenção dependem da vitalidade circundante que a mantenha, o Estado, depois de sugar a medula da sociedade, ficará héctico, esquelético, morto com essa morte ferrugenta da máquina, muito mais cadavérica que a do organismo vivo.
Este foi o signo lamentável da civilização antiga. Não há dúvida que o Estado imperial criado pelos Júlios e os Cláudios foi u’a máquina admirável, incomparavelmente superior como artefato ao velho Estado republicano das famílias patrícias. Mas, curiosa coincidência, apenas chegou a seu pleno desenvolvimento, começa a decair o corpo social. Já nos tempos dos Antoninos (século II) o Estado gravita com uma antivital supremacia sobre a sociedade. Esta começa a ser escravizada, a não poder viver mais que em serviço do Estado. A vida toda se burocratiza. Que acontece? A burocratização da vida produz sua diminuição absoluta — em todas as ordens —. A riqueza diminui e as mulheres parem pouco. Então o Estado, para subvencionar suas próprias necessidades, força mais a burocratização da existência humana. Esta burocratização em segunda potência é a militarização da sociedade. A urgência maior do Estado é seu aparato bélico, seu exército. O Estado é, antes de tudo, produtor de segurança (a segurança de que nasce o homem-massa, não se esqueça). Por isso é, antes de tudo, exército. Os Severos, de origem africana, militarizam o mundo. Faina vã! A miséria aumenta, as matrizes são cada vez menos fecundas. Faltam até soldados. Depois dos Severos, o exército tem de ser recrutado entre estrangeiros.
Adverte-se qual é o processo paradoxal e trágico do estatismo? A sociedade, para viver melhor, cria, como um utensílio, o Estado. Depois, o Estado se sobrepõe, e a sociedade tem de começar a viver para o Estado(70). Mas, no final das contas, o Estado se compõe ainda dos homens daquela sociedade. Entretanto, estes não bastam para sustentar o Estado e é preciso chamar estrangeiros: primeiro, dálmatas; depois, germanos. Os estrangeiros tornaram-se donos do Estado, e os restos da sociedade, do povo inicial, têm de viver escravo deles, de gente com a qual não tem nada que ver. A isso conduz o intervencionismo do Estado: o povo se converte em carne e massa que alimenta o mero artefato e máquina que é o Estado. O esqueleto come a carne que o rodeia. O andaime se torna proprietário e inquilino da casa.
Quando se sabe disso, sobressalta um pouco ouvir que Mussolini apregoa com exemplar petulância, como um prodigioso descobrimento feito agora na Itália, a fórmula Tudo pelo Estado; nada fora do Estado; nada contra o Estado. Bastaria isso para descobrir no fascismo um típico movimento de homens-massa. Mussolini encontrou um Estado admiravelmente construído — não por ele, mas precisamente pelas forças e idéias que ele combate: pela democracia liberal —. Ele se limita a usá-lo incontinentemente; e, sem que eu me permita agora julgar os detalhes de sua obra, é indiscutível que os resultados obtidos até o presente não podem ser comparados aos obtidos na função política e administrativa pelo Estado liberal. Se algo conseguiu, é tão miúdo, pouco visível e nada substantivo, que dificilmente equilibra a acumulação de poderes anormais que lhe consentem empregar aquela máquina em forma extrema.
O estatismo é a forma superior que tomam a violência e a ação direta constituídas em normas. Através e por meio do Estado, máquina anônima, as massas atuam por si mesmas.
As nações européias têm diante de si uma etapa de grande dificuldade em sua vida interior, problemas econômicos, jurídicos e de ordem pública sobremodo árduos. Como não temer que sob o império das massas se encarregue o Estado de esmagar a independência do indivíduo, do grupo, e extinguir assim definitivamente o porvir?
Um exemplo concreto deste mecanismo achamo-lo num dos fenômenos mais alarmantes destes últimos trinta anos: o aumento enorme em todos os países das forças de Polícia. O crescimento social obrigou iniludivelmente a isso. Por muito habitual que nos seja, não deve perder seu terrível paradoxismo ante nosso espírito o fato de que a população de uma grande urbe atual, para caminhar pacificamente e atender a seus negócios, necessita, sem remédio, uma Polícia que regule a circulação. Mas é uma inocência das pessoas de “ordem” pensar que essas “forças de ordem pública”, criadas para a ordem, vão contentar-se com impor sempre o que aquelas queiram. O inevitável é que acabem por definir e decidir elas a ordem que vão impor — e que será, naturalmente, o que lhes convenha.
Convém que aproveitemos o ensejo desta matéria para fazer notar a diferente reação que ante uma necessidade pública pode sentir uma ou outra sociedade. Quando, em 1800, a nova indústria começa a criar um tipo de homem — o obreiro industrial — mais criminoso que os tradicionais, a França apressa-se a criar uma numerosa Polícia. Em 1810 surge na Inglaterra, pelas mesmas causas, um aumento da criminalidade, e então os ingleses percebem de que não têm Polícia. Governam os conservadores. Que farão? Criarão uma Polícia? Nada disso. Preferem agüentar, até onde se possa, o crime. “As pessoas conformam-se em se adaptar à desordem, considerando-a como resgate da liberdade”. “Em Paris — escreve John William Ward — têm uma Polícia admirável, mas pagam caro suas vantagens. Prefiro ver que cada três ou quatro anos se degola meia dúzia de homens em Ratclife Road, a estar submetido a visitas domiciliárias, à espionagem e a todas as maquinações de Fouché(71).” São duas idéias diferentes do Estado. O inglês quer que o Estado tenha limites.
SEGUNDA PARTE
QUEM MANDA
NO
MUNDO?
XIV. QUEM MANDA NO MUNDO?
A civilização européia — tenho repetido uma e outra vez — padeceu automaticamente a rebelião das massas. Por seu anverso, o fato desta rebelião apresenta um aspecto ótimo; já o dissemos: a rebelião das massas é uma e mesma coisa com o crescimento fabuloso que a vida humana experimentou em nosso tempo. Mas o reverso do mesmo fenômeno é tremebundo; olhada por esse lado a rebelião das massas é uma e mesma coisa com a desmoralização radical da humanidade. Olhemos esta agora de vários pontos de vista.
I
A substância ou índole de uma nova época histórica é resultante de variações internas — do homem e de seu espírito —. Entre estas últimas, a mais importante, quase sem dúvida, é a deslocação do poder. Mas este traz consigo uma deslocação do espírito.
Por isso, ao aparecermos a um tempo com ânimo de compreendê-lo, uma de nossas primeiras perguntas deve ser esta: “Quem manda no mundo atualmente?” Poderá ocorrer que neste momento a humanidade esteja dispersa em vários pedaços sem comunicação entre si, que formam mundos interiores e independentes. No tempo de Milcíades, o mundo mediterrâneo ignorava a existência do mundo extremo oriental. Nestes casos teríamos que estabelecer nossa pergunta: “Quem manda no mundo?” a cada grupo de convivência. Mas desde o século XVI entrou a humanidade toda num processo gigantesco de unificação, que em nossos dias chegou a seu término insuperável. Já não há pedaço de humanidade que viva à parte — não há ilhas de humanidade —. Portanto, desde aquele século pode dizer-se que quem manda no mundo exerce, efetivamente, seu influxo autoritário em todo ele. Esse tem sido o papel do grupo homogêneo formado pelos povos europeus durante três séculos. A Europa mandava, e sob sua unidade de mando o mundo vivia com um estilo unitário, ou, pelo menos, progressivamente unificado.
Esse estilo de vida sói denominar-se “Idade Moderna”, nome incolor e inexpressivo sob o qual se oculta esta realidade: época da hegemonia européia.
Por “mando” não se entende aqui primordialmente exercícios de poder material, de coação física. Porque aqui aspira-se a evitar estupidezes, pelo menos as mais ordinárias e palmares. Ora bem: essa relação estável e normal entre homens que se chama “mando” não descansa nunca na força, mas, pelo contrário, porque um homem ou grupo de homens exerce o mando, tem à sua disposição esse aparato ou máquina social que se chama “força”. Os casos em que à primeira vista parece ser a força o fundamento do mando, revelam-se ante uma inspeção ulterior como os melhores exemplos para confirmar aquela tese. Napoleão dirigiu à Espanha uma agressão, sustentou esta agressão durante algum tempo; mas não mandou propriamente na Espanha nem um dia sequer. E isso porque tinha a força e precisamente porque só tinha a força. Convém distinguir entre um fato ou processo de agressão e uma situação de mando. O mando é o exercício normal da autoridade. O qual se funda sempre na opinião pública — sempre, hoje como há dez mil anos, entre os ingleses como entre os botocudos —. Jamais alguém mandou na terra nutrindo seu mando essencialmente de outra coisa que não fosse a opinião pública.
Ou acredita-se que a soberania da opinião pública foi um invento feito pelo advogado Danton em 1789 ou por S. Tomás de Aquino no século XIII? A noção desta soberania terá sido descoberta aqui ou ali, nesta ou naquela data; mas o fato de que a opinião pública é a força radical que nas sociedades humanas produz o fenômeno de mandar, é coisa tão antiga e perene como o próprio homem. Assim, na física de Newton a gravitação é a força que produz o movimento. E a lei da opinião pública é a gravitação universal da história política. Sem ela, nem a ciência histórica seria possível. Por isso muito agudamente insinua Hume que o tema da história consiste em demonstrar como a soberania da opinião pública, longe de ser uma aspiração utópica, é o que pesou sempre e a toda hora nas sociedades humanas. Pois até quem pretende governar com os janízaros depende da opinião destes e da que tenham sobre estes os demais habitantes.
A verdade é que não se manda com os janízaros. Assim, Talleyrand a Napoleão: “Com as baionetas, Sire, pode-se fazer tudo, menos uma coisa: sentar-se sobre elas.” E mandar não é atitude de arrebatar o poder, mas tranqüilo exercício dele. Em suma, mandar é sentar-se. Trono, cadeira curul, banco azul, poltrona ministerial, sede. Contra o que uma ótica inocente e folhetinesca supõe, o mandar não é tanto questão de punhos como de nádegas. O Estado é, em definitivo, o estado da opinião: uma situação de equilíbrio, de estática.
O que sucede é que às vezes a opinião pública não existe. Uma sociedade dividida em grupos discrepantes, cuja força de opinião fica reciprocamente anulada, não dá lugar a que se constitua um mando. E como a Natureza tem horror ao vácuo, esse oco que deixa a força ausente de opinião pública enche-se com a força bruta. Em suma, pois, avança esta como substituta daquela.
Por isso, se se quer expressar com toda a precisão a lei da opinião pública como lei da gravitação histórica, convém ter em conta esses casos de ausência, e então chega-se a uma fórmula que é o conhecido, venerável e verídico lugar comum: não se pode mandar contrariando a opinião pública.
Isso nos faz cair na conclusão de que mando significa prepotência de uma opinião; portanto, de um espírito; de que mando não é, no final das contas, outra coisa senão poder espiritual. Os fatos históricos confirmam isso escrupulosamente. Todo mando primitivo tem um caráter “sacro”, porque se funda no religioso, e o religioso é a forma primeira sob a qual aparece sempre o que depois vai ser espírito, idéia, opinião; em suma, o imaterial e ultra-físico. Na Idade Média se reproduz com formato maior o mesmo fenômeno. O Estado ou Poder público primeiro que se forma na Europa é a Igreja — com seu caráter específico e já nominativo de “poder espiritual” —. Da Igreja aprende o Poder político que ele também não é originariamente senão poder espiritual, vigência de certas idéias, e cria-se o Sacro Romano Império. Deste modo lutam dois poderes igualmente espirituais que, não podendo diferenciar-se na substância — ambos são espírito —, convêm no acordo de se instalar cada um em um modo de tempo: o temporal e o eterno. Poder temporal e poder religioso são identicamente espirituais; mas um é espírito do tempo — opinião pública intramundana e cambiante —, enquanto o outro é espírito de eternidade — a opinião de Deus, a que Deus tem sobre o homem e seus destinos.
Tanto vale, pois, dizer: em tal data manda tal homem, tal povo ou tal grupo homogêneo de povos, como dizer: em tal data predomina no mundo tal sistema de opiniões — idéias, preferências, aspirações, propósitos.
Como há de se entender este predomínio? A maior parte dos homens não têm opinião, e é preciso que esta lhe venha de fora a pressão, como entra o lubrificante nas máquinas. Por isso é preciso que o espírito — seja qual seja — tenha poder e o exerça, para que a gente que não opina — e é a maioria — opine. Sem opiniões, a convivência humana seria o caos; menos ainda: o nada histórico. Sem opiniões, a vida dos homens careceria de arquitetura, de organicidade. Por isso, sem um poder espiritual, sem alguém que mande, e na medida que isso seja necessário, reina na humanidade o caos. E paralelamente, toda deslocação de poder, toda mudança de imperantes, é ao mesmo uma mudança de opiniões, e, consequentemente, nada menos que uma mudança de gravitação histórica.
Voltemos agora ao começo. Durante vários séculos mandou no mundo a Europa, um conglomerado de povos com um espírito afim. Na Idade Média não mandava ninguém no mundo temporal. É o que aconteceu em todas as idades médias da história. Por isso representam sempre um relativo caos e uma relativa barbárie, um déficit de opinião. São tempos em que se ama, se odeia, se anseia, se repugna, e tudo isso em grande escala. Mas, em compensação, opina-se pouco. Tempos assim não carecem de delícias. Mas nos grandes tempos a humanidade vive da opinião, e por isso há ordem. Do outro lado da Idade Média achamos novamente uma época em que, como na Moderna, manda alguém, embora sobre uma porção limitada do mundo: Roma, a grande mandona. Ela pôs ordem no Mediterrâneo e confinantes.
Nestas jornadas de após-guerra começa a dizer-se que a Europa não manda mais no mundo. Adverte-se toda a gravidade deste diagnóstico? Com ele anuncia-se uma deslocação do poder. Para onde se dirige? Quem vai suceder a Europa no mando do mundo? Mas há mesmo certeza de que alguém vai suceder à Europa? E se não fosse ninguém, que aconteceria?
II
A pura verdade é que no mundo acontece a todo instante, e, portanto, agora, infinidade de coisas. A pretensão de dizer o que é que acontece agora no mundo deve ser entendida, pois, como ironizando-se a si mesma. Mas assim como é impossível conhecer diretamente a plenitude do real, não temos mais remédio senão construir arbitrariamente uma realidade, supor que as coisas são de certa maneira. Isto nos proporciona um esquema, quer dizer, um conceito ou entretecido de conceitos. Com ele, como através de uma quadrícula, olhamos depois a efetiva realidade, e então, só então, conseguimos uma visão aproximada dela. Nisto consiste o método científico. Mais ainda: nisto consiste todo uso do intelecto. Quando ao ver chegar nosso amigo pela vereda do jardim dizemos: “Este é Pedro”, cometemos deliberadamente, ironicamente, um erro. Porque Pedro significa para nós um esquemático repertório de modos de se comportar física e moralmente — o que chamamos “caráter” —, e a pura verdade é que nosso amigo Pedro não se parece, em certos momentos, em quase nada à idéia “nosso amigo Pedro”.
Todo conceito, o mais vulgar como o mais técnico, vai incluso na ironia de si mesmo, nos entredentes de um sorriso tranqüilo, como o geométrico diamante vai implícito na dentadura de ouro de seu engaste. Ele diz muito seriamente: “Esta coisa é A, e esta outra coisa é B.” Mas é a sua a seriedade de um pince-sans-rire. É a seriedade instável de quem engoliu uma gargalhada e se não aperta bem os lábios a vomita. Ele sabe muito bem que nem esta coisa é A, assim, à valentona, nem a outra é B, sem reservas. O que o conceito pensa a rigor é um pouco outra coisa que o que diz, e nesta duplicidade consiste a ironia. O que verdadeiramente pensa é isto: eu sei que, falando com todo rigor, esta coisa não é A, nem aquela B; mas, admitindo que são A e B, eu me entendo comigo mesmo para os efeitos de meu comportamento vital diante de uma ou de outra coisa.
Esta teoria do conhecimento da razão houvera irritado a um grego. Porque o grego acreditou haver descoberto na razão, no conceito, a realidade mesma. Nós, contrariamente, acreditamos que a razão, o conceito, é um instrumento doméstico do homem, que este necessita e usa para esclarecer sua própria situação em meio da infinita e arqui-problemática realidade que é sua vida. Vida é luta com as coisas para sustentar-se entre elas. Os conceitos são o plano estratégico que nos formamos para responder a seu ataque. Por isso, se se escruta bem a entranha última de qualquer conceito, acha-se que não nos diz nada da coisa mesma, mas que resume o que um homem pode fazer com essa coisa ou padecer dela. Esta opinião taxativa, segundo a qual o conteúdo de todo conceito é sempre vital, é sempre ação possível, ou padecimento possível de um homem, não foi até agora, que eu saiba, sustentada por ninguém; mas é, a meu juízo, o término indefectível do processo filosófico que se inicia com Kant. Por isso, se revisamos a sua luz todo o passado da filosofia até Kant, parecer-nos-á que no fundo todos os filósofos disseram a mesma coisa. Ora bem, todo descobrimento filosófico não é mais que um descobrimento e um trazer à superfície o que estava no fundo.
Mas semelhante intróito é desmesurado para o que vou dizer, tão alheio a problemas filosóficos. Eu ia dizer simplesmente que o que agora acontece no mundo — entende-se, o histórico — é exclusivamente isto: durante três séculos a Europa mandou no mundo, e agora a Europa não está convicta de mandar nem de continuar mandando. Reduzir a fórmula tão simples a infinitude de coisas que integram a realidade histórica atual, é sem dúvida e no melhor caso uma exageração, e eu necessitava por isso recordar que pensar é, queira-se ou não, exagerar. Quem prefira não exagerar deve calar-se; mais ainda: tem de paralisar seu intelecto e ver a maneira de idiotizar-se.
Creio, com efeito, que é aquilo que realmente está acontecendo no mundo, e que tudo o mais é conseqüência, condição, sintoma ou anedota disso.
Eu não disse que a Europa tenha deixado de mandar, mas, estritamente, que nestes anos a Europa sente graves dúvidas sobre se manda ou não, sobre se amanhã mandará. A isto corresponde nos demais povos da Terra um estado de espírito congruente: duvidar de se agora são mandados por alguém. Tampouco estão certos disso.
Falou-se muito nestes anos da decadência da Europa. Eu suplico fervorosamente que não se continue cometendo a ingenuidade de pensar em Spengler simplesmente porque se fale da decadência da Europa ou do Ocidente. Antes de que seu livro aparecera, todo o mundo falava disso, e o êxito de seu livro deveu-se, como é notório, a que tal suspeita ou preocupação preexistia em todas as cabeças, com os sentidos e pelas razões mais heterogêneas.
Falou-se tanto da decadência européia, que muitos chegaram a dá-la como um fato. Não que acreditavam a sério e com evidência nele, mas que se habituaram a dá-lo como certo, embora não recordem sinceramente haver-se convencido resolutamente disso em nenhuma data determinada. O recente livro de Waldo Frank, Redescobrimento da América, apoia-se integralmente no suposto de que a Europa agoniza. Não obstante, Frank nem analisa nem discute, nem faz questão de tão enorme fato, que lhe vai servir de formidável premissa. Sem mais averiguações, parte dele como de algo inconcusso. E esta ingenuidade no ponto de partida basta-me para pensar que Frank não está convencido da decadência da Europa; longe disso, nem sequer levantou tal questão. Toma-a como um bonde. Os lugares comuns são os bondes do transporte intelectual.
E como ele fazem muitas pessoas. Sobretudo, fazem-no os povos, povos inteiros.
E uma paisagem de exemplar puerilidade a que agora oferece o mundo. Na escola, quando alguém notifica que o mestre saiu, a turba parvular faz bagunça. Cada um sente a delícia de evadir-se da pressão que a presença do mestre impunha, de sacudir os jugos das normas, de ficar de cabeça para baixo, de sentir-se dono do próprio destino. Mas, como tirada a norma que fixava as ocupações e as tarefas, a turba parvular não tem um afazer próprio, uma ocupação formal, uma tarefa com sentido, continuidade e trajetória, consequentemente só pode executar uma só coisa: a cabriola.
É deplorável o frívolo espetáculo que os povos menores oferecem. À vista de que, segundo se diz, a Europa decai e, portanto, deixa de mandar, cada nação e naçãozinha brinca, gesticula, fica de cabeça para baixo, entesa-se, dando-se ares de pessoa maior que rege seus próprios destinos. Daí o vibriônico panorama de “nacionalismos” que se nos oferece por toda a parte.
Nos capítulos anteriores tentei filiar um novo tipo do homem que hoje predomina no mundo: chamei-o homem-massa, e fiz notar que sua principal característica consiste em que, sentindo-se vulgar, proclama o direito à vulgaridade e nega-se a reconhecer instâncias superiores a ele. Era natural que se esse modo de ser predomina dentro de cada povo, o fenômeno também se produza quando olhamos o conjunto das nações. Também há, relativamente, povos-massa resolvidos a rebelar-se contra os grandes povos criadores, minorias de estirpes humanas que organizaram a história. É verdadeiramente cômico contemplar como esta ou a outra republiqueta, desde seu perdido rincão, se põe na ponta dos pés a increpar a Europa e declarar sua cessação na história universal.
Qual é o resultado? A Europa havia criado um sistema de normas cuja eficácia e fertilidade os séculos demonstraram. Estas normas não são, de modo algum, as melhores possíveis. Mas são, sem dúvida, definitivas enquanto não existam ou se divisem outras. Para superá-las é imprescindível parir outras. Ora, os povos-massa resolveram dar como caduco aquele sistema de normas que é a civilização européia, mas como são incapazes de criar outro, não sabem o que fazer, e para encher o tempo entregam-se à cabriola.
Esta é a primeira conseqüência que sobrevem quando no mundo deixa de mandar alguém: que os demais, ao rebelar-se, ficam sem tarefa, sem programa de vida.
III
O cigano foi se confessar; mas o padre, precavido, começou por interrogá-lo sobre os mandamentos de Deus. Ao que o cigano respondeu: “Olhe aqui, seu padre, eu ia aprender isso, mas depois ouvi um zum-zum de que tinha perdido o valor”.
Não é essa a situação presente do mundo? Corre o zum-zum de que não vigorem mais os mandamentos europeus, e em vista disso, as pessoas — homens e povos — aproveitam a ocasião para viver sem imperativos. Porque existiam só os europeus. Não se trata de que — como outras vezes aconteceu — uma germinação de normas novas substitui as antigas e um fervor novíssimo absorva em seu fogo jovem os velhos entusiasmos de minguante temperatura. Isso seria o admitido. Mais ainda: o velho advém velho não por sua senectude, mas porque já está aí um princípio novo, que apenas com sua novidade avantaja-se de repente ao preexistente. Se não tivéssemos filhos, não seríamos velhos ou levaríamos mais tempo a sê-lo. A mesma coisa acontece com os artefatos. Um automóvel envelhece em dez anos mais do que uma locomotiva em vinte, simplesmente porque os inventos da técnica automobilística têm ocorrido com mais rapidez. Esta descendência oriunda do broto de novas juventudes é um sintoma de saúde.
Mas o que agora acontece na Europa é coisa insalubre e estranha. Os mandamentos europeus perderam vigência sem que se vislumbrem outros no horizonte. A Europa — diz-se — deixa de mandar, e não se vê quem possa substituí-la. Por Europa entende-se, antes de tudo e propriamente, a trindade França, Inglaterra, Alemanha. Na região do globo que elas ocupam amadureceu o módulo de existência humana conforme ao qual foi organizado o mundo. Se, como agora se diz, esses três povos estão em decadência e seu programa de vida perdeu validez, não é de estranhar que o mundo se desmoralize.
E esta é a pura verdade. Todo o mundo — nações, indivíduos — está desmoralizado. Durante uma temporada, esta desmoralização diverte e até vagamente ilude. Os inferiores pensam que lhes tiraram um peso de cima. Os decálogos conservam do tempo em que eram inscritos sobre pedra ou bronze seu caráter de pesadume. A etimologia de mandar significa carregar, pôr em alguém algo nas mãos. Quem manda é, sem remissão, quem tem o encargo. Os inferiores do mundo inteiro já estão fartos de que os encarreguem e sobrecarreguem, e aproveitam com ar festivo este tempo de pesados imperativos. Mas a festa dura pouco. Sem mandamentos que nos obriguem a viver de um certo modo, fica nossa vida em pura disponibilidade. Esta é a horrível situação íntima em que se encontram já as juventudes melhores do mundo. De puro sentir-se livres, isentas de entraves, sentem-se vazias. Uma vida em disponibilidade é maior negação que a morte. Porque viver é ter que fazer algo determinado — é cumprir um encargo —, e na medida em que iludamos pôr em algo nossa existência desocupamos nossa vida. Dentro de pouco ouvir-se-á um grito formidável em todo o planeta, que subirá, como uivo de cães inumeráveis, até as estrelas, pedindo alguém e algo que mande, que imponha um afazer ou obrigação.
Vá isto dito para os que, com inconsciência de crianças, nos anunciam que a Europa já não manda. Mandar é dar ocupação às gentes, metê-las em seu destino, em seu eixo; impedir sua extravagância, a qual sói ser vacância, vida vazia, desolação.
Não importaria que a Europa deixasse de mandar se houvesse alguém capaz de substituí-la. Mas não há sombra de tal. Nova York e Moscou não são nada novo com respeito à Europa. São um e outro duas parcelas do mandamento europeu que, ao dissociar-se do resto, perderam seu sentido. A rigor, causa horror falar de Nova York e de Moscou. Porque não se sabe com plenitude o que são: só se sabe que nem sobre um nem sobre outro se disseram palavras decisivas. Mas ainda sem saber plenamente o que são, alcança-se o bastante para compreender seu caráter genérico. Ambos, com efeito, pertencem de cheio ao que algumas vezes chamei “fenômenos de camouflage histórica”. A camouflage é, por essência, uma realidade que não é a que parece. Seu aspecto oculta, em vez de declarar, sua substância. Por isso engana a maior parte das pessoas. Só se pode livrar da equivocação que produz a camouflage quem saiba de antemão, e em geral, que a camouflage existe. A mesma coisa acontece com o espelhismo. O conceito corrige os olhos.
Em todo fato de camouflage histórica há duas realidades que se superpõem: uma, profunda, efetiva, substancial; outra, aparente, acidental e de superfície. Assim, em Moscou há uma película de idéias européias — o marxismo — pensadas na Europa em vista de realidades e problemas europeus. Debaixo dela há um povo, não só diferente como matéria étnica do europeu, mas — o que importa muito mais — de uma idade diferente da nossa. Um povo ainda em fermento; quer dizer, juvenil. Que o marxismo tenha triunfado na Rússia — onde não há indústria — seria a contradição maior que podia sobrevir ao marxismo. Mas não há tal contradição, porque não há tal triunfo. A Rússia é marxista aproximadamente como eram romanos os tudescos do Sacro Império Romano. Os povos novos não têm idéias. Quando crescem num âmbito onde existe ou acaba de existir uma velha cultura, disfarçam-se na idéia que esta lhes oferece. Aqui está a camouflage e sua razão. Esquece-se — como notei várias vezes — que há dois grandes tipos de evolução para um povo. Há o povo que nasce em um “mundo” vazio de toda civilização. Exemplo: o egípcio ou o chinês. Num povo assim, tudo é autóctone, e suas atitudes têm um sentido claro e direto. Mas há outros povos que germinam e se desenvolvem num âmbito ocupado já por uma cultura de história anosa. Assim Roma, que cresce em pleno Mediterrâneo, cujas águas estavam impregnadas de civilização greco-oriental. Daqui que a metade das atitudes romanas não sejam suas, mas aprendidas. E a atitude aprendida, recebida, é sempre dupla, e sua verdadeira significação não é direta, mas oblíqua. Quem faz um gesto aprendido — por exemplo, um vocábulo de outro idioma — faz por baixo dele o seu gesto, o autêntico; por exemplo, traduz a sua própria linguagem o vocábulo exótico. Daí que para entender as camouflages seja mister também um olhar oblíquo: o de quem traduz um texto com um dicionário ao lado. Eu espero um livro em que o marxismo de Stalin apareça traduzido à história da Rússia. Porque isso, o que tem de russo, é o que tem de forte, e não o que tem de comunista. Vá lá saber o que será! O único que cabe afirmar é que a Rússia necessita de séculos ainda para optar ao mando. Porque carece ainda de mandamentos necessitou fingir sua adesão ao princípio europeu de Marx. Porque lhe sobra juventude bastou-lhe essa ficção. O jovem não necessita de razões para viver; só necessita de pretextos.
Coisa muito semelhante acontece com Nova York. Também é um erro atribuir sua força atual aos mandamentos a que obedece. Em última instância reduz-se a este: a técnica. Que casualidade! Outro invento europeu, não americano. A técnica é inventada pela Europa durante os séculos XVIII e XIX. Que casualidade! Os séculos em que a América nasce. E a sério nos dizem que a essência da América é sua concepção praticista e técnica da vida! Em vez de nos dizer: A América é, como sempre as colônias, uma repristinação ou rejuvenescimento de raças antigas, sobretudo da Europa. Em virtude de razões diferentes da Rússia, os Estados Unidos significam também um caso dessa específica realidade histórica que chamamos “povo novo”. Supõe-se que isso seja uma frase, quando é uma coisa tão efetiva como a juventude de um homem. A América é forte por sua juventude, que se pôs a serviço do mandamento contemporâneo “técnica”, como podia haver-se posto a serviço do budismo se este fosse a ordem do dia. Mas a América não faz com isso senão começar sua história. Agora vão começar suas angústias, suas dissenções, seus conflitos. Ainda tem de ser muitas coisas; entre elas, algumas as mais opostas à técnica e ao praticismo. A América conta menos anos que a Rússia. Eu sempre, com medo de exagerar, sustentei que era um povo primitivo camuflado pelos últimos inventos(72). Agora Waldo Frank, em seu Redescobrimento da América, o declara francamente. A América ainda não sofreu; é ilusório pensar que possa possuir as virtudes do mando.
Quem evite cair na conseqüência pessimista de que ninguém vai mandar, e que, portanto, o mundo histórico volta ao caos, tem de retroceder ao ponto de partida e perguntar-se a sério: É tão certo como se diz que a Europa está em decadência e resigne o mandato, abdique? Não será esta aparente decadência a crise benfeitora que permita à Europa ser literalmente Europa? A evidente decadência das nações européias, não era a priori necessária se algum dia haviam de ser possível os Estados Unidos da Europa, a pluralidade européia substituída por uma formal unidade?
IV
A função de mandar e obedecer é a decisiva em toda sociedade. Como ande nesta turvação a questão de quem manda e quem obedece, tudo o mais marchará impura e torpemente. Até a mais íntima intimidade de cada indivíduo, salvas geniais exceções, ficará perturbada e falsificada. Se o homem fosse um ser solitário que acidentalmente se acha travado em convivência com outros, talvez permanecesse intacto de tais repercussões, oriundas dos deslocamentos e crises do imperar, do Poder. Mas, como é social em sua mais elementar estrutura, fica transtornado em sua índole privada por mutações que a rigor só afetam imediatamente à coletividade. Daí que se tomamos à parte um indivíduo e o analisamos, cabe coligir sem mais dados como anda em seu país a consciência de mando e obediência.
Fora interessante e até útil submeter a este exame o caráter individual do espanhol médio. A operação seria, não obstante, enfadonha, e, embora útil, deprimente; por isso a evito. Mas faria ver a enorme dose de desmoralização íntima, de acanalhamento que no homem médio do nosso país produz o fato de ser a Espanha uma nação que vive há séculos com uma consciência suja na questão de mando e obediência. O acanalhamento não é outra coisa senão a aceitação como estado habitual e constituído de uma irregularidade, de algo que enquanto se aceita continua parecendo indevido. Como não é possível converter em sã normalidade o que em sua essência é criminoso e anormal, o indivíduo opta por adaptar-se ao indevido, fazendo-se totalmente homogêneo com o crime ou irregularidade que arrasta. Em um mecanismo parecido ao que o adágio popular enuncia quando diz: “Uma mentira faz cento”. Todas as nações atravessaram jornadas em que aspirou a mandar sobre elas quem não devia mandar; mas um forte instinto lhes fez concentrar ao ponto suas energias e expelir aquela irregular pretensão de mando. Rechaçaram a irregularidade transitória e reconstituíram assim sua moral pública. Mas o espanhol fez o contrário: em vez de opor-se a ser imperado por quem sua íntima consciência rechaçava, preferiu falsificar todo o resto de seu ser para o acomodar àquela fraude inicial. Enquanto isso persistir em nosso país, é vão esperar nada dos homens de nossa raça. Não pode ter vigor elástico para a difícil faina de sustentar-se com decoro na história uma sociedade cujo Estado, cujo império ou mando, é constitutivamente fraudulento.
Não há, pois, nada de estranho em que bastasse uma ligeira dúvida, uma simples vacilação sobre quem manda no mundo, para que todo o mundo — em sua vida pública e em sua vida privada — haja começado a desmoralizar-se.
A vida humana, por sua natureza própria, tem de estar posta em algo, em uma empresa gloriosa ou humilde, em um destino ilustre ou trivial. Trata-se de uma condição estranha, mas inexorável, inscrita em nossa existência. Por um lado, viver é algo que cada qual faz por si e para si. Por outro lado, se essa vida minha, que só a mim me importa, não é entregue por mim a algo, caminhará desvencilhada, sem tensão e sem “forma”. Estes anos assistimos ao gigantesco espetáculo de inumeráveis vidas humanas que marcham perdidas no labirinto de si mesmas por não ter a que se entregar. Todos os imperativos, todas as ordens ficaram em suspenso. Parece que a situação devia ser ideal, pois cada vida fica em absoluta franquia para fazer o que lhe der na vontade, para vagar a si mesma. Sucede o mesmo a cada povo. A Europa afrouxou sua pressão sobre o mundo. Mas o resultado foi contrário ao que se poderia esperar. Livrada a si mesma, cada vida fica sem si mesma, vazia, sem ter o que fazer. E como há de se encher com algo, inventa-se ou finge frivolamente a si mesma, dedica-se a falsas ocupações, que nada íntimo, sincero, impõe. Hoje é uma coisa, amanhã, outra, oposta à primeira. Está perdida ao encontrar-se só consigo. O egoísmo é labiríntico. Compreende-se. Viver é ir arrojado para alguma direção, é caminhar para uma meta. A meta não é o meu caminhar, não é a minha vida; é algo a que ponho esta e que por isso mesmo está fora dela, mais além. Se resolvo andar só por dentro de minha vida, egoisticamente, não avanço, não vou a parte alguma; dou voltas e mais voltas em um mesmo lugar. Isto é o labirinto, um caminho que não leva a nada, que se perde em si mesmo, de tanto não ser mais que caminhar por dentro de si.
Depois da guerra, o europeu fechou-se em seu interior, ficou sem empresa para si e para os demais. Por isso continuamos historicamente como há dez anos.
Não se manda em seco. O mando consiste em uma pressão que se exerce sobre os demais. Mas não consiste só nisso. Se fosse isto só, seria violência. Não se esqueça que mandar tem duplo efeito: manda-se em alguém, mas manda-se-lhe algo. E o que se lhe manda é, no final das contas, que participe em uma empresa, em um grande destino histórico. Por isso não há império sem programa de vida, precisamente sem um plano de vida imperial. Como diz o verso de Schiller:
Quando os reis constróem, os carreiros têm o que fazer.
Não convém, pois, embarcar na opinião trivial que crê ver na atuação dos grandes povos — como dos homens — uma inspiração puramente egoísta. Não é tão fácil como se crê ser puro egoísta, e ninguém, sendo-o, triunfou jamais. O egoísmo aparente dos grandes povos e dos grandes homens é a dureza inevitável com que se deve comportar quem tem sua vida posta em uma empresa. Quando de verdade se vai fazer algo e nos entregamos a um projeto, não se nos pode pedir que estejamos em disponibilidade para atender aos transeuntes e que nos dediquemos a pequenos altruísmos ocasionais. Uma das coisas que mais encantam os viajantes quando cruzam a Espanha é que se perguntam a alguém na rua onde fica uma praça ou edifício, com freqüência o perguntado deixa o caminho que leva e generosamente se sacrifica pelo estranho, conduzindo-o ao lugar que a este interessa. Eu não nego que possa haver nesta índole do bom celtibero algum fator de generosidade, e me alegro que o estrangeiro interprete assim sua conduta. Mas nunca ao ouvi-lo ou lê-lo pude reprimir este receio: é que o compatriota perguntado ia de fato a alguma parte? Porque poderia ocorrer muito bem que, em muitos casos, o espanhol não está fazendo nada, não tem projeto nem missão, pelo contrário, sai à vida para ver se as dos outros enchem um pouco a sua. Em muitos casos consta-me que meus compatriotas saem à rua para ver se encontram algum forasteiro a quem acompanhar.
Grave é que esta dúvida sobre o mando do mundo, exercido até agora pela Europa, tenha desmoralizado o resto dos povos, salvo aqueles que por sua juventude estão ainda em sua pré-história. Mas é muito mais grave que este piétenement sur place chegue a desmoralizar por completo o europeu mesmo. Não penso assim porque eu seja europeu ou coisa parecida. Não é que diga: se o europeu não há de mandar no futuro próximo, não me interessa a vida do mundo. Nada me importaria a cessação do mando europeu se existisse hoje outro grupo de povos capaz de substitui-lo no Poder e na direção do planeta. Mas nem sequer isso pediria. Aceitaria que não mandasse ninguém, se isso não trouxesse consigo a volatilização de todas as virtudes e de todos os dotes do homem europeu.
Ora bem, isso é irremissível. Se o europeu se habitua a não mandar, bastarão geração e meia para que o velho continente, e atrás dele o mundo todo, caía na inércia moral, na esterilidade intelectual e na barbárie omnímoda. Só a ilusão do império e a disciplina de responsabilidade que ela inspira podem manter em tensão as almas do Ocidente. A ciência, a arte, a técnica e tudo o mais vivem da atmosfera tônica que cria a consciência de mando. Se falta esta, o europeu se irá envilecendo. Já não terão as mentes essa fé radical em si mesmas que as lança enérgicas, audazes, tenazes, à captura de grandes idéias, novas em toda ordem. O europeu se fará definitivamente cotidiano. Incapaz de esforço criador e luxuoso, recairá sempre no ontem, no hábito, na rotina. Tornar-se-á vulgar, formulista, oco, como os gregos da decadência e como os de toda a história bizantina.
A vida criadora supõe um regime de alta higiene, de grande decoro, de constantes estímulos, que excitam a consciência da dignidade. A vida criadora é vida enérgica, e esta só é possível em uma destas situações: ou sendo quem manda ou achando-se alojado em um mundo onde manda alguém a quem reconhecemos pleno direito para tal função; ou mando ou obedeço. Mas obedecer não é agüentar — agüentar é envilecer-se — mas, pelo contrário, estimar quem manda e acompanhá-lo, solidarizando-se com ele, situando-se com fervor sob o drapejar de sua bandeira.
V
Convém que agora retrocedamos ao ponto de partida destes artigos: ao fato, tão curioso, de que no mundo se fale estes anos tanto sobre a decadência da Europa. Já é surpreendente o detalhe de que esta decadência não tenha sido notada primeiramente pelos estranhos, mas que o descobrimento dela se deva aos europeus mesmos. Quando ninguém, fora do velho continente, pensava nisso, ocorreu a alguns homens da Alemanha, da Inglaterra, da França, esta sugestiva idéia: Não será que começamos a decair? A idéia teve boa Imprensa, e hoje todo o mundo fala da decadência européia como de uma realidade inconcussa.
Mas detende ao que a enunciar com um leve gesto e perguntai-lhe em que fenômenos concretos e evidentes funda seu diagnóstico. Prontamente vereis a pessoa fazer vagos ademanes e praticar essa agitação de braços para a rotundidade do universo que é característica de todo náufrago. Não sabe, com efeito, a que se agarrar. A única coisa que sem grandes precisões aparece quando se quer definir a atual decadência européia, é o conjunto de dificuldades econômicas que encontra hoje diante de cada uma das nações européias. Mas quando se vai precisar um pouco o caráter dessas dificuldades, adverte-se que nenhuma delas afeta seriamente o poder de criação da riqueza e que o velho continente passou por uma crise muito mais grave nesta ordem.
É que, porventura, o alemão ou o inglês não se sentem hoje capazes de produzir mais e melhor que nunca? Em modo algum, e importa muito filiar o estado de espírito desse alemão ou desse inglês nesta dimensão do econômico. Pois o curioso é, precisamente, que a depressão indiscutível de seus ânimos não provém de que se sintam pouco capazes, mas pelo contrário, de que sentindo-se com mais potencialidade do que nunca, tropecem com certas barreiras fatais que os impedem de realizar o que muito bem poderiam. Essas fronteiras fatais da economia atual alemã, inglesa, francesa, são as fronteiras políticas dos Estados respectivos. A dificuldade autêntica não radica, pois, neste ou no outro problema econômico que esteja levantado, mas em que na forma da vida pública em que se haviam de mover as capacidades econômicas é incongruente como o tamanho destas. A meu ver, a sensação de menoscabo, de impotência que abruma inegavelmente estes anos à vitalidade européia, nutre-se dessa desproporção entre o tamanho da potencialidade européia atual e o formato da organização política em que tem de atuar. O arranco para resolver as graves questões urgentes é tão vigoroso como quando mais o tenha sido; mas tropeça no mesmo instante com as reduzidas jaulas em que está alojado, com as pequenas nações em que até agora vivia organizada a Europa. O pessimismo, o desânimo que hoje pesa sobre a alma continental parece-me muito ao da ave de asa larga que ao bater os remígios se fere contra as grades da jaula.
A prova disso é que a combinação se repete em todas as demais ordens, cujos fatores são em aparência tão diferentes do econômico. Por exemplo, na vida intelectual. Todo bom intelectual da Alemanha, da Inglaterra ou da França sente-se hoje afogado nos limites de sua nação, sente sua nacionalidade como uma limitação absoluta. O professor alemão já viu claro que é absurdo o estilo de produção a que o obriga seu público imediato de professores alemães, e sente falta da superior liberdade de expressão que desfrutam o escritor francês ou o ensaísta inglês. Vice-versa, o homem de letras parisiense começa a compreender que está esgotada a tradição de mandarinismo literário, de verbal formalismo, a que o condena sua proveniência francesa, e preferiria, conservando as melhores qualidades dessa tradição, integrá-la com algumas virtudes do professor alemão.
Na ordem da política interior acontece a mesma coisa. Não se analisou ainda a fundo a estranhíssima questão de por que anda tão em agonia a vida política de todas as grandes nações. Diz-se que as instituições democráticas caíram em desprestígio. Mas isso é justamente o que conviria explicar. Porque é um desprestígio estranho. Fala-se mal do Parlamento em toda a parte; mas não se vê que em nem uma das que contam se intente sua substituição, nem sequer que existam perfis utópicos de outras formas de Estado que, ao menos idealmente, pareçam preferíveis. Não há, pois, que crer muito na autenticidade deste aparente desprestígio. Não são as instituições, em quanto instrumento de vida pública, as que vão mal na Europa, mas as tarefas em que empregá-las. Faltam programas de tamanho congruente com as dimensões efetivas que a vida chegou a ter dentro de cada indivíduo europeu.
Há aqui um erro de ótica que convém corrigir de uma vez para sempre, porque enfara escutar as inépcias que a toda hora se diz, por exemplo, a propósito do Parlamento. Existe toda uma série de objeções válidas ao modo de conduzir-se os Parlamentos tradicionais; mas se se tomam uma a uma, vê-se que nem uma delas permite a conclusão de que deve suprimir-se o Parlamento, mas, pelo contrário, todas levam por via direta e evidente à necessidade de reformá-lo. Ora bem: o melhor que humanamente pode dizer-se de algo é que necessita ser reformado, porque isso implica que é imprescindível e que é capaz de nova vida. O automóvel atual saiu das objeções que se opuseram ao automóvel de 1910. Mas a desestima vulgar em que caiu o Parlamento não procede dessas objeções. Fala-se, por exemplo, que não é eficaz. Nós devemos então perguntar: Para que não é eficaz? Porque a eficácia é a virtude que um utensílio tem para produzir uma finalidade. Neste caso a finalidade seria a solução dos problemas públicos em cada nação. Por isso exigimos de quem proclama a ineficácia dos Parlamentos que ele possua uma idéia clara de qual é a solução dos problemas públicos atuais. Porque do contrário, se em nenhum país está hoje claro, nem ainda teoricamente, em que consiste o que há que fazer, não tem sentido acusar de ineficácia os instrumentos institucionais. Mais valia recordar que jamais instituição alguma criou na história Estados mais formidáveis, mais eficientes que os Estados parlamentares do século XIX. O fato é tão indiscutível que esquecê-lo demonstra franca estupidez. Não se confunda, pois, a possibilidade e a urgência de reformar profundamente as Assembléias legislativas, para fazê-las “ainda mais” eficazes, com declarar sua inutilidade.
O desprestígio dos Parlamentos não tem nada que ver com seus notórios defeitos. Procede de outra causa, alheia de todo a eles no que diz respeito a utensílios políticos. Procede de que o europeu não sabe em que empregá-los, de que não estima as finalidades da vida pública tradicional; em suma, de que não sente ilusão pelos Estados nacionais em que está inscrito e prisioneiro. Se se olha com um pouco de cuidado esse famoso desprestígio, o que se vê é que o cidadão, na maior parte dos países, não sente respeito a seu Estado. seria inútil substituir o detalhe de suas instituições, porque o irrespeitável não são estas, mas o Estado mesmo, que se ananicou.
Pela primeira vez, ao tropeçar o europeu em seus projetos econômicos, políticos, intelectuais, com os limites de sua nação, sente que aqueles — quer dizer, suas possibilidades de vida, seu estilo vital — são incomensuráveis com o tamanho do corpo coletivo em que está encerrado. E então descobriu que ser inglês, alemão ou francês é ser provinciano. Deparou-se, pois, com que é “menos” que antes, porque antes o inglês, o francês e o alemão acreditavam, cada qual por si, que eram o universo. Este é, parece-me, a autêntica origem dessa impressão de decadência que achaca o europeu. Portanto, uma origem puramente íntima e paradoxal, já que a presunção de haver minguado nasce precisamente de que cresceu sua capacidade e tropeça com uma organização antiga, dentro da qual já não cabe.
Para dar ao dito um apoio plástico que o sustente, tome-se qualquer atividade concreta: por exemplo, a fabricação de automóveis. O automóvel é invento puramente europeu. Entretanto, hoje é superior a fabricação norte-americana desse artefato. Conseqüência: o automóvel europeu está em decadência. Todavia, o fabricante europeu — industrial e técnico — de automóveis sabe muito bem que a superioridade do produto americano não procede de nenhuma virtude específica usufruída pelo homem de ultramar, mas apenasmente de que a fábrica americana pode oferecer seu produto sem dificuldade alguma a cento e vinte milhões de homens. Imagine-se que uma fábrica européia visse ante si uma área mercantil formada por todos os Estados europeus e suas colônias e seus protetorados. Ninguém duvida de que esse automóvel previsto para quinhentos ou seiscentos milhões de homens seria muito melhor e mais barato que o “Ford”. Todas as graças peculiares da técnica americana são quase positivamente efeitos e não causas da amplitude e homogeneidade de seu mercado. A “racionalização” da indústria é conseqüência automática de seu tamanho.
A situação autêntica da Europa viria, portanto, a ser esta: seu magnífico e longo passado a faz chegar a um novo estádio de vida onde tudo cresceu; mas às vezes as estruturas sobreviventes desse passado são anãs e impedem a atual expansão. A Europa fez-se em forma de pequenas nações. Em certo modo, a idéia e o sentimento nacionais foram sua invenção mais característica. E agora vê-se obrigada a superar-se a si mesma. É este o esquema do drama enorme que se representará nos anos vindouros. Saberá libertar-se de sobrevivências, ou ficará prisioneira para sempre delas? Porque já ocorreu uma vez na história que uma grande civilização morreu por não poder substituir sua idéia tradicional de Estado...
VI
Contei em outro lugar a paixão e morte do mundo greco-romano, e quanto a certos pormenores, reporto-me ao que ali disse(73). Mas agora podemos considerar o assunto desde outro aspecto.
Gregos e latinos aparecem na história alojados, como abelhas em sua colmeia, dentro de urbes, de poleis. Este é um fato que nestas páginas necessitamos tomar como absoluto e de gênese misteriosa; um fato de que há que partir tal como o zoólogo parte do dado bruto e inexplicado de que o sphex vive solitário, errabundo, peregrino, ao passo que a abelha vermelha só existe em enxame construtor de favos(74). O caso é que a escavação e a arqueologia nos permitem ver algo do que havia no solo de Atenas e no de Roma antes de que Atenas e Roma existissem. Mas o trânsito desta pré-história, puramente rural e sem caráter específico, ao brotar da cidade, fruta de nova espécie que dá o solo de ambas as penínsulas, fica arcano; nem sequer está claro o nexo étnico entre aqueles povos proto-históricos e essas estranhas comunidades, que aportam ao repertório humano uma grande inovação: a de construir uma praça pública e em torno uma cidade fechada ao campo. Porque, com efeito, a definição mais certa do que é a urbe e a polis parece-se muito com a que comicamente se dá do canhão: rodeia-se o bocal de um poço com arame muito apertado e tem-se um canhão. O mesmo acontece com a urbe ou polis que começa por ser um buraco: o foro, o ágora; e tudo o mais é pretexto para assegurar esse buraco, para delimitar seu contorno. A polis não é primordialmente um conjunto de casas habitáveis, mas um lugar de ajuntamento civil, um espaço demarcado para funções públicas. A urbe não está feita, como a cabana ou o domus, para proteger-se da intempérie e engendrar, que são misteres privados e familiares, mas para discutir sobre a coisa pública. Note-se que isto significa nada menos que a invenção de uma nova classe de espaço, muito mais nova que o espaço de Einstein. Até então só existia um espaço: o campo, e nele se vivia com todas as conseqüências que isso traz para o ser do homem. O homem campesino é todavia um vegetal. Sua existência, quanto pensa, sente e quer conserva a modorra inconsciente em que vive a planta. As grandes civilizações asiáticas e africanas foram neste sentido grandes vegetações antropomorfas. Mas o greco-romano decide separar-se do campo, da “natureza”, do cosmos geobotânico. Como é isso possível? Como pode o homem subtrair-se ao campo? Onde irá, se o campo é toda a terra, se é o ilimitado? Muito simples: limitando um pedaço de campo mediante uns muros que oponham o espaço incluso e finito ao espaço amorfo e sem fim. Eis aqui a praça. Não é, como a casa, um “interior” fechado por cima, igual às covas que existem no campo, mas que é pura e simplesmente a negação do campo. A praça, mercê dos muros que a balizam, é um pedaço de campo que volta costas ao resto, que prescinde do resto e se opõe a ele. Este campo menor e rebelde, que pratica secção do campo infinito e se reserva a si mesmo diante dele, é campo abolido, e, portanto, um espaço sui generis, novíssimo, em que o homem se liberta de toda comunidade com a planta e o animal, deixa estes fora e cria um âmbito à parte puramente humano. É o espaço civil. Por isso Sócrates, o grande urbano, tríplice extrato do sumo que ressuma a polis, dirá: “Eu não tenho nada que ver com as árvores no campo; eu só tenho quer ver com os homens na cidade”. Que souberam disso jamais o hindu, o persa, nem o chinês, nem o egípcio?
Até Alexandre e César, respectivamente, a história da Grécia e de Roma consiste na luta incessante entre esses dois espaços: entre a cidade racional e o campo vegetal, entre o jurista e o labrego, entre o ius e o rus.
Não se pense que esta origem da urbe é uma pura construção minha e que só lhe corresponde uma verdade simbólica. Com rara insistência, no extrato primário e mais fundo de sua memória conservam os habitantes da cidade greco-latina a lembrança de um synoikismos. Não há, pois, que solicitar os textos; basta traduzi-los. Synoikismos é acordo de ir viver juntos; portanto, ajuntamento, estritamente no duplo sentido físico e jurídico desse vocábulo. A dispersão vegetativa pela campina sucede a concentração civil na cidade. A urbe é a super-casa, a superação da casa ou ninho infra-humano, a criação de uma entidade mais abstrata e mais alta que o oikos familiar. É a república, a politea, que não se compõe de homens e mulheres; mas de cidadãos. Uma dimensão nova, irredutível às primigênias e mais próximas ao animal, oferece-se ao existir humano, e nela vão pôr os que antes só eram homens suas melhores energias. Desta maneira nasce a urbe, desde logo como Estado.
Em certo modo, toda a costa mediterrânea mostrou sempre uma espontânea tendência a este tipo estatal. Com mais ou menos pureza, o Norte da África (Cartago = a cidade) repete o mesmo fenômeno. Itália não saiu até o século XIX do Estado-cidade, e nosso Levante cai em quanto pode no cantonalismo, que é um ressábio daquela milenária inspiração(75).
O Estado-cidade, pela relativa pequenez de seus ingredientes, permite ver claramente o específico do princípio estatal. Por uma parte, a palavra “estado” indica que as forças históricas conseguem uma combinação de equilíbrio, de assento. Neste sentido significa o contrário do movimento histórico: o Estado é convivência estabilizada, constituída, estática. Mas este caráter de imobilidade, de forma quieta e definida, oculta, como todo equilíbrio, o dinamismo que produziu e sustém o Estado. Faz esquecer, em suma, que o Estado constituído é só o resultado de um movimento anterior de luta, de esforços, que a ele tendiam. Ao Estado constituído precede o Estado constituinte, e este é um princípio de movimento.
Com isto quero dizer que o Estado não é uma forma de sociedade que o homem acha presenteada, mas que necessita forjá-la penosamente. Não é como a horda ou a tribo e demais sociedades fundadas na consangüinidade que a Natureza se encarrega de fazer sem colaboração com o esforço humano. Pelo contrário, o Estado começa quando o homem se afana por fugir da sociedade nativa dentro da qual o sangue o inscreveu. E quem diz o sangue, diz também qualquer outro princípio natural; por exemplo, o idioma. Originariamente o Estado consiste na mescla de sangues e línguas. É superação de toda sociedade natural. É mestiço e plurilíngüe.
Assim, a cidade nasce por reunião de povos diversos. Constrói sobre a heterogeneidade zoológica uma homogeneidade abstrata de jurisprudência(76). Está claro que a unidade jurídica não é a aspiração que propele o movimento criador do Estado. O impulso é mais substantivo que todo direito, é o propósito de empresas vitais maiores que as possíveis às minúsculas sociedades consangüíneas. Na gênese de todo Estado vemos ou entrevemos sempre o perfil de um grande empresário.
Se observamos a situação histórica que precede imediatamente o nascimento de um Estado, encontraremos sempre o seguinte esquema: várias coletividades pequenas cuja estrutura social está feita para que viva cada qual dentro de si mesma. A forma social de cada uma serve só para uma convivência interna. Isto indica que no passado viveram efetivamente isoladas, cada uma por si e para si, sem mais contatos que os excepcionais com as limítrofes. Mas a este isolamento efetivo sucedeu de fato uma convivência externa, sobretudo econômica. O indivíduo de cada coletividade não vive já só desta, mas parte de sua vida está travada com indivíduos de outras coletividades com os quais comercia mercantil e intelectualmente. Sobrevem, pois, um desequilíbrio entre duas convivências: a interna e a externa. A forma social estabelecida — direitos, “costumes” e religião — favorece a interna e dificulta a externa, mais ampla e nova. Nesta situação, o princípio estatal é o movimento que leva a aniquilar as formas sociais de convivência interna, substituindo-as por uma forma social adequada à nova convivência externa. Aplique-se isto ao momento atual europeu, e estas expressões abstratas adquirirão figura e cor.
Não há criação estatal se a mente de certos povos não é capaz de abandonar a estrutura tradicional de uma forma de convivência, e, além disso, de imaginar outra nunca sida. Por isso é autêntica criação. O Estado começa por ser uma obra de imaginação absoluta. A imaginação é o poder libertador que o homem tem. Um povo é capaz de Estado na medida em que saiba imaginar. Daí que todos os povos tenham tido um limite em sua evolução estatal, precisamente o limite imposto pela Natureza a sua fantasia.
O grego e o romano, capazes de imaginar a cidade que triunfa da dispersão campesina, detiveram-se nos muros urbanos. Houve quem quis levar as mentes greco-romanas mais além, quem tentou libertá-las da cidade; mas foi vão empenho. A escuridão imaginativa do romano, representada por Bruto, encarregou-se de assassinar César — a maior fantasia da antigüidade —. Importa-nos muito aos europeus de hoje recordar esta história, porque a nossa chegou ao mesmo capítulo.
VII
Mentes lúcidas, o que se chama mentes lúcidas, não houve provavelmente em todo o mundo antigo mais que duas: Temístocles e César; dois políticos. A coisa é surpreendente porque, em geral, o político, incluso o famoso, é político precisamente porque é torpe(77). Houve, sem dúvida, na Grécia e em Roma outros homens que pensaram idéias claras sobre muitas coisas — filósofos, matemáticos, naturalistas —. Mas sua claridade foi de ordem científica; isto é, uma claridade sobre coisas abstratas. Todas as coisas de que fala a ciência, seja ela qual for, são abstratas, e as coisas abstratas são sempre claras. De sorte que a claridade da ciência não está tanto na cabeça dos que a fazem como nas coisas de que falam. O essencialmente confuso, intricado, é a realidade vital concreta, que é sempre única. Quem seja capaz de orientar-se com precisão nela; aquele que vislumbre sob o caos que apresenta toda situação vital a anatomia secreta do instante; em suma, quem não se perca na vida, esse é de verdade uma mente lúcida. Observai os que vos rodeiam e vereis como avançam perdidos em sua vida; vão como sonâmbulos, dentro de sua boa ou má sorte, sem ter a mais leve suspeita do que lhes acontece. Ouvi-los-eis falar em fórmulas taxativas sobre si mesmos e sobre seu contorno, o que indicaria que possuem idéias sobre tudo isso. Porém, se analisais superficialmente essas idéias, notareis que não refletem muito nem pouco a realidade a que parecem referir-se, e se aprofundais na análise achareis que nem sequer pretendem ajustar-se a tal realidade. Pelo contrário: o indivíduo trata com elas de interceptar sua própria visão do real, de sua vida mesma. Porque a vida é inteiramente um caos onde a criatura está perdida. O homem o suspeita; mas aterra-o encontrar-se cara a cara com essa terrível realidade, e procura ocultá-la com um véu fantasmagórico onde tudo está muito claro. Não lhe interessa que suas “idéias” não sejam verdadeiras; emprega-as como trincheiras para defender-se de sua vida, como espantalhos para afugentar a realidade.
Homem de mente lúcida é aquele que se liberta dessas “idéias” fantasmagóricas e olha de frente a vida, e se convence de que tudo nela é problemático, e se sente perdido. Como isso é a pura verdade — a saber, que viver é sentir-se perdido —, quem o aceita já começou a encontrar-se, já começou a descobrir sua autêntica realidade, já está no firme. Instintivamente, como o náufrago, buscará algo para se agarrar, e esse olhar trágico, peremptório, absolutamente veraz porque se trata de salvar-se, lhe facultará pôr ordem no caos de sua vida. Estas são as únicas idéias verdadeiras; as idéias dos náufragos. O resto é retórica, postura, íntima farsa. Quem não se sente de verdade perdido perde-se inexorávelmente; é dizer, não se encontra jamais, não topa nunca com a própria realidade.
Isto é certo em todas as ordens, ainda na ciência, não obstante ser a ciência, de seu, uma fuga da vida (a maior parte dos homens de ciência dedicaram-se a ela por terror a defrontar sua própria vida. Não são mentes claras; daí sua notória falta de jeito ante qualquer situação concreta). Nossas idéias científicas valem na medida em que nos tenhamos sentido perdidos ante uma questão, em que tenhamos visto bem seu caráter problemático e compreendamos que não podemos apoiar-nos em idéias recebidas, em receitas, em lemas nem vocábulos. Quem descobre uma nova verdade científica teve antes que triturar quase tudo que havia aprendido e chega a essa nova verdade com as mãos sangrentas por haver jugulado inumeráveis lugares comuns.
A política é muito mais real que a ciência, porque se compõe de situações únicas em que o homem se encontra de repente submerso, queira ou não queira. Por isso é o tema que nos permite distinguir melhor quais as mentes lúcidas e quais as mentes rotineiras.
César é o exemplo máximo que conhecemos de dom para encontrar o perfil da realidade substantiva em um momento de confusão pavorosa, em uma hora das mais caóticas que há vivido a humanidade. E como se o destino se houvesse comprazido em sublinhar a exemplaridade, pôs a sua direita uma magnífica cabeça de intelectual, a de Cícero, dedicada durante toda a sua vida a confundir as coisas.
O excesso de boa fortuna havia deslocado o corpo político romano. A cidade tiberina, dona da Itália, da Espanha, da Ásia Menor, do Oriente clássico e helenístico, estava a ponto de rebentar. Suas instituições públicas tinham uma força municipal e eram inseparáveis da urbe, como as amadríadas estão, sob pena de consunção, adscritas à árvore que tutelam.
A saúde das democracias, quaisquer que sejam seu tipo e seu grau, depende de um mísero detalhe técnico: o procedimento eleitoral. Tudo o mais é secundário. Se o regime de comícios é acertado, se se ajusta à realidade, tudo vai bem; se não, embora o resto marche otimamente, tudo vai mal. Roma, ao começar o século I antes de Cristo, é onipotente, rica, não tem inimigos à sua frente. Entretanto, está a ponto de fenecer porque se obstina em conservar um regime eleitoral estúpido. Um regime eleitoral é estúpido quando é falso. Havia que votar na cidade. Já os cidadãos do campo não podiam assistir aos comícios. Mas muito menos os que viviam repartidos por todo o mundo romano. Como as eleições eram impossíveis, foi necessário falsificá-las, e os candidatos organizavam partidas de cacete — com veteranos do exército, com atletas do circo — que se encarregavam de romper as urnas.
Sem o apoio de autêntico sufrágio as instituições democráticas estão no ar. No ar estão as palavras. “A República não era mais que uma palavra”. A expressão é de César. Nenhuma magistratura gozava de autoridade. Os generais da esquerda e da direita — Mário e Sila — exibiam insolências em vazias ditaduras que não levavam a nada.
César não explicou nunca sua política, entreteve-se em fazê-la. Dava a casualidade de que era precisamente César e não o manual de cesarismo que sói vir depois. Não temos mais remédio, se queremos entender aquela política, que tomar seus atos e dar-lhes seu nome. O segredo está em sua façanha capital: a conquista das Gálias. Para empreendê-la teve de se declarar rebelde ante o Poder constituído. Por que?
Constituíam o Poder os republicanos, quer dizer, os conservadores, os fiéis ao Estado-cidade. Sua política pode resumir-se em duas cláusulas: Primeira, os transtornos da vida pública romana provêem de sua excessiva expansão. A cidade não pode governar tantas nações. Toda nova conquista é um delito de lesa-república. Segunda, para evitar a dissolução das instituições é preciso um príncipe.
Para nós a palavra “príncipe” tem um sentido quase oposto ao que tinha para um romano. Este entendia por tal precisamente um cidadão como os demais, mas que era investido de poderes superiores, a fim de regular o funcionamento das instituições republicanas. Cícero, em seus livros Sobre a República, e Salústio, em seus memoriais a César, resumem o pensamento de todos os publicistas pedindo um princips civitatis, um rector rerum publicarum, um moderator.
A solução de César é totalmente oposta à conservadora. Compreende que para curar as conseqüências das anteriores conquistas romanas não havia mais remédio senão prossegui-las aceitando até o fim tão enérgico destino. Sobretudo urgia conquistar os povos novos, mais perigosos em um futuro não muito remoto que as nações corruptas do Oriente. César sustentará a necessidade de romanizar a fundo os povos bárbaros do Ocidente.
Disse-se (Spengler) que os greco-romanos eram incapazes de sentir o tempo, de ver sua vida como uma dilatação na temporalidade. Existiam em um presente pontual. Eu suspeito que esse diagnóstico é errôneo, ou, pelo menos, que confunde duas coisas. O greco-romano padece de uma surpreendente cegueira para o futuro. Não o vê, como o daltonista não vê a cor vermelha. Mas, em compensação, vive radicalmente no pretérito. Antes de fazer agora algo dá um passo atrás, como Lagartijo ao projetar-se para matar; busca no passado um modelo para a situação presente, e informado por aquele mergulha na atualidade, protegido e deformado pelo escafandro ilustre. Daí que todo o seu viver é em certo modo reviver. Isto é ser arcaizante e isto o foi quase sempre o antigo. Mas isso não é ser insensível ao tempo. Significa simplesmente um cronismo incompleto, defeituoso da asa futurista e com hipertrofia de antanhos. Os europeus sempre gravitamos em direção ao futuro e sentimos que é esta a dimensão mais substancial do tempo, o qual, para nós, começa pelo “depois” e não pelo “antes”. Compreende-se, pois, que ao olhar a vida greco-romana nos pareça anacrônica.
Esta como mania de tomar todo presente com as pinças de um exemplo pretérito, transferiu-se do homem antigo ao filósofo moderno. Também ele retrograda, indaga em toda atualidade um precedente, ao qual denomina, com lindo vocábulo de égloga, sua “fonte”. Digo isto porque já os antigos biógrafos de César se fecham à compreensão desta enorme figura supondo que tratava de imitar Alexandre. A equação impunha-se: se Alexandre não podia dormir pensando nos lauréis de Milcíades, César devia forçosamente sofrer de insônia pelos de Alexandre. E assim sucessivamente. Sempre o passo atrás e o pé de hoje na pegada de ontem. O filólogo contemporâneo repercute o biógrafo clássico.
Crer que César aspirava a fazer algo assim como o que fez Alexandre — e isto creram quase todos os historiadores — é renunciar radicalmente a entendê-lo. César é aproximadamente o contrário de Alexandre. A idéia de um reino universal é o único que os emparelha. Mas esta idéia não é de Alexandre, mas vem da Pérsia. A imagem de Alexandre teria empurrado César para o Oriente, para o prestigioso passado. Sua preferência radical pelo Ocidente revela melhor a vontade de contradizer o macedônio. Mas, ainda mais, não é um reino universal, apenas, o que César se propõe. Seu propósito é mais profundo. Quer um Império romano que não viva de Roma, mas da periferia, das províncias, e isso implica a superação absoluta do Estado-cidade. Um Estado onde os povos mais diversos colaborem, de que todos se sintam solidários. Não um centro que manda e uma periferia que obedece, mas um gigantesco corpo social, onde cada elemento seja por sua vez passivo e ativo do Estado. Tal é o Estado moderno, e esta foi a fabulosa antecipação de seu gênio futurista. Mas isso supunha um poder extraromano, anti-aristocrata, infinitamente elevado sobre a oligarquia republicana, sobre seu príncipe, que era só um primus inter pares. Este poder executor e representante da democracia universal só podia ser a Monarquia com sua sede fora de Roma.
República! Monarquia! Duas palavras que na história trocam constantemente de sentido autêntico, e que por isso é preciso a todo instante triturar para certificar-se de sua eventual força.
Seus homens de confiança, seus instrumentos mais imediatos, não eram arcaicas ilustrações da urbe, mas gente nova, provinciais, personagens enérgicos e eficientes. Seu verdadeiro ministro foi Cornélio Balbo, um homem de negócios gaditano, um atlântico, um “colonial”.
Mas a antecipação do novo Estado era excessiva: as cabeças lentas do Lácio não podiam dar brinco tão grande. A imagem da cidade, com seu tangível materialismo, impediu que os romanos “vissem” aquela organização novíssima do corpo público. Como podiam formar um Estado homens que não viviam numa cidade? Que gênero de unidade era essa, tão sutil e tão mística?
Repito uma vez mais: a realidade que chamamos Estado não é a espontânea convivência de homens que a consangüinidade uniu. O Estado começa quando se obriga a conviver a grupos nativamente separados. Esta obrigação não é desnuda violência, mas que supõe um processo incitativo, uma tarefa comum que se propõe aos grupos dispersos. Antes que nada é o Estado projeto de um fazer e programa de colaboração. Chama-se às pessoas para que juntas façam algo. O Estado não é consangüinidade, nem unidade lingüística, nem unidade territorial, nem contiguidade de habitação. Não é nada material, inerte, dado e limitado. É um puro dinamismo — a vontade do fazer algo em comum —, e mercê a isso a idéia estatal não está por nenhum termo físico(78).
Agudíssima a conhecida empresa política de Saavedra Fajardo: uma flecha, e debaixo: “Ou sobe ou desce”. Isso é o Estado. Não uma coisa, mas um movimento. O Estado é em todo instante algo que vem de e vai para. Como todo movimento, tem um terminus a quo e um terminus ad quem. Corte-se por qualquer hora a vida de um Estado que o seja verdadeiramente, e se achará uma unidade de convivência que parece fundada em tal ou qual atributo material: sangue, idioma, “fronteiras naturais”. A interpretação estática nos levará a dizer: isso é o Estado. Mas logo advertimos que essa agrupação humana está fazendo algo comunal: conquistando outros povos, fundando colônias, federando-se com outros Estados; quer dizer, que em toda hora está superando o que parecia princípio material de sua unidade. E o terminus ad quem, é o verdadeiro Estado, cuja unidade consiste precisamente em superar toda unidade dada. Quando esse impulso para o mais além cessa, o Estado automaticamente sucumbe, e a unidade que já existia e parecia fisicamente cimentada — raça, idioma, fronteira natural — não serve de nada: o Estado se desagrega, se dispersa, se atomiza.
Só essa duplicidade de momentos no Estado — a unidade que já é e a mais ampla que projeta — permite compreender a essência do Estado nacional. Sabido é que ainda não se logrou dizer em que consiste uma nação, se damos a este vocábulo uma acepção moderna. O Estado-cidade era uma idéia muito clara, que se via com os olhos da cara. Mas o novo tipo de unidade pública que germinava em galos e germanos, a inspiração política do Ocidente, é coisa muito mais vaga e fugidia. O filólogo, o historiador atual, que é de seu arcaizante, encontra-se ante este formidável fato quase tão perplexo como César e Tácito quando com sua terminologia romana queriam dizer o que eram aqueles Estados incipientes, transalpinos e ultra-renanos, ou bem os espanhóis. Chamam-nos civitas, gens, natio, percebendo que nenhum destes nomes coincide com a coisa(79). Não são civitas, pela simples razão de que não são cidades(80). Mas nem sequer cabe indefinir o termo e aludir com ele um território delimitado. Os povos novos trocam com suma facilidade de torrão, ou pelo menos ampliam e reduzem o que ocupavam. Tampouco são unidades étnicas — gentes, nationes. — Por muito longe que recorramos, os novos Estados aparecem já formados por grupos de nacionalidades independentes. São combinações de sangues diferentes. Que é, pois, uma nação, já que não é nem comunidade de sangue, nem adscrição a um território, nem coisa alguma desta ordem?
Como sempre acontece, também neste caso uma pulcra submissão aos fatos nos dá a chave. Que é que salta aos olhos quando repassamos a evolução de qualquer “nação moderna” — França, Espanha, Alemanha? Simplesmente isto: o que em certa data parecia constituir a nacionalidade aparece negado numa data posterior. Primeiro, a nação parece a tribo, e a não-nação a tribo de ao lado. Depois a nação se compõe de duas tribos, mais tarde é uma comarca e pouco depois é já todo um condado ou ducado ou “reino”. A nação é Leão, mas não Castela; depois é Leão e Castela, mas não Aragão. É evidente a presença de dois princípios: um, variável e sempre superado — tribo, comarca, ducado, “reino”, com seu idioma ou dialeto —; outro, permanente, que salta libérrimo sobre todos esses limites e postula como unidade o que aquele considerava precisamente como radical contraposição.
Os filólogos — chamo assim aos que hoje pretendem denominar-se “historiadores” — praticam o mais delicioso truísmo quando partem do que agora, nesta data fugaz, nestes dois ou três séculos, são as nações do Ocidente e supõem que Vercingetorix ou que Cid Campeador queriam já uma França deste Saint-Malo a Estrasburgo — precisamente — ou uma Spania desde Finisterre a Gibraltar. Estes filólogos — como o ingênuo dramaturgo — fazem quase sempre que seus heróis partam para a guerra dos Trinta Anos. Para nos explicar como se formaram a França e a Espanha, supõem que a França e a Espanha preexistiam como unidades no fundo das almas francesas e espanholas. Como se existissem franceses e espanhóis originariamente antes de que a França e a Espanha existissem! Como se o francês e o espanhol não fossem simplesmente coisas que foram formadas em dois mil anos de faina!
A verdade pura é que as nações atuais são apenas a manifestação atual daquele princípio variável, condenado à perpétua superação. Esse princípio não é agora o sangue nem o idioma, posto que a comunidade de sangue e de idioma na França ou na Espanha foi efeito, e não causa, da unificação estatal; esse princípio é agora a “fronteira natural”.
Está bem que um diplomata empregue em sua esgrima astuta este conceito de fronteiras naturais, como ultima ratio de suas argumentações. Mas um historiador não pode entrincheirar-se atrás dele como se fosse um reduto definitivo. Nem é definitivo, nem sequer suficientemente específico.
Não se esqueça qual é, rigorosamente proposta, a questão. Trata-se de averiguar que é o Estado nacional — o que hoje costumamos chamar nação —, a diferença de outros tipos de Estado, como o Estado-cidade ou, indo ao outro extremo, como o Império que Augusto fundou(81). Se se quer formular o tema de modo ainda mais claro e preciso, diga-se assim: Que força real produziu essa convivência de milhões de homens sob uma soberania de Poder público que chamamos França, ou Inglaterra, ou Espanha, ou Itália, ou Alemanha? Não foi a prévia comunidade de sangue, porque cada um desses corpos coletivos está regado por torrentes cruentas muito heterogêneas. Não foi tampouco a unidade lingüística, porque os povos hoje reunidos em um Estado falavam ou falam ainda idiomas diferentes. A relativa homogeneidade de raça e língua de que hoje gozam — supondo que isso seja um gozo — é resultado da prévia unificação política. Portanto, nem o sangue nem o idioma fazem o Estado nacional; pelo contrário, é o Estado nacional quem nivela as diferenças originárias de glóbulo vermelho e som articulado. E sempre aconteceu assim. Poucas vezes, para não dizer nunca, terá o Estado coincidido com uma identidade prévia de sangue ou idioma. Nem a Espanha é hoje um Estado nacional porque se fale em toda ela o espanhol(82), nem foram Estados nacionais Aragão e Catalunha porque em certo dia, arbitrariamente escolhido, coincidissem os limites territoriais de sua soberania com os da fala aragonesa ou catalã. Estaríamos mais próximos da verdade se, respeitando a casuística que toda realidade oferece, nos inclinássemos a esta presunção: toda unidade lingüística que abarca um território de alguma extensão é quase certamente precipitado de alguma unificação política precedente(83). O Estado tem sido sempre o grande turgimão.
Há muito tempo que isto consta, e é muito estranha a obstinação com que, entretanto, se persiste em dar à nacionalidade como fundamentos o sangue e o idioma. Nisso eu vejo tanta ingratidão como incongruência. Porque o francês deve sua França atual, e o espanhol sua atual Espanha, a um princípio X, cujo impulso consistiu precisamente em superar a estreita comunidade de sangue e de idioma. De sorte que a França e a Espanha consistiriam hoje no contrário do que as tornou possíveis.
Igual tergiversação comete-se ao querer fundar a idéia de nação numa grande figura territorial, descobrindo o princípio de unidade, que sangue e idioma não proporcionam, no misticismo geográfico das “fronteiras naturais”. Tropeçamos aqui com o mesmo erro de ótica . O acaso da data atual mostra-nos as chamadas nações instaladas em amplos torrões do continente ou nas ilhas adjacentes. Desses limites atuais quer fazer-se algo definitivo e espiritual. São, dizem, “fronteiras naturais”, e com sua “naturalidade” significa-se uma como mágica predeterminação da história pela via telúrica. Mas este mito volatiliza-se imediatamente submetendo-o ao mesmo raciocínio que invalidou a comunidade de sangue e de idioma como fontes da nação. Também aqui, se retrocedemos alguns séculos, surpreende-nos a França e a Espanha dissociadas em nações menores, com suas inevitáveis “fronteiras naturais”. A montanha fronteiriça seria menos prócer que o Pirineu ou os Alpes e barreira líquida menos caudalosa que o Reno, o passo de Calais ou o estreito de Gibraltar. Mas isso apenas demonstra que a “naturalidade” das fronteiras é meramente relativa. Depende dos meios econômicos e bélicos da época.
A realidade histórica da famosa “fronteira natural” consiste simplesmente em ser um estorvo à expansão do povo A sobre o povo B. Porque é um estorvo — de convivência ou de guerra — para A, é uma defesa para B. A idéia de “fronteira natural” implica, pois, ingenuamente, como mais natural ainda que a fronteira, a possibilidade da expansão e fusão ilimitada entre os povos. Pelo visto, só um obstáculo material lhes põe um freio. As fronteiras de ontem e de anteontem não nos parecem hoje fundamentos da nação francesa ou espanhola, pelo contrário: estorvos que a idéia nacional encontrou em seu processo de unificação. Não obstante o que, queremos atribuir um caráter definitivo e fundamental às fronteiras de hoje, apesar de que os novos meios de tráfego e guerra anularam sua eficácia como estorvos.
Qual tem sido então o papel das fronteiras na formação das nacionalidades, já que não têm sido o fundamento positivo destas? A coisa é clara e de suma importância para entender a autêntica inspiração do Estado nacional diante do Estado-cidade. As fronteiras serviram para consolidar em cada momento a unificação política já alcançada. Não foram, pois, princípio da nação, mas ao contrário: a princípio foram estorvo, e depois, uma vez alheada, foram meio material para assegurar a unidade.
Pois bem: exatamente o mesmo papel corresponde à raça e à língua. Não é a comunidade nativa de uma ou outra o que constituiu a nação, mas ao contrário: o Estado nacional encontrou-se sempre, em seu afã de unificação, frente às muitas raças e às muitas línguas, como com outros tantos estorvos. Dominados estes energicamente, produziu uma relativa unificação de sangues e idiomas que serviu para consolidar a unidade.
Não há, pois, outro remédio senão desfazer a tergiversação tradicional padecidas pela idéia de Estado nacional e habituar-se a considerar como estorvos primários para a nacionalidade precisamente as três coisas em que se acreditava consistir. E claro que ao desfazer uma tergiversação serei eu quem pareça cometê-la agora.
É preciso resolver-se a procurar o segredo do Estado nacional em sua peculiar inspiração como tal Estado, em sua política mesma, e não em princípios forasteiros de caráter biológico ou geográfico.
Por que, afinal das contas, se acreditou necessário recorrer a raça, língua e território nativos para compreender o fato maravilhoso das modernas nações? Pura e simplesmente, porque nestas achamos uma intimidade e solidariedade radical dos indivíduos com o Poder público desconhecidas no Estado antigo. Em Atenas e em Roma só uns quantos homens eram o Estado; os demais — escravos, aliados, provincianos, colonos — eram apenas súditos. Na Inglaterra, na França, na Espanha, ninguém foi nunca só súdito do Estado, mas sempre participou dele, uno com ele. A forma, sobretudo jurídica, desta união com e no Estado, tem sido muito diferente conforme os tempos. Tem havido grandes diferenças de condição social e estatuto pessoal, classes relativamente privilegiadas e classes relativamente postergadas; mas, se se interpreta a realidade efetiva da situação política em cada época e se revive seu espírito, aparece evidente que todo indivíduo se sentia sujeito ativo do Estado, participe e colaborador. Nação — no sentido que este vocábulo emite no Ocidente de há mais de um século — significa a “união hipostática” do Poder público e a coletividade por ele regida.
O Estado é sempre, qualquer que seja sua forma — primitiva, antiga, medieval ou moderna —, o convite que um grupo de homens faz a outros grupos humanos para juntos executar uma empresa. Esta empresa, quaisquer que sejam seus trâmites intermediários, consiste, finalmente, em organizar certo tipo de vida comum. Estado e projeto de vida, programa de ação ou conduta humanos, são termos inseparáveis. As diferentes classes de Estado nascem das maneiras segundo as quais o grupo empresário estabeleça a colaboração com os outros. Assim, o Estado antigo não acerta nunca a fundir-se com os outros. Roma manda e educa os italiotas e as províncias, mas não os eleva a união consigo. Na mesma urbe não conseguiu a fusão política dos cidadãos. Não se esqueça que, durante a República, Roma foi, a rigor, duas Romas: o Senado e o povo. A unificação estatal não passou nunca de mera articulação entre os grupos que permaneceram externos e estranhos uns aos outros. Por isso o Império ameaçado não pode contar com o patriotismo dos outros, e teve de se defender exclusivamente com seus meios burocráticos de administração e de guerra.
Esta incapacidade de todo grupo grego e romano para fundir-se com outros provém de causas profundas que não convém perscrutar agora, e que finalmente se resumem em uma: o homem antigo interpretou a colaboração em que, queira-se ou não, o Estado consiste, de uma maneira simples, elemental e tosca; a saber: como dualidade de dominantes e dominados(84). A Roma tocava mandar e não obedecer; aos demais, obedecer e não mandar. Desta sorte, o Estado se materializa no pomoerium, no corpo urbano que uns muros delimitam fisicamente.
Mas os povos novos trazem uma interpretação do Estado menos material. Se ele é um projeto de empresa comum, sua realidade é puramente dinâmica: um fazer, a comunidade na atuação. Segundo isto, forma parte ativa do Estado, é sujeito político, todo aquele que preste adesão à empresa — raça, sangue, adscrição geográfica, classe social, ficam em segundo plano. Não é a comunidade anterior, pretérita, tradicional e imemorial — em suma, fatal e irreformável — a que proporciona título para a convivência política, mas a comunidade futura no efetivo fazer. Não o que fomos ontem, mas o que vamos fazer amanhã juntos, nos reúne em Estado. Daí a facilidade com que a unidade política brinca no Ocidente sobre todos os limites que aprisionaram o Estado antigo. E é que o europeu, relativamente ao homo antiquus, se comporta como um homem aberto ao futuro, que vive conscientemente instalado nele e dele decide sua conduta presente.
Tendência política tal avançará inexoravelmente para unificações cada vez mais amplas, sem que haja nada que em princípio a detenha. A capacidade de fusão é ilimitada. Não só de um povo com outro, mas o que é mais característico ainda do Estado nacional: a fusão de todas as classes sociais dentro de cada corpo político. Conforme cresce a nação, territorial e etnicamente, vai-se fazendo mais una a colaboração interior. O Estado nacional é em sua raiz mesma democrático, num sentido mais decisivo que todas as diferenças nas formas de governo.
E curioso notar que, ao definir a nação fundando-a numa comunidade de pretérito, acaba-se sempre por aceitar como a melhor a fórmula de Renan, simplesmente porque nela se ajunta ao sangue, o idioma e as tradições comuns um atributo novo, e se diz que é um “plebiscito cotidiano”. Mas, entende-se bem o que esta expressão significa? Não podemos dar-lhe agora um conteúdo de signo oposto ao que Renan lhe insufla, e que é, entretanto, muito mais verdadeiro?
VIII
Ter glórias comuns no passado, uma vontade comum no presente; haver feito juntos grandes coisas, querer fazer outras mais; eis aqui as condições essenciais para ser um povo... No passado, uma herança de glórias e remorsos; no porvir, um mesmo programa para realizar... A existência de uma nação é um plebiscito cotidiano”.
Tal é a conhecidíssima sentença de Renan. Como se explica sua excepcional fortuna? Sem dúvida, pela graça da nota. Esta idéia de que a nação consiste num plebiscito cotidiano opera sobre nós como uma liberação. Sangue, língua e passado comuns são princípios estáticos, fatais, rígidos, inertes; são prisões. Se a nação consistisse nisso e em mais nada, a nação seria uma coisa situada às nossas costas, com o que não teríamos nada que fazer. A nação seria algo que se é, mas não algo que se faz. Nem sequer teria sentido defendê-la quando alguém a ataca.
Queira-se ou não, a vida humana é constante ocupação com algo futuro. Desde o instante atual nos ocupamos do que sobrevem, Por isso viver é sempre, sempre, sem pausa nem descanso, fazer. Por que não se reparou em que fazer, todo fazer, significa realizar um futuro? Inclusive quando nos entregamos a recordar. Fazemos memória neste segundo para lograr algo no imediato, ainda que não seja mais que o prazer de reviver o passado. Este modesto prazer solitário se nos apresentou há pouco como um futuro desejável; por isso o fazemos. Conste, pois: nada tem sentido para o homem, senão em função do porvir(85).
Se a nação consistisse não mais que em passado e presente, ninguém se ocuparia de defendê-la contra um ataque. Os que afirmam o contrário são hipócritas ou mentecaptos. Mas acontece que o passado nacional projeta aliciantes — reais ou imaginários — no futuro. Parece-nos desejável um porvir no qual nossa nação continue existindo. Por isso nos mobilizamos em sua defesa; não pelo sangue, nem pelo idioma, nem pelo comum passado. Ao defender a nação defendemos nosso amanhã, não nosso ontem.
Isso é o que reverbera na frase de Renan: a nação como excelente programa para amanhã. O plebiscito decide um futuro. Que neste caso o futuro consista numa perduração do passado não modifica em nada a questão; unicamente revela que também a definição de Renan é arcaizante.
Portanto, o Estado nacional representaria um princípio estatal mais próximo à pura idéia de Estado que a antiga polis ou que a “tribo” dos árabes, circunscrita pelo sangue. De fato, a idéia nacional conserva não pouco lastro de adscrição ao passado, ao território, à raça; mas por isso mesmo é surpreendente notar como nela triunfa o puro princípio de unificação humana em torno a um incitante programa de vida. Mais: eu diria que esse lastro de pretérito e essa relativa limitação dentro de princípios materiais não têm sido nem são por completo espontâneos nas almas do Ocidente, mas que procedem da interpretação erudita dada pelo romanticismo à idéia de nação. De haver existido na Idade Média esse conceito oitocentista de nacionalidade, a Inglaterra, a França, a Espanha, a Alemanha, teriam ficado inexistentes(86). Porque essa interpretação confunde o que impulsa e constitui uma nação com o que meramente a consolida e conserva. Não é o patriotismo — diga-se de uma vez — quem fez as nações. Crer o contrário é o truísmo a que já aludi e que o próprio Renan admite em sua famosa definição. Se para que exista uma nação é preciso que um grupo de homens conte com um passado comum, eu me pergunto como chamaremos a esse mesmo grupo de homens enquanto vivia em presente isso que visto hoje é um passado. Pelo visto era forçoso que essa existência comum fenecesse, passasse, para que pudessem dizer: somos uma nação. Não se adverte aqui o vício gremial do filósofo, do arquivista, sua ótica profissional que lhe impede ver a realidade quando não é pretérita? O filólogo é quem necessita para ser filólogo que, antes de tudo, exista um passado; mas a nação, antes de possuir um passado comum, teve de criar essa comunidade, e antes de criá-la teve de sonhá-la, de querê-la, de projetá-la. E até que tenha o projeto de si mesma para que a nação exista, ainda que não se alcance, ainda que fracasse a execução, como aconteceu tantas vezes. Falaríamos em tal caso de uma nação malograda (por exemplo, Borgonha).
Com os povos do Centro e da América Meridional tem a Espanha um passado comum, raça comum, linguagem comum, e, entretanto, não forma com eles uma nação. Por que? Falta só uma coisa, que, pelo visto, é a essencial: o futuro comum. A Espanha não soube inventar um programa de porvir coletivo que atraísse esses grupos zoologicamente afins, O plebiscito futurista foi adverso à Espanha, e de nada valeram então os arquivos, as memórias, os antepassados, a “pátria”. Quando há aquilo, tudo isso serve de forças de consolidação; mas tão somente(87).
Vejo, pois, no Estado nacional uma estrutura histórica de caráter plebiscitário. Tudo que além disso pareça ser, tem um valor transitório e cambiante, representa o conteúdo, ou a forma, ou a consolidação que em cada momento requer o plebiscito. Renan encontrou a palavra mágica, que estoura de luz. Ela nos permite vislumbrar catodicamente o segredo essencial de uma nação, que se compõe destes dois ingredientes: primeiro, um projeto de convivência total numa empresa comum; segundo, a adesão dos homens a esse projeto incitativo. Esta adesão de todos engendra a interna solidez que distingue o Estado nacional de todos os antigos, nos quais a união se produz e mantém por pressão externa do Estado sobre os grupos díspares, enquanto aqui nasce o vigor estatal da coesão espontânea e profunda entre os “súditos”. Na realidade, os súditos são já o Estado e não o podem sentir — isto é o novo, o maravilhoso, da nacionalidade — como algo estranhos a eles.
Entretanto, Renan anula ou quase seu acerto, dando ao plebiscito um conteúdo retrospectivo, que se refere a uma nação já feita, cuja perpetuação decide. Eu preferiria trocar-lhe o signo e fazê-lo valer para a nação in statu nascendi. Esta é a ótica decisiva. Porque, em verdade, uma nação não está nunca feita. Nisto se diferencia de outros tipos de Estado. A nação está sempre ou fazendo-se ou desfazendo-se. Tertium non datur. Ou está ganhando adesões ou está perdendo-as, conforme seu Estado represente ou não no momento uma empresa vivaz.
Por isso o mais instrutivo seria reconstruir a série de empresas unitivas que sucessivamente inflamaram os grupos humanos do Ocidente. Então ver-se-ia como delas têm vivido os europeus, não só no público, mas até em sua existência mais privada; como “treinaram” ou se desmoralizaram, na medida de que houvesse ou não empresa à vista.
Outra coisa mostraria claramente esse estudo. As empresas estatais dos antigos, por isso que não implicavam a adesão fundente dos grupos humanos sobre os quais se tentavam, por isso que o Estado propriamente tal ficava sempre inscrito em uma limitação fatal — tribo ou urbe —, eram praticamente limitadas. Um povo — o persa, o macedônio ou o romano — podia submeter à unidade de soberania quaisquer porções do planeta. Como a unidade não era autêntica, interna nem definitiva, não estava sujeita a outras condições senão à eficácia bélica e administrativa do conquistador. Mas no Ocidente a unificação nacional teve de seguir uma série inexorável de etapas. Deveria estranhar mais o fato de que na Europa não tenha sido possível nenhum império do tamanho que alcançaram o persa, o de Alexandre ou o de Augusto.
O processo criador de nações teve sempre na Europa este ritmo: Primeiro momento. O peculiar instinto ocidental, que faz sentir o Estado como fusão de vários povos em uma unidade de convivência política e moral, começa a atuar sobre os grupos mais próximos geográfica, étnica e lingüisticamente. Não porque esta proximidade funde a nação, mas porque a diversidade entre próximos é mais fácil de dominar. Segundo momento. Período de consolidação, em que se sentem os outros povos além do novo Estado como estranhos e mais ou menos inimigos. É o período em que o processo nacional toma um aspecto de exclusivismo, de fechar-se em si mesmo dentro do Estado; em suma, o que hoje denominamos nacionalismo. Mas o fato é que enquanto se sente politicamente os outros como estranhos e concorrentes, convive-se econômica, intelectual e moralmente com eles. As guerras nacionalistas servem para nivelar as diferenças de técnica e de espírito. Os inimigos habituais vão se fazendo historicamente homogêneos(88). Pouco a pouco vai se destacando no horizonte a consciência de que estes povos inimigos pertencem ao mesmo círculo humano que o nosso Estado. Não obstante, continuamos considerando-os como estranhos e hostis. Terceiro momento. O Estado goza de plena consolidação. Então surge a nova empresa: unir-se aos povos que até então eram seus inimigos. Cresce a convicção de que são afins com o nosso em moral e interesses, e que juntos formamos um círculo nacional ante outros grupos mais distantes e ainda mais estrangeiros. Eis aqui madura a nova idéia nacional.
Um exemplo esclarecerá o que tento dizer. Sói afirmar-se que em tempo do Cid era já a Espanha — Spania — uma idéia nacional, e para superfetação da tese acrescenta-se que séculos antes já S. Isidoro falava da “mãe Espanha”. A meu ver, isso é um erro crasso de perspectiva histórica. No tempo do Cid estava se começando a urdir o Estado Leão-Castela, e esta unidade leon-castelã era a idéia nacional do tempo, a idéia politicamente eficaz. Spania, ao contrário, era uma idéia principalmente erudita; em todo caso, uma de tantas idéias fecundas que deixou semeadas no Ocidente o Império romano. Os “espanhóis” haviam se acostumado a ser reunidos por Roma numa unidade administrativa, numa diocese do Baixo Império. Mas esta noção geográfico-administrativa era pura recepção, não íntima inspiração, e em modo algum aspiração.
Por muita realidade que se queira dar a essa idéia no século XI, reconhecer-se-á que não chega sequer ao vigor e precisão que já tem para os gregos do IV a idéia da Hélade. E, não obstante, a Hélade não foi nunca verdadeira idéia nacional. A efetiva correspondência histórica seria melhor esta: a Hélade foi para os gregos do século IV, e Spania para os “espanhóis” do XI e ainda do XIV, o que a Europa foi para os “europeus” no século XIX.
Mostra isto como as empresas de unidade nacional vão chegando à sua hora do modo como os sons em uma melodia. A mera afinidade de ontem terá de esperar até amanhã para entrar em erupção de inspirações nacionais. Mas, por seu turno, é quase certo que chegará sua hora.
Agora chega para os europeus a sazão em que a Europa pode converter-se em idéia nacional. E é muito menos utópico crer nisso hoje assim como o houvera sido vaticinar no século XI a unidade da Espanha e da França. O Estado nacional do Ocidente, quanto mais fiel permaneça a sua autêntica substância, tanto mais diretamente caminha para se depurar num gigantesco Estado continental.
IX
Apenas as nações do Ocidente preenchem seu atual perfil surge em torno delas e sob elas, como um fundo, a Europa. E esta a unidade de paisagem em que se vai mover desde o Renascimento, e essa paisagem européia são elas mesmas, que sem adverti-lo começam já a abstrair de sua belicosa pluralidade. França, Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, pelejam entre si, formam ligas contrapostas, desfazem-nas, recompõem-nas. Mas tudo isso, guerra como paz, é conviver de igual para igual, o que nem na paz nem na guerra pode nunca fazer Roma com o celtibero, o galo, o britânico e o germano. A história destacou em primeiro termo as querelas e, em geral, a política, que é o terreno mais tardio para a espiga da unidade; mas, enquanto se batalhava numa gleba, em cem se comerciava com o inimigo, permutavam-se idéias e formas de arte e artigos da fé. Dir-se-ia que aquele fragor de batalhas foi só uma tela atrás da qual tanto mais tenazmente trabalhava a pacífica polipeira da paz, entretecendo a vida das nações hostis. Em cada nova geração, a homogeneidade das almas se acrescentava. Se se quer mais exatidão e mais cautela, diga-se deste modo: as almas francesas e inglesas e espanholas eram, são e serão tão diferentes como se queira; mas possuem um mesmo plano ou arquitetura psicológicos e, sobretudo, vão adquirindo um conteúdo comum. Religião, ciência, direito, arte, valores sociais e eróticos vão sendo comuns. Ora bem: essas são as coisas espirituais de que se vive. A homogeneidade redunda, pois, maior que se as almas fossem de idêntico calibre.
Se hoje fizéssemos balanço de nosso conteúdo mental — opiniões, normas, desejos, presunções —, notaríamos que a maior parte de tudo isso não vem para o francês de sua França, nem para o espanhol de sua Espanha, mas do fundo comum europeu. Hoje, com efeito, pesa muito mais em cada um de nós o que tem de europeu que sua porção diferencial de francês, espanhol, etc. Se se fizesse a experiência imaginária de se reduzir a viver puramente com o que somos, como “nacionais”, e em obra de mera fantasia se extirpasse do homem médio francês tudo que usa, pensa, sente, em virtude de recepção dos outros países continentais, sentiria terror. Veria que não lhe era possível viver só disso; que as quatro quintas partes de seu haver íntimo são bens jacentes europeus.
Não se vislumbra que outra coisa de monta possamos fazer os que existimos neste lado do planeta se não é realizar a promessa que há quatro séculos significa o vocábulo Europa. Só se opõe a isso o prejuízo das velhas “nações”, a idéia de nação como passado. Agora se vai ver se os europeus são também filhos da mulher de Lot e se obstinam em fazer história com a cabeça virada para trás. A alusão a Roma, e, em geral, ao homem antigo, serviu-nos de admoestação; é muito difícil que certo tipo de homem abandone a idéia de Estado uma vez que ela se lhe encasquetou. Afortunadamente, a idéia do Estado nacional que o europeu, apercebendo-se dela ou não, trouxe ao mundo, não é a idéia erudita, filológica, que se lhe predicou.
Resumo agora a tese deste ensaio. Sofre hoje o mundo uma grave desmoralização, que entre outros sintomas se manifesta por uma desatorada rebelião das massas, e tem sua origem na desmoralização da Europa. As causas desta última são muitas. Uma das principais, o deslocamento do poder que outrora exercia sobre o resto do mundo e sobre si mesmo nosso continente. A Europa não está certa de mandar, nem o resto do mundo de ser mandado. A soberania histórica acha-se em dispersão.
Já não há “plenitude dos tempos”, porque isto supõe um porvir claro, prefixado, inequívoco, como era o do século XIX. Então acreditava-se saber o que ia acontecer amanhã. Mas agora abre-se outra vez o horizonte para novas linhas incógnitas, posto que não se sabe quem vai mandar, como se vai articular o poder sobre a terra. Quem, isto é, que povo ou grupo de povos; portanto, que tipo étnico; portanto, que ideologia, que sistema de preferências, de normas, de molas vitais...
Não se sabe para que centro de gravitação vão ponderar em um futuro próximo as coisas humanas, e por isso a vida do mundo entrega-se a uma escandalosa interinidade. Tudo, tudo que hoje se faz em público e na vida privada — até no íntimo —, sem mais exceção que algumas partes de algumas ciências, é provisional. Acertará quem não se fie de quanto hoje se apregoa, se ostenta, se ensaia e se encomia. Tudo isso irá com mais celeridade do que veio. Tudo, desde a mania do esporte físico (a mania, não o esporte em si) até a violência em política; desde a “arte nova” até os banhos de sol nas ridículas praias da moda. Nada disso tem raízes, porque tudo isso é pura invenção, no mau sentido da palavra, que a faz eqüivaler a capricho leviano. Não é criação do fundo substancial da vida; não é afã nem mister autêntico. Em suma: tudo isso é vitalmente falso. Dá-se o caso contraditório de um estilo de vida que cultiva a sinceridade e ao mesmo tempo é uma falsificação. Só há verdade na existência quando sentimos seus atos como irrevogavelmente necessários. Não há hoje nenhum político que sinta a inevitabilidade de sua política, e quanto mais extremo é seu gesto, tanto mais frívolo, menos exigido pelo destino. Não há mais vida com raízes próprias, não há mais vida autóctone que a que se compõe de cenas iniludíveis. O resto, o que está em nossa mão pegar ou largar ou substituir, é precisamente falsificação da vida.
A atual é fruto de interregno, de um vazio entre duas organizações do mundo histórico: a que foi, a que vai ser. Por isso é essencialmente provisória. E nem os homens sabem bem a que instituições de verdade servir, nem as mulheres que tipo de homens preferem realmente.
Os europeus não sabem viver se não se lançam numa grande empresa unitiva. Quando esta falta, envilecem-se, afrouxam, desconjunta-se-lhes a alma. Um começo disto oferece-se hoje a nossos olhos. Os círculos que até agora se chamaram nações chegaram há um século ou pouco menos à sua máxima expansão. Já não se pode fazer nada com eles a não ser transcendê-los. Já não são senão passado que se acumula em torno e debaixo do europeu, aprisionando-o, lastrando-o. Com mais liberdade vital que nunca sentimos todos que o ar é irrespirável dentro de cada povo, porque é um ar confinado. Cada nação que antes era a grande atmosfera aberta, arejada, transformou-se em província e “interior”. Na supernação européia que imaginamos, a pluralidade atual não pode nem deve desaparecer. Enquanto o Estado antigo aniquilava o diferencial dos povos ou o deixava inativo fora ou em suma o conservava mumificado, a idéia nacional, mais puramente dinâmica, exige a permanência ativa desse plural que sempre foi a vida do Ocidente.
Todo o mundo percebe a urgência de um novo princípio de vida. Mas — como sempre acontece em crises parelhas — alguns ensaiam salvar o momento por uma intensificação extremada e artificial, precisamente do princípio caduco. Este é o sentido da erupção “nacionalista” nos anos que correm. E sempre — repito — aconteceu assim. A última chama, a mais extensa. O derradeiro suspiro, o mais profundo. A véspera de desaparecer, as fronteiras se hiperestesiam — as fronteiras militares e as econômicas.
Mas todos estes nacionalismos são becos sem saída. Tente-se projetá-los para o futuro e sentir-se-á o choque. Por aí não se sai para lado nenhum. O nacionalismo é sempre um impulso de direção oposta ao princípio nacionalizador. É exclusivista, enquanto este é inclusivista. Em época de consolidação tem, por sua vez, um valor positivo e é uma alta norma. Mas na Europa tudo está de sobra consolidado, e o nacionalismo não é mais que uma mania, o pretexto que se oferece para iludir o dever de invenção e de grandes empresas. A simplicidade de meios com que opera e a categoria dos homens que exalta revelam de sobra que é o contrário de uma criação histórica.
Só a decisão de construir uma grande nação com o grupo dos povos continentais tornaria a dar tom à pulsação da Europa. Voltaria ela a crer em si mesma, e automaticamente a exigir muito de si, a disciplinar-se.
Mas a situação é muito mais perigosa do que se pode apreciar. Vão passando os anos e corre-se o risco de que o europeu se habitue a este tom menor de existência que leva agora; acostume-se a não mandar nem se mandar. Em tal caso, ir-se-iam volatilizando todas as suas virtudes e capacidades superiores.
Mas à unidade da Europa opõem-se, como sempre aconteceu no processo de nacionalização, as classes conservadoras. Isto pode trazer para elas a catástrofe, pois ao perigo genérico de que a Europa se desmoralize definitivamente e perca toda a sua energia histórica, ajunta-se outro muito concreto e iminente. Quando o comunismo triunfou na Rússia muitos acreditaram que todo o Ocidente ficaria inundado pela torrente vermelha. Eu não participei de semelhante prognóstico. Pelo contrário: por aqueles anos escrevi que o comunismo russo era uma substância inassimilável para os europeus, casta que pôs todos os esforços e fervores de sua história na carta Individualidade. O tempo correu, e hoje voltaram à tranqüilidade os temerosos de outrora. Voltaram à tranqüilidade quando chega justamente a época para que a perdessem. Porque agora sim pode derramar-se sobre a Europa o comunismo de roldão e vitorioso.
Minha presunção é a seguinte: agora, como antes, o conteúdo do credo comunista à russa não interessa, não atrai, não desenha um porvir desejável aos europeus. E não pelas razões triviais que seus apóstolos, porfiados, surdos e sem veracidade, como todos os apóstolos, soem verbificar. Os bourgeois do Ocidente sabem muito bem que, mesmo sem comunismo, o homem que vive exclusivamente de suas rendas e que as transmite a seus filhos tem os dias contados. Não é isso o que imuniza a Europa para a fé russa, nem é muito menos temor. Hoje parecem-nos bastante ridículos os arbitrários supostos em que há vinte anos fundava Sorel sua tática da violência. O burguês não é covarde, como ele cria, e atualmente está mais disposto à violência que os operários. Ninguém ignora que se triunfou na Rússia o bolchevismo, foi porque na Rússia não havia burgueses(89). O fascismo, que é um movimento petit bourgeois, revelou-se como mais violento que todo o obreirismo junto. Não é, pois, nada disso o que impede ao europeu embalar-se comunisticamente, mas uma razão muito mais simples e prévia. Esta: que o europeu não vê na organização comunista um aumento da felicidade humana.
Entretanto — repito —, parece-me muitíssimo possível que nos anos próximos a Europa se entusiasme pelo bolchevismo. Não por ele mesmo, mas apesar dele.
Imagine-se que o “plano qüinqüenal” seguido herculeamente pelo Governo soviético conseguisse suas previsões e a enorme economia russa ficasse não só restaurada, mas exuberante. Qualquer que seja o conteúdo do bolchevismo, representa um ensaio gigantesco de empresa humana. Nele os homens abraçaram resolutamente um destino de reforma e vivem tensos sob a alta disciplina que essa fé lhes injeta. Se a matéria cósmica, indócil aos entusiasmos do homem, não faz fracassar gravemente a tentativa, tão só que lhe deixe via um pouco franca, seu esplêndido caráter de magnífica empresa irradiará sobre o horizonte continental como uma ardente e nova constelação. Se a Europa, entretanto, persiste no ignóbil regime vegetativo destes anos, frouxos os nervos por falta de disciplina, sem projeto de vida nova, como poderia evitar o efeito contaminador daquela empresa tão prócer? E não conhecer o europeu esperar que possa ouvir sem se acender essa chamada a novo fazer quando ele não tem outra bandeira de semelhante altaneria que desfraldar ovante. Contanto que sirva a algo que dê um sentido à vida e fugir do próprio vazio existencial, não é difícil que o europeu engula suas objeções ao comunismo, e já que não por sua substância, se sinta arrastado por sua atitude moral.
Eu vejo na construção da Europa, como grande Estado nacional, a única empresa que poderia contrapor-se à vitória do “plano qüinqüenal”.
Os técnicos da economia política garantem que essa vitória tem mui escassas probabilidades de sua parte. Mas seria demasiado vil que o anticomunismo esperasse tudo das dificuldades materiais encontradas por seu adversário. O fracasso deste equivaleria à derrota universal: de todos e de tudo, do homem atual. O comunismo é uma “moral” extravagante — algo assim como uma moral —. Não parece mais decente e fecundo opor a essa moral eslava uma nova moral do Ocidente, a incitação de um novo programa de vida?
XV. DESEMBOCA-SE NA VERDADEIRA QUESTÃO
Esta é a questão: a Europa ficou sem moral. Não é que o homem-massa menospreze uma antiquada em benefício de outra emergente, mas que o centro de seu regime vital consiste precisamente na aspiração a viver sem sujeitar-se a moral alguma. Não acrediteis uma palavra quando ouvirdes os jovens falar da “nova moral”. Nego rotundamente que exista em lugar algum do continente grupo algum informado por um novo ethos que tenha visos de u’a moral. Quando se fala da “nova” não se faz senão cometer uma imoralidade mais e buscar o meio mais cômodo para passar contrabando.
Por essa razão seria uma ingenuidade lançar em rosto ao homem de hoje sua falta de moral. A imputação não lhe causaria a menor impressão, ou melhor, o lisonjearia. O imoralismo chegou a ser tão barato que qualquer um alardeia exercitá-lo.
Se deixamos de um lado — como se fez neste ensaio — todos os grupos que significam sobrevivências do passado — os cristãos, os “idealistas”, os velhos liberais, etc. — não se achará entre todos os que representam a época atual um só cuja atitude ante a vida não se reduza a crer que tem todos os direitos e nenhuma obrigação. É indiferente que se mascare de reacionário ou de revolucionário: por ativa ou por passiva, ao cabo de umas ou outras voltas, seu estado de ânimo consistirá, decisivamente, em ignorar toda obrigação e sentir-se, sem que ele mesmo suspeite por que sujeito de ilimitados direitos.
Qualquer substância que caia sobre uma alma assim, dará um mesmo resultado, e se converterá em pretexto para não se sujeitar a nada concreto. Se se apresenta como reacionário ou antiliberal, será para poder afirmar que a salvação da pátria, do Estado, dá direito a alhear todas as outras normas e a massacrar o próximo, sobretudo se o próximo possui uma personalidade valiosa. Mas a mesma coisa acontece se dá para ser revolucionário: seu aparente entusiasmo pelo operário manual, o miserável e a justiça social, lhe serve de disfarce para poder desentender-se de toda obrigação — como a cortesia, a veracidade, e, sobretudo, o respeito ou estimação dos indivíduos superiores. Eu sei de não poucos que ingressaram em um ou outro partido operário apenas para conquistar dentro de si mesmos o direito a desprezar a inteligência e poupar-se aos salamaleques diante dela. Quanto às outras Didaturas, bem vimos como afagam o homem-massa, pateando quanto parecia eminência.
Essa esquivança a toda obrigação explica, em parte, o fenômeno, entre ridículo e escandaloso, de que se tenha feito em nossos dias uma plataforma da “juventude” como tal. Quiçá não ofereça nosso tempo traço mais grotesco. As pessoas, comicamente, se declaram “jovens” porque ouviram que o jovem tem mais direitos que obrigações, já que pode demorar o cumprimento destas até as calendas gregas da madureza. Sempre o jovem, como tal, considerou-se isento de fazer ou haver feito façanhas. Sempre viveu de crédito. Isto se acha na natureza do humano. Era como um falso direito, entre irônico e terno, que os não jovens concediam aos moços. Mas é estupefaciente que agora o tomem estes como um direito efetivo, precisamente para atribuir-se todos os demais que pertencem só a quem tenha feito já alguma coisa.
Embora pareça mentira, chegou a fazer-se da juventude uma chantagem. Em realidade, vivemos um tempo de chantagem universal que toma duas formas de esgar complementário: há a chantagem da violência e a chantagem do humorismo. Com um ou com outro aspira-se sempre ao mesmo: que o inferior, que o homem vulgar possa sentir-se livre de toda sujeição.
Por isso não cabe enobrecer a crise presente mostrando-a como o conflito entre duas morais ou civilizações, uma caduca e a outra em alvor. O homem-massa carece simplesmente de moral, que é sempre, por essência, sentimento de submissão a algo, consciência de serviço e obrigação. Mas talvez é um erro dizer “simplesmente”. Porque não se trata só de que este tipo de criatura se desentenda da moral. Não; não lhe façamos tão fácil a tarefa. Da moral não é possível desentender-se simplesmente. O que com um vocábulo falto até de gramática se chama amoralidade, é uma coisa que não existe. Se você não quer submeter-se a nenhuma norma, tem, velis nolis, de sujeitar-se à norma de negar toda moral, e isto não é amoral, mas imoral. E uma moral negativa que conserva da outra a forma em oco.
Como se pode acreditar na amoralidade da vida? Sem dúvida porque toda a cultura e a civilizacão moderna levam a esse convencimento. Agora recolhe a Europa as penosas conseqüências de sua conduta espiritual. Embalou-se sem reservas pelo declive de uma cultura magnífica, mas sem raízes.
Neste ensaio desejou-se desenhar certo tipo de europeu, analisando sobretudo seu comportamento ante a civilização mesma em que nasceu. Importava fazer assim porque esse personagem não representa outra civilização que lute com a antiga, mas uma simples negação, negação que oculta um efetivo parasitismo. O homem-massa está ainda vivendo precisamente do que nega e outros construíram ou acumularam. Por isso não convinha mesclar seu psicograma com a grande questão: que insuficiências radicais padece a cultura européia moderna? Porque é evidente que, em última instância, delas provém esta forma humana agora dominante.
Mas essa grande questão tem de permanecer fora destas páginas, porque é excessiva. Obrigaria a desenvolver com plenitude a doutrina sobre a vida humana que, como um contraponto, fica entrelaçada, insinuada, murmurada nelas. Talvez possa em breve ser exaltada.
EPÍLOGO PARA INGLESES
Daqui a pouco faz um ano que numa paisagem holandesa, onde o destino me havia centrifugado, escrevi o Prólogo para franceses à primeira edição popular deste livro. Naquela data começava para a Inglaterra uma das etapas mais problemáticas de sua história e havia muito poucas pessoas na Europa que confiassem nas suas virtudes latentes. Durante os últimos tempos falharam tantas coisas que, por inércia mental, se tende a duvidar de tudo, até da Inglaterra. Dizia-se que era um povo em decadência. Não obstante — e ainda arrostando certos riscos de que não quero falar agora —, eu assinalava com fé robusta a missão européia do povo inglês, a que tivera durante dois séculos e que em forma superlativa estava chamado a exercer hoje. O que então não imaginava é que tão rapidamente viessem os fatos confirmar meu prognóstico e a incorporar minha esperança. Muito menos que se comprazessem com tal precisão em ajustar-se ao papel determinadíssimo que, usando um símil humorístico, atribuía eu a Inglaterra ante o Continente. A manobra de saneamento histórico que tenta a Inglaterra, desde já, em seu interior, é portentosa. No meio da mais atroz tormenta, o navio inglês troca todas as suas velas, vira dois quadrantes, cinge-se ao vento e a guinada de seu leme modifica o destino do mundo. Tudo isso sem uma gesticulação e muito além de todas as frases, incluso das que acabo de proferir. É evidente que há muitas maneiras de fazer história, quase tantas como de desfazê-las.
Há várias centúrias acontece periodicamente que os continentais acordam uma manhã e, coçando a cabeça, exclamam: “Esta Inglaterra!...” É uma expressão que significa surpresa, sobressalto e a consciência de ter a sua frente algo admirável, mas incompreensível. O povo inglês é, com efeito, o fato mais estranho que há no planeta. Não me refiro ao inglês individual, mas ao corpo social, à coletividade dos ingleses. O estranho, o maravilhoso não pertence, pois, à ordem psicológica, mas à ordem sociológica. E como a sociologia é uma das disciplinas sobre as quais as pessoas têm em todas as partes menos idéias claras, não seria possível, sem muitas preparações, dizer por que é estranha e por que é maravilhosa a Inglaterra. Ainda menos tentar a explicação de como chegou a ser essa estranha coisa que é. Enquanto se acredite que um povo possui um “caráter” prévio e que sua história é uma emanação deste caráter, não haverá maneira nem sequer de iniciar a conversação. O “caráter nacional”, como tudo que é humano, não é um dom inato, mas uma fabricação. O caráter nacional vai se fazendo e desfazendo e refazendo na história. Em que pese esta vez à etimologia, a nação não nasce, se faz. É uma empresa que dá bem ou mal, que se inicia após um período de ensaios, que se desenvolve, que se corrige, que “perde o fio” uma ou várias vezes, e tem de voltar a começar, ou, pelo menos, reatar. O interessante seria precisar quais são os atributos surpreendentes, por insólitos, da vida inglesa nos últimos cem anos. Depois viria a tentativa de mostrar como adquiriu a Inglaterra essas qualidades sociológicas. Insisto em empregar esta palavra, apesar do pedante que é, porque atrás dela está o verdadeiramente essencial e fértil. E preciso extirpar da história o psicologismo, que já foi afugentado de outros acontecimentos. O excepcional da Inglaterra não jaz no tipo de indivíduo humano que soube criar. É sobremaneira discutível que o inglês individual valha mais que outras formas de individualidade aparecidas no Oriente e no Ocidente. Mas mesmo aquele que estime o modo de ser dos homens ingleses acima de todos os demais, reduz o assunto a uma questão de mais ou de menos. Eu sustento, por minha vez, que o excepcional, que a originalidade extrema do povo inglês radica em sua maneira de tomar o lado social ou coletivo da vida humana, no modo como sabe ser uma sociedade. Nisto sim é que se contrapõe a todos os demais povos e não é questão de mais ou de menos. Talvez, no tempo próximo, se me ofereça oportunidade para fazer ver tudo que quero dizer com isto.
Respeito semelhante à Inglaterra não nos exime da irritação ante seus defeitos. Não há povo que, olhado desde outro, não seja insuportável. E por este lado talvez são os ingleses, em grau especial, exasperantes. E é que as virtudes de um povo, como as de um homem, vão elevadas, e em certa maneira, consolidadas, sobre seus defeitos e limitações. Quando chegamos a esse povo, o primeiro que vemos são as suas fronteiras, que, no moral como no físico, são seus limites. O nervosismo dos últimos meses fez que quase todas as nações tivessem vivido encarapitadas em suas fronteiras; quer dizer, dando um espetáculo exagerado de seus mais congênitos defeitos. Se se ajunta a isso que um dos principais temas de disputa tem sido a Espanha, compreender-se-á até que ponto hei sofrido de quanto na Inglaterra, na França, na América do Norte representa atonia, entorpecimento, vício e falha. O que mais me surpreendeu é a decidida vontade de não tomar conhecimento das coisas que há na opinião pública desses países; e o que mais falta tenho sentido, a respeito da Espanha, tem sido alguma atitude de graça generosa, que é, a meu juízo, o mais estimável que há no mundo. No anglo-saxão — não em seus governos, mas sim nos países — tem se deixado circular a intriga, a frivolidade, a dureza de cabeça, o prejuízo arcaico e a hipocrisia nova sem lhes pôr um limite. Escutaram-se em sério as maiores imbecilidades com tanto que fossem indígenas, e, entrementes, tem havido a radical decisão de não querer ouvir nenhuma voz espanhola capaz de esclarecer as coisas, ou de ouvi-la depois de deformá-la.
Isto me levou, ainda convencido de que forçava um pouco a conjuntura, a aproveitar o primeiro pretexto para falar sobre a Espanha e — já a suspicácia do público inglês não tolerava outra coisa — falar sem parecer que dela falava nas páginas intituladas “Quanto ao pacifismo...”, acrescentadas a seguir. Se é benévolo, o leitor não esquecerá o destinatário. Dirigidas a ingleses, representam um esforço de acomodação a seus usos. Renunciou-se nelas a todo “brilho” e vão escritas em estilo bastante pickwickiano, composto de cautelas e eufemismos.
Tenha-se presente que a Inglaterra não é um povo de escritores mas de comerciantes, de engenheiros e de homens piedosos. Soube por isso forjar uma língua e uma elocução em que se trata principalmente de não dizer o que se diz, de insinuar e ainda mais de iludir. O inglês não veio ao mundo para dizer, mas, ao contrário, para silenciar. Com faces impassíveis, postos atrás de seus cachimbos, velam os ingleses alerta sobre seus próprios segredos para que não escape nenhum. Isto é uma força magnífica, e importa sobremaneira à espécie humana que se conserve intacto esse tesouro e essa energia de taciturnidade. Mas, ao mesmo tempo, dificultam enormemente a inteligência com outros povos, sobretudo com os nossos. O homem do Sul propende a ser gárrulo. A Grécia, que nos educou, soltou nossas línguas e nos fez indiscretos a nativitate. O aticismo havia triunfado sobre o laconismo, e para o ateniense viver era falar, dizer, esganiçar-se, dando ao vento em formas claras e eufônicas a mais arcana intimidade. Por isso divinizaram o dizer, o logos, ao qual atribuíam mágica potência, e a retórica acabou sendo para a civilização antiga o que tem sido a física para nós nestes últimos séculos. Sob esta disciplina, os povos românicos forjaram línguas complicadas, mas deliciosas, de uma sonoridade, uma plasticidade e um garbo incomparáveis; línguas feitas à força de palavreados infindáveis — em ágora e praça, em palanque, taberna e tertúlia. Daí que nos sintamos sôfregos quando, aproximando-nos destes esplêndidos ingleses, os ouvimos emitir a série de leves miados displicentes em que consiste seu idioma.
O tema do ensaio que segue é a incompreensão mútua em que caíram os povos do Ocidente — quer dizer, povos que convivem desde sua infância. O fato é estupefaciente. Porque a Europa foi sempre como uma casa da vizinhança, onde as famílias não vivem nunca separadas, mas se misturam a toda hora sua doméstica existência. Estes povos que agora se ignoram tão gravemente brincaram juntos quando eram crianças nos corredores da grande mansão comum. Como puderam chegar a não se entender tão radicalmente? A gênese de tão feia situação é longa e complexa. Para enunciar só um dos mil fios que naquele fato se atam, advirta-se que o uso de se converterem uns povos em juizes dos outros, de se desprezar e injuriar porque são diferentes, enfim, de se permitirem crer as nações hoje poderosas que o estilo ou o “caráter” de um povo menor é absurdo porque é bélica ou economicamente débil, são fenômenos que, se não erro, jamais se haviam produzido até os últimos cinqüenta anos. Ao enciclopedista francês do século XVIII, não obstante sua petulância e sua escassa ductilidade intelectual, apesar de supor-se dono da verdade absoluta, não se lhe ocorria desdenhar um povo “inculto” e depauperado como a Espanha. Quando alguém o fazia, o escândalo que provocava era prova de que o homem normal de então não via, como um parvenu, nas diferenças de poderio diferença de nível humano. Pelo contrário: é o século das viagens cheias de curiosidade amável e prazenteira pela divergência do próximo. Este foi o sentido do cosmopolitismo que coagula no seu último terço. O cosmopolitismo de Fergusson, Herder, Goethe — é o oposto do atual “internacionalismo”. Nutre-se não da exclusão das diferenças nacionais, mas, pelo contrário, de entusiasmo por elas. Busca a pluralidade de formas vitais com vistas não à sua anulação, mas à sua integração. Lema dele foram estas palavras de Goethe: “Só todos os homens vivem o humano”. O romanticismo que lhe sucedeu não é senão sua exaltação. O romântico enamorava-se dos outros povos precisamente porque eram outros, e no uso mais exótico e incompreensível suspeitava mistérios de grande sabedoria. E o caso é que — em princípio — tinha razão. É, por exemplo, indubitável que o inglês de hoje, hermetizado pela consciência de seu poder político, não é muito capaz de ver o que há de cultura refinada, sutilíssima e de alto alcance nessa ocupação — que a ele lhe parece a exemplar desocupação de “tomar sol” a que o castiço espanhol sói dedicar-se conscientemente. Ele crê, porventura, que o unicamente civilizado é vestir umas bombachas e dar pancadas numa bolinha com uma vara, operação que habitualmente se dignifica denominando-a de “golf”.
O assunto é, pois, de muito peso, e as páginas que seguem não fazem outra coisa senão tomá-lo pelo lado mais urgente. Esse mútuo desconhecimento tornou possível que o povo inglês, tão parco em erros históricos graves, cometesse o gigantesco de seu pacifismo. De todas as causas que geraram as presentes desgraças do mundo, a que talvez pode concretizar-se mais é o desarmamento da Inglaterra. Seu gênio político permitiu-lhe nestes meses corrigir com um esforço incrível de self-control o mais extremo do mal. Porventura tenha contribuído para que adote esta resolução a consciência da responsabilidade contraída.
Sobretudo isto se raciocina tranqüilamente nas páginas imediatas, sem excessiva presunção, mas com o entranhável desejo de colaborar na reconstituição da Europa. Devo advertir ao leitor que todas as notas foram acrescentadas agora e suas alusões cronológicas hão de ser referidas ao corrente mês.
Paris, abril, 1938.
QUANTO AO PACIFISMO
Há vinte anos(90) a Inglaterra — seu Governo e sua opinião pública — embarcaram no pacifismo. Cometemos o erro de designar com este único nome atitudes mui diferentes, tão diferentes que na prática vêem a ser com freqüência antagônicas. Há, com efeito, muitas formas de pacifismo. A única que entre elas existe de comum é uma coisa muito vaga: a crença em que a guerra é um mal e a aspiração a eliminá-la como meio de trato entre os homens. Mas os pacifistas começam a discrepar quando dão o passo imediato e interrogam-se até que ponto é em absoluto possível o desaparecimento das guerras. Enfim: a divergência torna-se superlativa quando se põem a pensar nos meios que exige uma instauração de paz sobre este pugnacíssimo globo terráqueo. Talvez fosse muito mais útil do que se imagina um estudo completo sobre as diversas formas do pacifismo. Dele emergiria não escassa claridade. Mas é evidente que não me corresponde agora nem aqui fazer um estudo no qual ficaria definido com certa precisão o peculiar pacifismo em que a Inglaterra — seu Governo e sua opinião pública — embarcou há vinte anos.
Por outra parte, entretanto, a realidade atual facilita desgraçadamente o assunto. É um fato demasiado notório que esse pacifismo inglês fracassou. Isso quer dizer que esse pacifismo foi um erro. O fracasso foi tão grande, tão rotundo, que alguém teria direito a revisar rapidamente a questão e a se perguntar se não é um erro todo pacifismo. Mas eu prefiro agora adaptar-me quanto possa ao ponto de vista inglês, e vou supor que sua aspiração à paz do mundo era uma excelente aspiração. Mas isso sublinha tanto mais quanto houve de erro no resto, a saber, na apreciação das possibilidades de paz que o mundo atual oferecia e na determinação da conduta que há de seguir quem pretenda ser, de verdade, pacifista.
Ao dizer isto não sugiro nada que possa levar ao desânimo. Pelo contrário. Por que desanimar? Talvez as duas únicas coisas a que o homem não tem direito são a petulância e seu oposto, o desânimo. Não há nunca razão suficiente nem para um nem para o outro. Baste advertir o estranho mistério da condição humana consistente em que uma situação tão negativa e de derrota, como é haver cometido um erro, se converte magicamente em uma nova vitória para o homem, apenas reconhecendo-o. O reconhecimento de um erro é por si mesmo uma nova verdade é como uma luz que dentro deste se acende.
Contra o que acreditem os jeremias, todo erro é uma propriedade que acresce nosso haver. Em vez de chorar sobre ele convém apressar-se a explorá-lo. Para isso é preciso que nos resolvamos a estudá-lo a fundo, a descobrir sem piedade suas raízes e a construir energicamente a nova concepção das coisas que isto nos proporciona. Eu suponho que os ingleses se dispõem já, serenamente, mas decididamente, a retificar o enorme erro que durante vinte anos tem sido seu peculiar pacifismo e a substituí-lo por outro pacifismo mais perspicaz.
Como quase sempre acontece, o defeito maior do pacifismo inglês — e, em geral, dos que se apresentam como titulares do pacifismo — tem sido subestimar o inimigo. Esta subestima lhes inspirou um diagnóstico falso. O pacifista vê na guerra um dano, um crime ou um vício. Mas esquece que, antes disso e acima disso, a guerra é um enorme esforço que os homens fazem para resolver certos conflitos. A guerra não é um instinto, mas um invento. Os animais a desconhecem e é de pura instituição humana, como a ciência e a administração. Ela levou a um dos maiores descobrimentos, base de toda civilização: ao descobrimento da disciplina. Todas as demais formas de disciplina procedem da primigênia, que foi a disciplina militar. O pacifismo está perdido e converte-se em nula beateria se não tem presente que a guerra é uma genial e formidável técnica de vida e para a vida.
Como toda forma histórica, tem a guerra dois aspectos: o da hora de sua invenção e o da hora de sua superação. Na hora de sua invenção significou um progresso incalculável. Hoje, quando aspiramos a superá-la, vemos dela apenas a suja espádua, seu horror, sua rusticidade, sua insuficiência. Do mesmo modo, costumamos, sem mais reflexão, maldizer da escravidão, não advertindo o maravilhoso progresso que representou quando foi inventada. Porque antes o que se fazia era matar os vencidos. Foi um gênio benfeitor da humanidade o primeiro que ideou, em vez de matar os prisioneiros, conservar-lhes a vida e aproveitar seu labor. Augusto Comte, que tinha um grande sentido humano, quer dizer, histórico, viu já deste modo a instituição da escravidão — libertando-se das tolices que Rousseau disse sobre ela — e a nós nos corresponde generalizar sua advertência, aprendendo a olhar todas as coisas humanas sob essa dupla perspectiva, a saber: o aspecto que têm ao chegar e o aspecto que têm ao ir. Os romanos, mui finamente, encarregaram duas divindades de consagrar esses dois instantes — Adeona e Abeona, o deus do chegar e o deus de ir.
Por desconhecer tudo isso, que é elementar, o pacifismo tornou sua tarefa demasiado fácil. Pensou que para eliminar a guerra bastava não fazê-la ou, em suma, trabalhar em que não se fizesse. Como via nela apenas uma excrescência supérflua e mórbida aparecida no trato humano, creu que bastava extirpá-la e que não era necessário substituí-la. Mas o enorme esforço que é a guerra, só pode ser evitado se se entende por paz um esforço ainda maior, um sistema de esforços complicadíssimos, e que, em parte, requerem a venturosa intervenção do gênio. O outro é puro erro. O outro é interpretar a paz como o simples vazio que a guerra deixaria se desaparecesse; portanto, ignorar que se a guerra é uma coisa que se faz, também a paz é uma coisa que importa fazer, que há que fabricar, pondo na faina todas as potências humanas. A paz não “está aí”, simplesmente, pronta para que o homem a goze. A paz não é fruto espontâneo de nenhuma árvore. Nada importante é apresentado ao homem; pelo contrário, tem ele de fazê-lo, de construí-lo. Por isso, o título mais claro de nossa espécie é ser homo faber.
Se se atende a tudo isso, não parecerá surpreendente a crença em que esteve a Inglaterra de que o mais que podia fazer a favor da paz era desarmar, um fazer que se assemelha tanto a um puro omitir? Essa crença é incompreensível se não se adverte o erro de diagnóstico que lhe serve de base, a saber: a idéia de que a guerra procede simplesmente das paixões dos homens, e que se se reprime o apaixonamento, o belicismo ficará asfixiado. Para ver com clareza a questão façamos o que fazia lord Kelvin para resolver seus problemas de física: construamos um modelo imaginário. Imaginemos, então, que em certo momento todos os homens renunciassem à guerra, como a Inglaterra, por sua parte, tentou fazer. Acredita-se que basta isso, mais ainda, que com isso se havia dado o mais breve passo eficiente no sentido da paz? Grande erro! A guerra, repitamos, era um meio que haviam inventado os homens para solucionar certos conflitos. A renúncia à guerra não suprime estes conflitos. Pelo contrário, deixa-os mais intactos e menos resolvidos que nunca. A ausência de paixões, a vontade pacífica de todos os homens seriam completamente ineficazes, porque os conflitos reclamariam solução, e, enquanto não se inventasse outro meio, a guerra reapareceria inexoravelmente nesse imaginário planeta habitado só por pacifistas.
Não é, pois, a vontade de paz o que importa ultimamente no pacifismo. É preciso que este vocábulo deixe de significar uma boa intenção e represente um sistema de novos meios de trato entre os homens. Não se espere nesta ordem nada fértil enquanto o pacifismo, de ser um gratuito e cômodo desejo, não passe a ser um difícil conjunto de novas técnicas.
O enorme dano que aquele pacifismo trouxe à causa da paz consistiu em não deixar-nos ver a carência das técnicas mais elementais, cujo exercício concreto e preciso constitui isso que, com um vago nome, chamamos de paz.
A paz, por exemplo, é o direito como forma de trato entre os povos. Pois bem: o pacifismo usual dava como suposto que esse direito existia, que estava aí à disposição dos homens e que só as paixões destes e seus instintos de violência induziam a ignorá-lo. Ora bem: isto é gravemente oposto à verdade.
Para que o direito ou um ramo dele exista é preciso: 1o., que alguns homens, especialmente inspirados, descubram certas idéias ou princípios de direito. 2o., a propaganda e expansão dessas idéias de direito sobre a coletividade em questão (em nosso caso, pelo menos, a coletividade que formam os povos europeus e americanos, incluindo os domínios ingleses da Oceania). 3o., que essa expansão chegue de tal modo a ser predominante, que aquelas idéias de direito se consolidem em forma de “opinião pública”. Então, e só então, podemos falar, na plenitude do termo, de direito, quer dizer, de norma vigente. Não importa que não haja legislador, não importa que não haja juizes. Se aquelas idéias senhoreiam de verdade as almas, atuarão inevitavelmente como instâncias para a conduta às quais se pode recorrer. E esta é a verdadeira substância do direito.
Pois bem: um direito referente às matérias que originam inevitavelmente as guerras não existe. E não só não existe no sentido de que não haja alcançado ainda “vigência”, isto é, que não se tenha consolidado como norma firme na “opinião pública”, como não existe nem sequer como idéia, como puro teorema incubado na mente de algum pensador. E não havendo nada disso, não havendo nem em teoria um direito dos povos, pretende-se que desapareçam as guerras entre eles? Permita-se-me que qualifique de frívola, de imoral, semelhante pretensão. Porque é imoral pretender que uma coisa desejada se realize magicamente, simplesmente porque a desejamos. Só é moral o desejo que é acompanhado da severa vontade de aprontar os meios de sua execução.
Não sabemos quais são os “direitos subjetivos” das nações e não temos nem indícios de como seria o “direito objetivo” que possa regular seus movimentos. A proliferação de tribunais internacionais, de órgãos de arbitragem entre Estados, que os últimos cinqüenta anos presenciaram, contribui a ocultar-nos a indigência de verdadeiro direito internacional que padecemos. Não desestimo, de maneira nenhuma, a importância dessas magistraturas. Sempre é importante para o progresso de uma função moral que apareça materializada em um órgão especial claramente visível. Mas a importância desses tribunais internacionais tem se reduzido a isso até hoje. O direito que administram é, no essencial, o mesmo que já existia antes de seu estabelecimento. Com efeito: se se passa revista às matérias julgadas por esses tribunais, adverte-se que são as mesmas resolvidas de há muito pela diplomacia. Não significam progresso algum importante no que é essencial: na criação de um direito para a peculiar realidade que são as nações.
Nem era lícito esperar maior fertilidade nesta ordem, de uma etapa que se iniciou com o Tratado de Versalhes e com a instituição da Sociedade das Nações, para só nos referirmos aos dois maiores e mais recentes cadáveres. Repugna-me atrair a atenção do leitor sobre coisas falidas, maltratadas ou em ruínas. Mas é indispensável para contribuir um pouco a despertar o interesse para novas grandes empresas, para novas tarefas construtivas e salutíferas. É preciso que não se volte a cometer um erro como foi a criação da Sociedade das Nações; entende-se, o que concretamente foi e significou esta instituição na hora de seu nascimento. Não foi um erro qualquer, como os habituais na difícil faina que é a política. Foi um erro que reclama o atributo de profundo. Foi um erro histórico. O “espírito” que propeliu para aquela criação, o sistema de idéias filosóficas, históricas, sociológicas e jurídicas de que emanaram seu projeto e sua figura estava já historicamente morto naquela data, pertencia ao passado, e longe de antecipar o futuro era já arcaico. E não se diga que é coisa fácil proclamar isto agora. Houve homens na Europa que já então denunciaram seu inevitável fracasso. Uma vez mais aconteceu o que é quase normal na história, a saber: que foi predita. Mas, uma vez mais, também os políticos não fizeram caso desses homens. Evito precisar a que grêmio pertenciam os profetas. Baste dizer que na fauna humana representam a espécie mais oposta ao político. Sempre será este quem deva governar, e não o profeta; mas importa muito aos destinos humanos que o político ouça sempre o que o profeta grita ou insinua. Todas as grandes épocas da história nasceram da sutil colaboração entre esses dois tipos de homem. É talvez uma das causas profundas do atual desconcerto seja que há duas gerações os políticos se declararam independentes e cancelaram essa colaboração. Mercê disso produziu-se o vergonhoso fenômeno de que, a esta altura da história e da civilização, navegue o mundo mais à deriva que nunca, entregue a uma cega mecânica. Cada vez é menos possível uma sã política sem larga antecipação histórica, sem profecia. Talvez as catástrofes presentes abram de novo os olhos dos políticos para o fato evidente de que há homens, os quais, pelos temas de que habitualmente se ocupam, ou por possuir almas sensíveis como finos registradores sísmicos, recebem antes que os demais a visita do porvir(91).
A Sociedade das Nações foi um gigantesco aparelho jurídico criado para um direito inexistente. Sua vacuidade de justiça encheu-se fraudulentamente com a sempiterna diplomacia, que ao disfarçar-se de direito contribuiu à universal desmoralização.
Formule-se o leitor qualquer dos grandes conflitos que há atualmente estabelecidos entre as nações, e diga-se a si mesmo se encontra em sua mente uma possível norma jurídica que permita, sequer teoricamente, resolvê-lo. Quais são, por exemplo, os direitos de um povo que ontem tinha vinte milhões de homens e hoje tem quarenta ou oitenta? Quem tem direito ao espaço não habitado do mundo? Estes exemplos, os mais toscos e elementais que podem ser apontados, põem bem à vista o caráter ilusório de todo pacifismo que não comece por ser uma nova técnica jurídica. Sem dúvida, o direito que aqui se postula é uma invenção muito difícil. Se fosse fácil existiria há muito tempo. É difícil, exatamente tão difícil como a paz, com a qual coincide. Mas uma época que assistiu ao invento das geometrias não-euclidianas, de uma física de quatro dimensões e de uma mecânica do descontínuo, pode, sem espanto, enfrentar aquela empresa e resolver-se a acometê-la. Em certo modo, o problema do novo direito internacional pertence ao mesmo estilo que esses recentes progressos doutrinais. Também aqui se trataria de libertar uma atividade humana — o direito — de certa radical limitação que sempre padeceu. O direito, com efeito, é estático, e não debalde seu órgão principal se chama Estado. O homem não conseguiu ainda elaborar uma forma de justiça que não esteja circunscrita na cláusula rebus sic stantibus. Mas é o caso que as coisas humanas não são res stantes, mas pelo contrário, coisas históricas, quer dizer, puro movimento, mutação perpétua. O direito tradicional é só regulamento para uma realidade paralítica. E como a realidade histórica muda periodicamente de modo radical, choca, sem remédio, com a estabilidade do direito, que se converte em uma camisa de força. Mas uma camisa de força posta num homem são tem a virtude de torná-lo louco furioso. Daí — dizia eu, recentemente —, esse estranho aspecto patológico que tem a história e que a faz parecer como uma luta sempiterna entre os paralíticos e os epilépticos. Dentro do povo produzem-se as revoluções, e entre os povos estalam as guerras. O bem que pretende ser o direito se converte em um mal, como já nos ensina a Bíblia: “Por que tomastes o direito em fel e o fruto da justiça em absinto?” (Oseas, 6, 12).
No direito internacional, esta incongruência entre a estabilidade da justiça e a mobilidade da realidade, que o pacifista quer submeter àquela, chega a sua máxima potência. Considerada no que ao direito importa, a história é, antes de tudo, a mudança na divisão do poder sobre a terra. E enquanto não existam princípios de justiça que, ao menos em teoria, regulem satisfatoriamente essas mudanças do poderio, todo pacifismo é pena de amor perdida. Porque se a realidade histórica é isso ante tudo, parecerá evidente que a injúria máxima seja o statu quo. Não estranhe, pois, o fracasso da Sociedade das Nações, gigantesco aparelho construído para administrar o statu quo.
O homem necessita um direito dinâmico, um direito plástico e em movimento, capaz de acompanhar a história em sua metamorfose. A demanda não é exorbitante, nem utópica, nem sequer nova. Há mais de setenta anos, o direito, tanto civil como político, evolui neste sentido. Por exemplo: quase todas as constituições contemporâneas procuram ser “abertas”. Embora o expediente seja um pouco ingênuo, convém recordá-lo, porque nele se declara a aspiração a um direito semovente. Mas, a meu juízo, o mais fértil seria analisar a fundo e tentar definir com precisão —, isto é, extrair a teoria que nele jaz muda — o fenômeno jurídico mais avançado que se produziu até hoje no planeta: a British Commonwealth of Nations. Dir-me-ão que isto é impossível, porque precisamente esse estranho fenômeno jurídico foi forjado mediante estes dois princípios: um, o formulado por Balfour em 1926 com suas famosas palavras: Nas questões do Império é preciso evitar o refining, discussing or defining. O outro, o princípio “da margem e da elasticidade”, enunciado por sir Austin Chamberlain em seu histórico discurso de 12 de setembro de 1925: “Vejam-se as relações entre as diferentes seções do Império britânico; a unidade do Império britânica não está feita sobre uma constituição lógica. Não está sequer baseada numa Constituição. Porque queremos conservar a toda coisa uma margem e uma elasticidade.”
Seria um erro não ver nestas duas fórmulas senão emanações do oportunismo político. Longe disso, expressam mui adequadamente a formidável realidade que é a British Commonwealth of Nations e a designam precisamente sob seu aspecto jurídico. O que não fazem é defini-la, porque um político não veio ao mundo para isso, e se o político é inglês sente que definir algo é quase cometer uma traição. Mas é evidente que há outros homens cuja missão é fazer o que ao político, e especialmente ao inglês, está proibido: definir as coisas, embora estas se apresentem com a pretensão de ser essencialmente vagas. Em princípio, não é mais nem menos difícil definir o triângulo que a névoa. Importaria muito reduzir a conceitos claros essa situação efetiva de direito que consiste em puras “margens” e simples “elasticidades”. Porque a elasticidade é a condição que permite a um direito ser plástico, e se se lhe atribui uma margem, é que se prevê seu movimento. Se em vez de entender estes dois caracteres como meras ilusões e como insuficiências de um direito, as tomamos como realidades positivas, é possível que se abram diante de nós as mais férteis perspectivas. Provavelmente, a constituição do Império britânico parece-se muito ao “molusco de referência” de que falou Einstein, uma idéia de que a princípio se julgou inteligível e que é hoje base da nova mecânica.
A capacidade para descobrir a nova técnica de justiça que aqui se postula está pré-formada em toda a tradição jurídica da Inglaterra mais intensamente que na de nenhum outro país. E isso não certamente por casualidade. A maneira inglesa de ver o direito não é senão um caso particular do estilo geral que caracteriza o pensamento britânico, no qual adquire sua expressão mais extrema e depurada o que talvez é o destino intelectual do Ocidente, a saber: interpretar tudo que é inerte e material como puro dinamismo, substituir o que não parece ser senão “coisa” jacente, quieta e fixa por forças, movimentos e funções. A Inglaterra tem sido, em todas as ordens da vida, newtoniana. Mas não creio que seja necessário deter-me neste ponto. Suponho que cem vezes se terá feito constar e terá sido demonstrado com suficiente pormenor. Permita-se-me apenas que, como empedernido leitor, manifeste meu desideratum de ler um livro cujo tema seja este: o newtonismo inglês, fora da física; portanto, em todas as demais ordens da vida.
Se resumo agora meu raciocínio, parecerá, creio eu, constituído por uma linha simples e clara.
Está bem que o homem pacífico se ocupe diretamente em evitar esta ou aquela guerra; mas o pacifismo não consiste nisso, mas em construir a outra forma de convivência humana que é a paz. Isto significa a invenção e exercício de toda uma série de novas técnicas. A primeira delas é uma nova técnica jurídica que comece por descobrir princípios de eqüidade referentes às mudanças da divisão do poder sobre a terra.
Mas a idéia de um novo direito não é ainda um direito. Não esqueçamos que o direito se compõe de muitas coisas mais que uma idéia: por exemplo, formam parte dele os bíceps dos gendarmes ou seus sucedâneos. À técnica do puro pensamento jurídico devem acompanhar muitas outras técnicas ainda mais complicadas.
Desgraçadamente, o próprio nome de direito internacional estorva uma clara visão do que seria em sua plena realidade um direito das nações. Porque o direito nos pareceria ser um fenômeno que acontece dentro das sociedades, e o chamado “internacional” nos convida, pelo contrário, a imaginar um direito que acontece entre elas; quer dizer, num vazio social. Nesse vazio social as nações se reuniriam, e mediante um pacto criariam uma sociedade nova, que seria, por mágica virtude dos vocábulos, a Sociedade das Nações. Mas isso tudo tem o ar de um calembour(92), Uma sociedade constituída mediante um pacto só é sociedade no sentido que este vocábulo tem para o direito civil, isto é, uma associação. Mas uma associação não pode existir como realidade jurídica se não surge sobre uma área onde previamente tem vigência certo direito civil. Outra coisa são puras fantasmagorias. Essa área onde a sociedade ajustada surge é outra sociedade preexistente, que não é obra de nenhum pacto, mas é o resultado de uma convivência inveterada. Esta autêntica sociedade e não associação só se parece à outra no nome. Daí o calembour.
Sem que eu pretenda resolver agora com atitude dogmática, de passagem e avoadamente, as questões mais intrincadas da filosofia do direito e da sociologia, atrevo-me a insinuar que caminha seguro quem exija, quando alguém lhe fale de um fato jurídico, que lhe indique a sociedade portadora desse direito e prévia a ele. No vazio social não há nem nasce direito. Este requer como substrato uma unidade de convivência humana, tal como o uso e o costume, dos quais o direito é irmão menor, mas mais enérgico. A tal ponto é assim, que não existe sintoma mais seguro para descobrir a existência de uma autêntica sociedade que a existência de um fato jurídico. Turva a evidência disto a confusão habitual que padecemos ao crer que toda autêntica sociedade tem forçosamente de possuir um Estado autêntico. Mas é bem claro que o aparelho estatal não se produz dentro de uma sociedade, mas num estádio muito avançado de sua evolução. Talvez o Estado proporciona ao direito certas perfeições, mas é necessário enunciar ante leitores ingleses que o direito existe sem o Estado e sua atividade estatutária.
Quando falamos das nações tendemos a representá-las como sociedades separadas e fechadas em si mesmas. Mas isto é uma abstração que deixa de fora o mais importante da realidade. Sem dúvida, a convivência ou trato dos ingleses entre si é muito mais intensa que, por exemplo, a convivência entre os homens da Inglaterra e os homens da Alemanha ou da França. Mas é evidente que existe uma convivência geral dos europeus entre si, e, portanto, que a Europa é uma sociedade, velha de muitos séculos e que tem uma história própria como possa tê-la cada nação particular. Esta sociedade geral possui um grau ou índice de socialização menos elevado que o alcançado desde o século XVI pelas sociedades particulares chamadas nações européias. Diga-se, pois, que a Europa é uma sociedade mais tênue que a Inglaterra ou que a França, mas não se ignore seu efetivo caráter de sociedade. A coisa importa superlativamente, porque as únicas possibilidades de paz que existem dependem de que exista ou não efetivamente uma sociedade européia. Se a Europa é só uma pluralidade de nações, podem os pacíficos despedir-se rapidamente de suas esperanças(93). Entre sociedades independentes não pode existir verdadeira paz. O que costumamos chamar assim não é mais do que um estado de guerra mínima ou latente.
Como os fenômenos corporais são o idioma e o hieróglifo, mercê ao qual pensamos as realidades morais, não é preciso dizer o dano que engendra uma errônea imagem visual convertida em hábito de nossa mente. Por esta razão censuro essa figura da Europa em que esta aparece constituída por uma multidão de esferas — as nações — que só mantêm alguns contatos externos. Esta metáfora de jogador de bilhar deveria desesperar ao bom pacifista, porque, como o bilhar, não nos promete mais eventualidade que a “carambola”. Corrijamo-la, pois. Em vez de nos afigurarmos as nações européias como uma série de sociedades livres, imaginemos uma sociedade única — a Europa —, dentro da qual se produziram grumos ou núcleos de condensação mais intensa. Esta figura corresponde muito mais aproximadamente que a outra ao que, com efeito, foi a convivência ocidental. Não se trata com isso de desenhar um ideal, mas de dar expressão gráfica ao que realmente foi desde a sua iniciação, após a morte do período romano, essa convivência(94).
A convivência, tão somente, não significa sociedade, viver em sociedade ou formar parte de uma sociedade. Convivência implica só relações entre indivíduos. Mas não pode haver convivência duradoura e estável sem que se produza automaticamente o fenômeno social por excelência, que são os usos — usos intelectuais ou “opinião pública”, usos de técnica vital ou “costumes”, usos que dirigem a conduta ou “moral”, usos que a imperam ou “direito” —. O caráter geral do uso consiste em ser uma norma do comportamento — intelectual, sentimental ou físico que se impõe aos indivíduos, queiram ou não queiram. O indivíduo poderá, por sua conta e risco, resistir ao uso; mas precisamente este esforço de resistência demonstra melhor que nada a realidade coactiva do uso, o que chamaremos sua “vigência”. Pois bem: uma sociedade é um conjunto de indivíduos que mutuamente se sabem submetidos à vigência de certas opiniões e avaliações. Segundo isto, não há sociedade sem a vigência efetiva de certa concepção do mundo, a qual atua como uma última instância a que se pode recorrer em casos de conflito.
A Europa tem sido sempre um âmbito social unitário, sem fronteiras absolutas nem descontinuidades, porque jamais faltou esse fundo ou tesouro de “vigências coletivas” — convicções comuns e tábuas de valores — dotadas dessa força coactiva tão estranha em que consiste “o social”. Não seria nada exagerado dizer que a sociedade européia existe antes que as nações européias, e que estas nasceram e se desenvolveram no regaço maternal daquela. Os ingleses podem ver isto com alguma clareza no livro do Dawson: The Making of Europe. Introduction to the History of European Society.
Entretanto, o livro de Dawson é insuficiente. Está escrito por uma mente alerta e ágil, mas que não se liberou de modo completo do arsenal de conceitos tradicionais na historiografia, conceitos mais ou menos melodramáticos e míticos que ocultam, em vez de revelar, as realidades históricas. Poucas coisas contribuiriam a apaziguar o horizonte como uma história da sociedade européia, entendida como acabo de apontar; uma história realista, sem “idealizações”. Mas este assunto nunca foi visto, porque as formas tradicionais da ótica histórica tapavam esta realidade unitária que chamei, sensu stricto, “sociedade européia” e a suplantavam por um plural — as nações —, como, por exemplo, aparece no título de Ranke: História dos povos germânicos e românicos. A verdade é que esses povos em plural flutuam como ludiões dentro do único espaço social que é a Europa: “nele se movem, vivem e são”. A história que eu postulo nos contaria as vicissitudes desse espaço humano e nos faria ver como seu índice de socialização variou; como, em ocasiões, desceu gravemente fazendo temer a cisão radical da Europa e, sobretudo, como a dose de paz em cada época esteve na razão direta desse índice. Este último aspecto é o que mais nos importa para as aflições atuais.
A realidade histórica ou, mais vulgarmente dito, o que sucede no mundo humano, não é um amontoado de fatos soltos, mas que possui uma estrita anatomia e uma clara estrutura. Mais: talvez é o único no Universo que tem por si mesmo estrutura, organização. Tudo o mais por exemplo, os fenômenos físicos — carece dela. São fatos soltos aos quais o físico tem que inventar uma estrutura imaginária. Mas essa anatomia da realidade histórica necessita ser estudada. Os editoriais dos jornais e os discursos de ministros e demagogos não nos dão notícia dela. Quando a estudamos bem, é possível diagnosticar com certa precisão o lugar ou estrato do corpo histórico onde a enfermidade radica. Havia no mundo uma amplíssima e potente sociedade — a sociedade européia —. A foro de sociedade, estava constituída por uma ordem básica devido à eficiência de certas instâncias últimas — o credo intelectual e moral da Europa —. Esta ordem que, por baixo de todas as suas superficiais desordens, atuava nas camadas profundas do Ocidente, irradiaram durante gerações sobre o resto do planeta, e pôs nele, em maior ou menor escala, toda a ordem de que esse resto era capaz.
Pois bem: nada hoje deveria importar tanto ao pacifista como averiguar que é o que acontece nessas camadas profundas do corpo ocidental, qual é seu índice atual de socialização, por que se volatilizou o sistema tradicional de “vigências coletivas”, e se, a despeito das aparências, conserva alguma destas latente vivacidade. Porque o direito é operação espontânea da sociedade, mas a sociedade é convivência sob instâncias. Poderia acontecer que hoje em dia faltassem essas instâncias em uma proporção sem exemplo, ao longo de toda a história européia. Neste caso a enfermidade seria a mais grave que sofreu o Ocidente desde Diocleciano ou os Severos. Isso não quer dizer que seja incurável; quer só dizer que fora necessário chamar médicos ótimos e não qualquer transeunte. Quer dizer, sobretudo, que não se pode esperar remédio algum da Sociedade das Nações, conforme foi e continua sendo, instituto anti-histórico que um maldizente poderia supor inventado em um clube cujos membros principais fossem M. Pickwick, M. Homais e congêneres.
O anterior diagnóstico, independente de que seja acertado ou errôneo, parecerá abstruso. E o é, com efeito. Eu o lamento, mas não está em mim evitá-lo. Também os diagnósticos mais rigorosos da medicina atual são abstrusos. Que profano, ao ler um fino exame de sangue, vê ali definida uma terrível enfermidade? Esforcei-me sempre em combater o esoterismo, que é por si um dos males do nosso tempo. Mas não forjemos ilusões. Há um século, por causas profundas, e, em parte, respeitáveis, as ciências derivam irresistivelmente em direção esotérica. É uma das muitas coisas cuja grave importância os políticos não souberam ver, embora achacados do vício oposto, que é um excessivo exoterismo. Por enquanto não há senão aceitar a situação e reconhecer que o conhecimento distanciou-se radicalmente das conversações de beer-table.
A Europa está hoje dissocializada, ou, o que é o mesmo, faltam princípios de convivência que sejam vigentes e a que caiba recorrer. Uma parte da Europa esforça-se em fazer triunfar uns princípios que considera “novos”, a outra esforça-se em defender os tradicionais. Ora bem, esta é a melhor prova de que nem uns nem os outros são vigentes e perderam ou não alcançaram a virtude de instâncias. Quando uma opinião ou norma chegou a ser de verdade “vigência coletiva”, não recebe seu vigor do esforço senão impô-la ou sustentá-la empregam grupos determinados dentro da sociedade. Pelo contrário: todo grupo determinado procura sua máxima fortaleza reclamando para si essas vigências. No momento em que é preciso lutar em prol de um princípio, quer dizer que este não é ainda ou deixou de ser vigente. Vice-versa, quando é com plenitude vigente, há somente que usá-lo, referir-se a ele, amparar-se nele, como se faz com a lei de gravidade. As vigências operam seu mágico influxo sem polêmica nem agitação, quietas e jacentes no fundo das almas, às vezes sem que estas se apercebam de que estão dominadas por elas, e às vezes crendo inclusive que combatem contra elas. O fenômeno é surpreendente, mas é inquestionável e constitui o fato fundamental da sociedade. As vigências são o autêntico poder social, anônimo, impessoal, independente de todo grupo ou indivíduo determinado.
Mas, inversamente, quando uma idéia perdeu esse caráter de instância coletiva, produz uma impressão entre cômica e inquietante ver que alguém considera suficiente aludir a ela para se sentir justificado ou fortalecido. Ora bem: isto acontece ainda hoje, com excessiva freqüência, na Inglaterra e na América do Norte(95). Ao adverti-lo, ficamos perplexos. Esta conduta significa erro, ou uma ficção deliberada? É inocência ou é tática? Não sabemos a que nos ater, porque no homem anglo-saxão a função de se expressar, de “dizer”, talvez represente um papel diferente que nos demais povos europeus. Mas, seja um ou outro o sentido desse comportamento, temo que seja funesto para o pacifismo. Mais ainda, teria de ver se não foi um dos fatores que contribuíram ao desprestígio das vigências européias o peculiar uso que delas tem feito a Inglaterra. A questão deverá algum dia ser estudada a fundo, mas não agora nem por mim(96).
Isso é que o pacifista precisa compreender, de que se encontra em um mundo onde falta ou está muito debilitado o requisito principal para a organização da paz. No trato de uns povos com outros não cabe recorrer a instâncias superiores, porque não as há. A atmosfera de sociabilidade em que flutuavam e que, interposta, como um éter benéfico entre eles, lhes permita comunicar suavemente, aniquilou-se. Ficam, pois, separados e frente a frente. Enquanto, há trinta anos, as fronteiras eram para o viajor pouco mais que coluros imaginários, todos vimos como iam rapidamente endurecendo-se, convertendo-se em matéria córnea, que anulava a porosidade das nações e as tornava herméticas. A pura verdade é que, há anos, a Europa se encontra em estado de guerra, em um estado de guerra substancialmente mais radical que em todo o seu passado. E a origem que atribui a esta situação parece-me confirmado pelo fato de que não somente existe uma guerra virtual entre os povos, mas dentro de cada povo há, declarada ou preparando-se, uma grave discórdia. É frívolo interpretar os regimes autoritários do dia como engendrados pelo capricho ou pela intriga. Bem claro está que são manifestações iniludíveis do estado de guerra civil em que quase todos os países se encontram hoje. Agora se vê como a coesão interna de cada nação se nutria em boa parte das vigências coletivas européias.
Esta debilitação subitânea da comunidade entre os povos do Ocidente eqüivale a um enorme distanciamento moral. O trato entre eles é dificílimo. Os princípios comuns constituíam uma espécie de linguagem que lhes permitia entender-se. Não era, pois, tão necessário que cada povo conhecesse bem a singulatim a cada um dos demais. Mas com isto frisamos a linha de nossas considerações iniciais.
Porque esse distanciamento moral se complica perigosamente com outro fenômeno oposto, que é o que inspirou de modo concreto todo este artigo. Refiro-me a um gigantesco fato, cujas características convém precisar um pouco.
Há quase meio século fala-se de que os novos meios de comunicação — deslocamento de pessoas, transferência de produtos e transmissão de notícias — aproximaram os povos e unificaram a vida no planeta. Mas como sempre acontece, essa opinião era um exagero. Quase sempre as coisas humanas começam por ser lendas, e só mais tarde se convertem em realidades. Neste caso, está visto claramente hoje que se tratava só de uma entusiasta antecipação. Alguns dos meios que haviam de tornar efetiva essa aproximação existiam já em princípio — vapores, ferrocarris, telégrafo, telefone —. Mas nem se havia ainda aperfeiçoado sua invenção nem se haviam posto amplamente em serviço, nem sequer se haviam inventado os mais decisivos, como são o motor a explosão e a rádio-comunicação. O século XIX, emocionado ante as primeiras grandes conquistas da técnica científica, apressou-se a emitir torrentes de retórica sobre os “avanços”, o “progresso material”, etc. De tal sorte que, afinal, as almas começaram a se cansar desses lugares comuns, embora os aceitassem como verídicos, isto é, ainda que haviam chegado a persuadir-se de que o século XIX havia, com efeito, realizado já o que aquela fraseologia proclamava. Isto ocasionou um curioso erro de ótica histórica que impede a compreensão de muitos conflitos atuais. Convencido o homem médio de que a centúria anterior era a que havia dado cume aos grandes empreendimentos, não se apercebeu de que a época sem par dos inventos técnicos e de sua realização foram os últimos quarenta anos. O número e importância dos descobrimentos, e o ritmo de seu efetivo emprego nessa brevíssima etapa, supera em muito todo o pretérito humano tomado em conjunto. Quer dizer, que a efetiva transformação técnica do mundo é um fato recentíssimo, e que essa mudança está produzindo agora — agora e não de há um século — suas conseqüências radicais(97). E isso em todas as ordens. Não poucos dos profundos desajustes na economia atual advêm da súbita mudança que causaram na produção estes inventos, mudança à qual não teve tempo de se adaptar o organismo econômico. Que uma só fábrica seja capaz de produzir todas as lâmpadas elétricas ou todos os sapatos de que necessita meio continente é um fato demasiado afortunado para não ser, entretanto, monstruoso. Isso mesmo aconteceu com as comunicações. Sem tardança e de verdade, nestes últimos anos recebe cada povo, a tempo e hora, tal quantidade de notícias e tão recentes sobre o que se passa nos outros, que provocou nele a ilusão de que, com efeito, está em os outros povos ou em sua absoluta imediação. Dito de outro modo: para os efeitos da vida pública universal, o tamanho do mundo subitamente se contraiu, reduziu-se. Os povos se encontram de improviso dinamicamente mais próximos. E isto acontece precisamente na hora em que os povos europeus mais se distanciaram moralmente.
Não adverte o leitor, de sopetão, o perigoso de semelhante conjuntura? Sabido é que o ser humano não pode, sem mais nem menos, aproximar-se a outro ser humano. Como vimos de uma das épocas históricas em que a aproximação era aparentemente mais fácil, tendemos a esquecer que sempre foram mister grandes precauções para aproximar-se dessa fera com veleidades de arcanjo que costuma ser o homem. Por isso corre ao longo de toda a história a evolução da técnica da aproximação, cuja parte mais notória e visível é a saudação. Talvez, com certas reservas, pudesse dizer-se que as formas da saudação são função da densidade de povoação, portanto, da distância normal a que estão uns homens dos outros. No Saara cada tuaregue possui um raio espacial que alcança bastantes milhas. A saudação do tuaregue começa a cem jardas e dura três quartos de hora. Na China e no Japão, povos pululantes, onde os homens vivem, por assim dizer, empilhados, nariz contra nariz, em compacto formigueiro, a saudação e o trato complicaram-se na mais sutil e complexa técnica de cortesia; tão refinada, que ao extremo oriental lhe produz o europeu a impressão de ser um grosseiro e insolente, com quem, a rigor, só o combate é possível. Nessa proximidade superlativa tudo é feridor e perigoso: até os pronomes pessoais se convertem em impertinências. Por isso o japonês chegou a exclui-los de seu idioma, e em vez de “tu” dirá algo assim como “a maravilha presente”, e em lugar de “eu” fará um salamaleque e dirá “a miséria que há aqui”.
Se uma simples mudança da distância entre dois homens comporta semelhantes riscos, imaginem-se os perigos que engendra sua súbita aproximação entre os povos, sobrevinda nos últimos quinze ou vinte anos. Eu creio que não se reparou devidamente neste novo fator e que urge prestar-lhe atenção.
Tem se falado muito estes meses da intervenção ou não-intervenção de uns Estados na vida de outros países. Mas não se falou, ao menos com suficiente ênfase, da intervenção que exerce hoje de fato a opinião de umas nações na vida de outras, às vezes mui remotas. E esta é hoje, a meu juízo, muito mais grave que aquela. Porque o Estado é, afinal das contas, um órgão relativamente “racionalizado” dentro de cada sociedade. Suas atuações são deliberadas e dosificadas pela vontade dos indivíduos determinados — os homens políticos —, aos quais não pode faltar um mínimo de reflexão e sentido de responsabilidade. Mas a opinião de todo um povo ou de grandes grupos sociais é um poder elementar, irreflexivo e irresponsável, que ademais oferece, indefeso, sua inércia ao influxo de todas as intrigas. Isso não obstante, a opinião pública sensu stricto de um país, quando opina sobre a vida de seu próprio país tem sempre “razão” no sentido de que nunca é incongruente com as realidades que ajuíza. A causa disso é óbvia. As realidades que ajuíza são o que efetivamente passou o mesmo sujeito que as ajuíza. O povo inglês, ao opinar sobre as grandes questões que afetam sua nação, opina sobre fatos que lhe aconteceram, que experimentou em sua própria carne e em sua própria alma, que viveu e, em suma, são ele mesmo. Como vai, no essencial, equivocar-se? A interpretação doutrinal desses fatos poderá dar oportunidade às maiores divergências teóricas, e estas suscitar opiniões partidistas sustentadas por grupos particulares; mas, por baixo dessas discrepâncias “teóricas”, os fatos insofisticáveis, gozados ou sofridos pela nação, precipitam nesta uma “verdade” vital, que é a realidade histórica mesma e tem um valor e uma força superiores a todas as doutrinas. Esta “razão” ou “verdade” viventes, que, como atributo, temos de reconhecer a toda autêntica “opinião pública” consiste, como se vê, em sua congruência. Dito com outras palavras obtemos esta proposição: é maximamente improvável que em assuntos graves de seu país a “opinião pública” careça da informação mínima necessária para que seu juízo não corresponda organicamente à realidade julgada. Padecerá erros secundários e de detalhe, mas tomada com atitude microscópica não é verossímil que seja uma reação incongruente com a realidade inorgânica a respeito dela e, por conseguinte, tóxica.
Estritamente o contrário acontece quando se trata da opinião de um país sobre o que acontece em outro. É maximamente provável que essa opinião surta em alto grau incongruente. O povo A pensa e opina, lá do fundo de suas próprias experiências vitais, que são diferentes das do povo B. Pode levar isto a outra coisa que não o jogo dos despropósitos? Eis aqui, pois, a primeira causa de uma inevitável incongruência, que só poderia contrariar mediante uma coisa muito difícil, a saber: uma informação suficiente. Como aqui falta a “verdade” do vivido, haveria que substitui-la por uma verdade de conhecimento.
Há um século não importava que o povo dos Estados Unidos se permitisse ter uma opinião sobre o que acontecia na Grécia, e que essa opinião estivesse mal informada. Enquanto o Governo americano não atuasse, essa opinião era inoperante sobre os destinos da Grécia. O mundo era então “maior”, menos compacto e elástico. A distância dinâmica entre povo e povo é tão grande, que, ao atravessá-la, a opinião incongruente perdia toxidez(98). Mas, nestes últimos anos, os povos entraram numa extrema proximidade dinâmica, e a opinião, por exemplo, de grandes grupos sociais norte-americanos está intervindo, de fato — diretamente como tal opinião, e não seu Governo — na guerra civil espanhola. O mesmo digo da opinião inglesa.
Nada mais longe de minha pretensão que toda intenção de podar o arbítrio a ingleses e americanos, discutindo seu “direito” a opinar quanto estimem sobre quanto lhes apraza. Não é questão de “direito” ou da desprezível fraseologia que sói amparar-se nesse título: é uma questão, simplesmente, de bom sentido. Sustenta que a ingerência da opinião pública de uns países na vida dos outros é hoje um fator impertinente, venenoso e gerador de paixões bélicas, porque essa opinião não está ainda regida por uma técnica adequada à troca de distância entre os povos. Terá o inglês ou o americano todo o direito que entenda para opinar sobre o que passou e deve acontecer na Espanha, mas esse direito é uma injuria e não se aceita uma obrigação correspondente: a de estar bem informado sobre a realidade da guerra civil espanhola, cujo primeiro e mais substancial capítulo é sua origem, as causas que a produziram.
Mas aqui é onde os meios atuais de comunicação produzem seus efeitos; desde logo, daninhos. Porque a quantidade de notícias que constantemente recebe um povo sobre o que sucede em outro é enorme. Como será fácil persuadir ao homem inglês de que não está informado sobre o fenômeno histórico que é a guerra civil espanhola ou outra emergência análoga? Sabe que os jornais ingleses gastam somas fortíssimas em sustentar correspondentes dentro de todos os países. Sabe que, ainda que entre esses correspondentes não poucos exercem seu ofício de maneira apaixonada e partidista, há muitos outros cuja imparcialidade é inquestionável e cuja exatidão em transmitir dados exatos não é fácil de superar. Tudo isto é verdade, e porque o é, é perigoso(99). Pois é o caso que se o homem inglês rememora num lance d’olhos encontrará que aconteceram no mundo coisas de grave importância para a Inglaterra, e que a surpreenderam. Como na história nada de algum relevo acontece de repente, não seria excessiva suspicácia no homem inglês admitir a hipótese de que está muito menos informado do que supõe crer, ou que essa informação tão copiosa se compõe de dados externos, sem fina perspectiva, entre os quais escapole o mais autenticamente real da realidade. O exemplo mais claro disto, por suas formidáveis dimensões, é o fato gigantesco que serviu a este artigo de ponto de partida: o fracasso do pacifismo inglês, de vinte anos de política internacional inglesa. Dito fracasso declara estrondosamente que o povo inglês — apesar de seus inúmeros correspondentes — sabia pouco do que realmente estava acontecendo nos demais povos.
Representemo-nos esquematicamente, a fim de entendê-la bem, a complicação do processo que tem lugar. As notícias que o povo A recebe do povo B suscitam nele um estado de opinião — seja de amplos grupos ou de todo o país —. Mas como essas notícias chegam hoje com superlativa rapidez, abundância e freqüência, essa opinião não se mantém num plano mais ou menos “contemplativo”, como há um século, mas, irremediavelmente, sobrecarrega-se de intenções ativas e adota imediatamente um caráter de intervenção. Sempre há, além disso, intrigantes que, por motivos particulares, se ocupam deliberadamente em fustigá-la. Vice-versa, o povo B recebe também com abundância, rapidez e freqüência notícias dessa opinião remota, de seu nervosismo, de seus movimentos e tem a impressão de que o estranho, com intolerável impertinência, invadiu seu país, que está ali, quase presente, atuando. Mas esta reação de aborrecimento multiplica-se até à exasperação porque o povo B adverte ao mesmo tempo a incongruência entre a opinião A e o que em B, efetivamente, aconteceu. Já é irritante que o próximo pretenda intervir em nossa vida, mas se além disso revela ignorar completamente nossa vida, sua audácia provoca em nós frenesi.
Enquanto em Madri os comunistas e seus afins obrigavam, sob as mais graves ameaças, escritores e professores a assinar manifestos, a falar nas rádios, etc., comodamente sentados em seus escritórios ou em seus clubes, isentos de toda pressão, alguns dos principais escritores ingleses assinavam outro manifesto onde se garantia que esses comunistas e seus afins eram os defensores da liberdade. Evitemos os espaventos e as frases, mas permita-se-me convidar o leitor inglês a que imagine qual pode ser meu primeiro movimento ante semelhante fato, que oscila entre o grotesco e o trágico. Porque não é fácil encontrar maior incongruência. Felizmente, cuidei durante toda minha vida de montar em meu aparelho psico-físico um sistema muito forte de inibições e de freios — talvez a civilização não seja outra que essa montagem — e, além disso, como dizia Dante:
che saetta previsa vien più lenta,
não contribuiu a debilitar minha surpresa. Há muitos anos que me ocupo em fazer notar a frivolidade e a irresponsabilidade freqüentes no intelectual europeu, que denunciei como um fator de primeira grandeza entre as causas da presente desordem. Mas esta moderação que por sorte posso ostentar, não é “natural”. O natural seria que eu estivesse agora em guerra apaixonada contra esses escritores ingleses. Por isso é um exemplo concreto do mecanismo belicoso que criou o mútuo desconhecimento entre os povos.
Há uns dias, Alberto Einstein acreditou ter “direito” a opinar sobre a guerra civil espanhola e tomar possessão ante ela. Ora bem, Alberto Einstein usufrui uma ignorância radical sobre o que acontece na Espanha agora, há séculos e sempre. O espírito que o leva a esta insolente intervenção é o mesmo que há muito tempo vem causando o desprestígio universal do homem intelectual, que, por sua vez, faz com que o mundo vá à deriva, falto de pouvoir spirituel.
Note-se que falo da guerra civil espanhola como um exemplo entre muitos, o exemplo que mais exatamente me consta, e me reduzo a procurar que o leitor inglês admita por um momento a possibilidade de que não está bem informado, a despeito de suas copiosas “informações”. Talvez isto o mova a corrigir seu insuficiente conhecimento das demais nações, suposto o mais decisivo para que no mundo volte a reinar uma ordem.
Mas eis aqui outro exemplo mais geral. Há pouco, o Congresso do Partido Laborista rechaçou, por 2.100.000 votos contra 300.000, a união com os comunistas, quer dizer, a formação na Inglaterra de uma “Frente Popular”. Mas esse mesmo partido e a massa de opinião que pastoreia ocupam-se em favorecer e fomentar, do modo mais concreto e eficaz, a “Frente Popular” que se formou em outros países. Deixo intacta a questão de se uma “Frente Popular” é uma coisa benéfica ou catastrófica, e me reduzo a confrontar dois comportamentos de um mesmo grupo de opinião, e a sublinhar sua nociva incongruência. A diferença numérica na votação é daquelas diferenças quantitativas que, segundo Hegel, se convertem automaticamente em diferenças qualitativas. Essas cifras mostram que, para o bloco do Partido Laborista, a união com o comunismo, a “Frente Popular”, não é uma questão de mais ou de menos, mas que a considerariam como uma doença terrível para a nação inglesa. Mas é o caso que, ao mesmo tempo, esse mesmo grupo de opinião se ocupa em cultivar esse mesmo micróbio em outros países, e isto é uma intervenção, mais ainda, poderia dizer-se que é uma intervenção guerreira, posto que tem não poucos caracteres da guerra química. Enquanto se produzam fenômenos como este, todas as esperanças de que a paz reine no mundo são, repito, penas de amor perdidas. Porque essa incongruente conduta, essa duplicidade da opinião laborista só irritação pode inspirar fora da Inglaterra.
E me pareceria vão objetar que essas intervenções irritam uma parte do povo que as sofre, mas comprazem à outra. Esta é uma observação demasiado óbvia para que seja verídica. A parte do país favorecida momentaneamente pela opinião estrangeira procurará, claro está, beneficiar-se dessa intervenção. Outra coisa seria pura tolice. Mas por baixo dessa aparente e transitória gratidão corre o processo real do vivido pelo país inteiro. A nação acaba por estabilizar-se em “sua verdade”, no que efetivamente aconteceu, e ambos os partidos hostis coincidem nela, declarando-o ou não. Daí que acabam por se unir contra a incongruência da opinião estrangeira. Esta só pode esperar agradecimento perdurável na medida em que, por sorte, acerte ou seja menos incongruente com essa vivente “verdade”. Toda realidade desconhecida prepara sua vingança. Não outra é a origem das catástrofes na história humana. Por isso será funesta toda tentativa de desconhecer que um povo é, como uma pessoa, embora de outro modo e por outras razões, uma intimidade — portanto, um sistema de segredos que não pode ser descoberto, à-toa, de fora —. Não pense o leitor em nada vago nem místico. Tome qualquer função coletiva, por exemplo, a língua. Bem notório é que surte praticamente impossível conhecer intimamente um idioma estrangeiro por muito que o estudemos. E não será uma insensatez crer coisa fácil o conhecimento da realidade política de um país estranho?
Sustento, pois, que a nova estrutura do mundo converte os movimentos da opinião de um país sobre o que acontece em outro — movimentos que antes eram quase inócuos — em autênticas incursões. Isto bastaria para explicar por que, quando as nações européias pareciam mais próximas a uma superior unificação, começaram repentinamente a fechar-se dentro de si mesmas, a hermetizar suas existências, umas frente às outras, e a converter-se as fronteiras em escafandros isoladores.
Eu creio que há aqui um novo problema de primeira ordem para a disciplina internacional, que corre paralelo ao do direito, versado mais acima. Como antes postulávamos uma nova técnica jurídica, aqui reclamamos uma nova técnica de trato entre os povos. Na Inglaterra o indivíduo aprendeu a guardar certas cautelas quando se permite opinar sobre outro indivíduo. Há a lei do libelo e há a formidável ditadura das “boas maneiras”. Não há razão para que não sofra análoga regulamentação a opinião de um povo sobre outro.
Claro que isto supõe estar de acordo sobre um princípio básico. Sobre este: que os povos, que as nações existem. Ora bem: o velho e barato “internacionalismo”, que engendrou as presentes angústias, pensava, no fundo, o oposto. Nenhuma de suas doutrinas ou atuações é compreensível se não se descobre em sua raiz o desconhecimento do que é uma nação e de que isso que são as nações constitui uma formidável realidade situada no mundo e com a qual há que contar. Era um curioso internacionalismo aquele que em suas contas esquecia sempre o detalhe de que há nações(100).
Talvez o leitor reclame agora uma doutrina positiva. Não tenho inconveniente em declarar qual é a minha, embora me exponha a todos os riscos de uma enunciação esquemática.
No livro The Revolt of the Masses(101), que foi bastante lido em língua inglesa, propugno e anuncio o advento de uma forma mais avançada de convivência européia, um passo à frente na organização jurídica e política de sua unidade. Esta idéia européia é de signo inverso àquele abstruso internacionalismo. A Europa não é, não será, a inter-nação, porque isso significa, em claras noções de história, um oco, um vazio e nada. A Europa será a ultra-nação. A mesma inspiração que formou as nações do Ocidente continua atuando no subsolo com a lenta e silente proliferação dos corais. O extravio metódico que representa o internacionalismo impediu ver que só através de uma etapa de nacionalismo exacerbados se pode chegar à unidade concreta e cheia da Europa. Uma nova forma de vida não consegue instalar-se no planeta até que a anterior e tradicional não se tenha ensaiado em seu modo extremo. As nações européias chegam agora a seus pontos cruciais e a cabeçada será a nova integração da Europa. Porque é disso que se trata. Não de laminar as nações, mas de integrá-las, deixando ao Ocidente todo seu rico relevo. Nesta data, como acabo de insinuar, a sociedade européia parece volatilizada. Mas seria um erro crer que isto significa seu desaparecimento ou definitiva dispersão. O estado atual de anarquia e superlativa dissociação na sociedade européia é uma prova mais da realidade que esta possui. Porque se isso acontece na Europa é porque sofre uma crise de sua fé comum, da fé européia, das vigências em que sua socialização consiste. A enfermidade por que atravessa é, pois, comum. Não se trata de que a Europa está enferma, mas que gozem de plena saúde estas ou as outras nações, e que, portanto, seja provável o desaparecimento da Europa e sua substituição por outra forma de realidade histórica — por exemplo: as nações soltas ou uma Europa oriental dissociada até à raiz de uma Europa ocidental. Nada disto se oferece no horizonte —, mas como é comum e européia a enfermidade, sê-lo-á também o restabelecimento. Desde já, virá uma articulação da Europa em duas formas diferentes de vida pública: a forma de um novo liberalismo e a forma que, com um nome impróprio, se costuma chamar de “totalitária”. Os povos menores adotarão figuras de transição e intermediárias. Isto salvará a Europa. Mais uma vez ficará patente que toda forma de vida precisa de sua antagonista. O “totalitarismo” salvará o “liberalismo”, destilando sobre ele, depurando-o, e graças a isso veremos dentro em breve um novo liberalismo temperar os regimes autoritários. Este equilíbrio mecânico e provisório permitirá uma nova etapa de mínimo repouso, imprescindível para que volte a brotar, no fundo de bosque que as almas possuem, o manancial de uma nova fé. Esta é o autêntico poder de criação histórica, mas não mana no meio da alteração, e sim no recato do ensinamento.
Paris, dezembro, 1937.
DINÂMICA DO TEMPO
AS VITRINAS MANDAM
Dizem que o dinheiro é o único poder que atua sobre a vida social. Se olhamos a realidade com uma ótica de retícula fina, a proposição é mais falsa que verídica. Mas tem também seus direitos a visão de retícula grossa, e então não há inconveniente em aceitar essa terrível sentença.
Entretanto, teríamos de lhe tirar e lhe pôr alguns ingredientes para que a idéia fosse luminosa. Pois acontece que em muitas épocas históricas se falou o que agora se fala, e isto convida a suspeitar ou que nunca foi verdade ou que o tem sido em sentidos mui diversos. Porque é estranho que tempos sobremodo diferentes coincidam em ponto tão principal. Em geral, não se deve fazer muito caso do que as épocas passadas disseram de si mesmas, porque — é forçoso declará-lo — eram mui pouco inteligentes a respeito de si. Esta perspicácia sobre o próprio modo de ser, esta clarividência para o próprio destino é coisa relativamente nova na história.
No século VII antes de Cristo corria já por todo o Oriente do Mediterrâneo o apotegma famoso: Chrémata, chrémata aner! “Seu dinheiro, seu dinheiro é o homem!” No tempo de César dizia-se o mesmo, no século XIV o põe em circulação nosso turbulento tonsurado de Hita, e no XVII, Gôngora faz disso letras. Que conseqüência tiramos desta monótona insistência? Que o dinheiro, desde que se inventou, é uma grande força social? Isso não era necessário sublinhar: seria uma calinada. Em todas estas lamentações insinua-se algo mais. Quem as usa expressa com elas, pelo menos, sua surpresa de que o dinheiro tenha mais força da que devia ter. E de onde nos vem essa convicção, segundo a qual o dinheiro devia ter menos influência da que efetivamente possui? Como não nos habituamos ao fato constante depois de tantos e tantos séculos, e que sempre nos colhe de surpresa?
É, talvez, o único poder social que ao ser reconhecido nos repugna. A própria força bruta que habitualmente nos indigna acha em nós um eco último de simpatia e estima. Incita-nos a rechaçá-la criando uma força paralela, mas não nos inspira asco. Dir-se-ia que nos sublevam estes ou os outros efeitos da violência; porém ela mesma nos parece um sintoma de saúde, um magnífico atributo do ser vivente, e compreendemos que o grego a divinizasse em Hércules.
Eu creio que esta surpresa, sempre renovada, ante o poder do dinheiro encerra uma porção de problemas curiosos ainda não aclarados. As épocas em que mais autenticamente e com mais dolentes gritos se lamentou esse poderio, são, entre si, muito diferentes. Entretanto, pode descobrir-se nelas uma nota comum: são sempre épocas de crise moral, tempos muito transitórios entre duas etapas. Os princípios sociais que regeram uma idade perderam seu vigor e ainda não amadureceram os que vão imperar na seguinte. Como? Será que o dinheiro não possui, a rigor, o poder que, deplorando-o, se lhe atribui e que seu influxo só é decisivo quando os demais poderes organizadores da sociedade se retiraram? Se assim fosse entenderíamos um pouco melhor essa estranha mescla de submissão e de asco que ante ele sente a humanidade, essa surpresa e essa insinuação perene de que o poder exercido não lhe corresponde. Pelo visto, não o deve ter porque não é seu, mas usurpado às outras forças ausentes.
A questão é sobretudo complicada e não pode ser resolvida em dois tempos. Só como uma possibilidade de interpretação vai tudo isto que digo. O importante é evitar a concepção econômica da história, que alheia toda a graça do problema, fazendo da história inteira uma monótona conseqüência do dinheiro. Porque é demasiado evidente que em muitas épocas humanas o poder social do dinheiro foi muito reduzido e outras energias alheias ao econômico informaram a convivência humana. Se hoje os judeus possuem o dinheiro e são os donos do mundo, também o possuíam na Idade Média e eram o excremento da Europa. Não se diga que o dinheiro não era a forma principal da riqueza, da realidade econômica nos tempos feudais. Porque, ainda sendo isto verdade e calibrando na devida cifra o peso puramente econômico do dinheiro na dinâmica da economia medieval, não há correspondência entre a riqueza daqueles judeus e sua posição social. Os marxistas, para adubar as coisas segundo a pauta de sua tese, menosprezaram excessivamente a importância da moeda na etapa pré-capitalista da evolução econômica, e foi necessário depois refazer a história econômica daquela idade para mostrar a importância efetiva que nos Estados medievais tinha o dinheiro hebreu.
Ninguém, nem o mais idealista, pode duvidar da importância que o dinheiro tem na história, mas talvez possa duvidar-se de que seja um poder primário e substantivo. Talvez o poder social não depende normalmente do dinheiro, mas, vice-versa, se reparte segundo se acha repartido o poder social, e vai para o guerreiro na sociedade belicosa, mas vai para o sacerdote na teocrática. O sintoma de um poder social autêntico é que cria jerarquias, que seja ele quem destaca o indivíduo no corpo público. Pois bem: no século XVI, por muito dinheiro que tivesse um judeu, continuava sendo um infra-homem, e no tempo de César os “cavaleiros”, que eram os mais ricos como classe, não ascendiam ao cume da sociedade.
Parece o mais verossímil que seja o dinheiro um fator social secundário, incapaz por si mesmo de inspirar a grande arquitetura da sociedade. É uma das forças principais que atuam no equilíbrio de todo ofício coletivo, mas não é a musa de seu estilo tectônico. Pelo contrário, se cedem os verdadeiros e normais poderes históricos — raça, religião, política, idéias —, toda a energia social vacante é absorvida por ele. Diríamos, pois, que quando se volatilizam os demais prestígios resta sempre o dinheiro, que, por ser elemento material, não pode volatilizar-se. Ou, de outro modo: o dinheiro não manda mais senão quando não há outro princípio que mande.
Assim se explica essa nota comum a todas as épocas submetidas ao império crematístico que consiste em ser tempos de transição. Morta uma constituição política e moral, fica a sociedade sem motivo que jerarquize os homens. Ora bem: isto é impossível. Contra a ingenuidade igualitária é preciso fazer notar que a jerarquização é o impulso essencial da socialização. Onde há cinco homens em estado normal produz-se automaticamente uma estrutura jerarquizada. Qual seja o princípio desta é outra questão. Mas algum terá de existir sempre. Se os normais faltam, um pseudo princípio se encarrega de modelar a jerarquia e definir as classes. Durante um momento — o século XVII — na Holanda, o homem mais invejado era aquele que possuía certa tulipa rara. A fantasia humana, fustigada por esse instinto irreprimível de jerarquia, inventa sempre algum novo tema de desigualdade.
Mas, ainda limitando de tal sorte a frase inicial que dá ocasião a esta nota, eu me pergunto se há alguma razão para afirmar que em nosso tempo goza o dinheiro de um poder social maior que em tempo algum do passado. Também esta curiosidade é exposta e difícil de satisfazer. Se nos envaidecemos, tudo que acontece em nossa hora parecer-nos-á único e excepcional na série dos tempos. Há, entretanto, a meu juízo, uma razão que dá probabilidade clara à suspeita de ser nosso tempo o mais crematístico de quantos foram. É também idade de crise: os prestígios há anos ainda vigentes perderam sua eficiência. Nem a religião nem a moral dominam a vida social nem o coração da multidão. A cultura intelectual e artística é avaliada menos que há vinte anos. Resta só o dinheiro. Mas, como indiquei, isto aconteceu várias vezes na história. O novo, o exclusivo do presente é esta outra conjuntura. O dinheiro teve, para seu poder, um limite automático em sua própria essência. O dinheiro é apenas um meio para comprar coisas. Se há poucas coisas para comprar, por muito dinheiro que haja e por muito livre que se encontre sua ação de conflitos com outras potências, seu influxo será escasso. Isto nos permite formar uma escala com as épocas de crematismo e dizer: o poder social do dinheiro — ceteris paribus — será tanto maior quantas mais coisas haja para comprar, não quanto maior seja a quantidade do dinheiro mesmo. Ora bem: não há dúvida que o industrialismo moderno, em sua combinação com os fabulosos progressos da técnica, produziu nestes anos um cúmulo tal de objetos mercáveis, de tantas classes e qualidades, que o dinheiro pode desenvolver fantasticamente sua essência: o comprar.
No século XVIII existiam também grandes fortunas, mas havia pouco para comprar. O rico, se queria algo mais que o breve repertório de mercadorias existente, tinha de inventar um apetite e o objeto que o satisfaria, tinha de buscar o artífice que o realizasse e dar tempo a sua fabricação. Em todo este intrincamento intercalado entre o dinheiro e objeto complicava-se aquele com outras forças espirituais — fantasia criadora de desejos no rico, seleção do artífice, trabalho técnico deste, etc. — de que se fazia, sem querer, dependente.
Agora um homem chega a uma cidade e aos quatro dias pode ser o mais famoso e invejado habitante dela sem mais trabalho que passear ante as vitrinas, escolher os objetos melhores — o melhor automóvel, o melhor chapéu, o melhor isqueiro, etc. — e comprá-los. Caberia imaginar um autômato provido de um bolso em que metesse mecanicamente a mão e chegasse a ser o personagem mais ilustre da urbe.
El Sol, 15 de maio de 1927.
JUVENTUDE
I
As variações históricas não procedem nunca de causas externas ao organismo humano, pelo menos dentro de um mesmo período histórico zoológico. Se houve catástrofes telúricas — dilúvios, submersão de continentes, súbitas mudanças extremas de clima —, como nos mitos mais arcaicos pode se recordar confusamente, o efeito por elas produzido transcendeu os limites do histórico e transtornou a espécie como tal. O mais provável é que o homem não assistiu nunca a semelhantes catástrofes. A existência tem sido, pelo visto, sempre muito cotidiana. As mudanças mais violentas que nossa espécie conheceu, os períodos glaciais, não tiveram caráter de grande espetáculo. Basta que durante algum tempo a temperatura média do ano desça cinco ou seis graus para que a glacialização se produza. Em definitivo, que os verões sejam um pouco mais frescos. A lentidão e suavidade deste processo dá tempo a que o organismo reaja, e esta reação de dentro do organismo à mudança física do contorno, é a verdadeira variação histórica. Convém abandonar a idéia de que o meio, mecanicamente, modele a vida; portanto, que a vida seja um processo de fora para dentro. As modificações externas atuam só como excitantes de modificações intraorgânicas; são, a bem dizer, perguntas que o ser vivo responde com uma ampla margem de originalidade imprevisível. Cada espécie, e mesmo cada variedade, e mesmo cada indivíduo, aprontará uma resposta mais ou menos diferente, nunca idêntica. Viver, em suma, é uma operação que se faz de dentro para fora, e por isso as causas ou princípios de suas variações devem ser buscados no interior do organismo.
Pensando assim, havia de parecer-me sobremodo verossímil que nos mais profundos e amplos fenômenos históricos apareça, mais ou menos claro, o decisivo influxo das diferenças biológicas mais elementais. A vida é masculina ou feminina, é jovem ou é velha. Como se pode pensar que estes módulos elementaríssimos e divergentes da vitalidade não sejam gigantescos poderes plásticos da história? Foi, a meu juízo, um dos descobrimentos sociológicos mais importantes o que se fez, vai para trinta anos, quando se advertiu que a organização social mais primitiva não é senão a marca na massa coletiva dessas grandes categorias vitais: sexos e idades. A estrutura mais primitiva da sociedade se reduz a dividir os indivíduos que a integram em homens e mulheres, e cada uma destas classes sexuais(102) em meninos, jovens e velhos, em classes de idade. As formas biológicas mesmas foram, por assim dizer, as primeiras instituições.
Masculinidade e feminilidade, juventude e senectude, são duas parelhas de potências antagônicas. Cada uma destas potências significa a mobilização da vida toda em um sentido divergente do que possui sua contrária. Vêem a ser como estilos diversos do viver. E como todos coexistem em qualquer instante da história, produz-se entre eles uma colisão, um forcejar em que cada qual tenta arrastar, em seu sentido, íntegra, a existência humana. Para compreender bem uma época é preciso determinar a equação dinâmica que nela dão essas quatro potências, e perguntar: Quem pode mais? Os jovens ou os velhos, quer dizer, os homens maduros? O varonil ou o feminino? É sobremaneira interessante perseguir nos séculos as deslocações do poder para uma ou a outra dessas potências. Então adverte-se o que de antemão devia presumir-se: que, sendo rítmica toda vida, o é também a história, e que os ritmos fundamentais são precisamente os biológicos; quer dizer, que há épocas em que predomina o masculino e outras senhoreadas pelos instintos da feminilidade, que há tempos de jovens e tempos de velhos.
No ser humano a vida se duplica porque ao intervir a consciência a vida primária se reflete nela: é interpretada por ela em forma de idéia, imagem, sentimento. E como a história é, antes de tudo, história da mente, da alma, o interessante será descrever a projeção na consciência desses predomínios rítmicos. A luta misteriosa que mantém nas secretas oficinas do organismo a juventude e a senectude, a masculinidade e a feminilidade, reflete-se na consciência sob a espécie de preferências e desdéns. Chega uma época em que prefere, que estima mais as qualidades da vida jovem, e pospõe, desestima as da vida madura, ou bem acha a graça máxima nos modos femininos diante dos masculinos. Por que acontecem estas variações da preferência, às vezes súbitas? Eis aqui uma questão sobre a qual não podemos ainda dizer uma só palavra clara(103).
O que realmente me parece evidente é que nosso tempo se caracteriza pelo extremo predomínio dos jovens. É surpreendente que em povos tão velhos como os nossos, e depois de uma guerra mais triste que heróica, toma a vida de repente um aspecto de triunfante juventude. Na realidade, como tantas outras coisas, este império dos jovens vinha se preparando desde 1890, desde o fin de siècle. Hoje de um lugar, amanhã de outro, foram desalojadas a madureza e a ancianidade: em seu oposto se instalava o homem jovem com seus peculiares atributos.
Eu não sei se este triunfo da juventude será um fenômeno passageiro ou uma atitude profunda que a vida humana tomou e que chegará a qualificar toda uma época. E preciso que passe algum tempo para poder aventurar este prognóstico. O fenômeno é demasiado recente e ainda não se pode ver se esta nova vida in modo juventutis será capaz do que depois direi, sem o que não é possível a perduração de seu triunfo. Mas se fossemos atender só ao aspecto do momento atual, seremos forçados a dizer: tem havido na história outras épocas em que predominaram os jovens, mas nunca, entre as bem conhecidas,(104) o predomínio tem sido tão extremado e exclusivo. Nos séculos clássicos da Grécia, a vida toda organiza-se em torno do efebo, mas junto a ele, e como potência compensatória, está o homem maduro que o educa e dirige. A parelha Sócrates-Alcibíades simboliza muito bem a equação dinâmica de juventude e madureza desde o século V no tempo de Alexandre. O jovem Alcibíades triunfa sobre a sociedade, mas sob condição de servir ao espírito que Sócrates representa. Deste modo, a graça e o vigor juvenis são postos a serviço de algo acima deles, que lhes serve de norma, de incitação e de freio. Roma, pelo contrário, prefere o velho ao jovem e submete-se à figura do senador, do pai de família. O “filho”, entretanto, o jovem atua sempre diante do senador em forma de oposição. Os dois nomes que enunciam os partidos da luta multissecular aludem a esta dualidade de potências: patrícios e proletários. Ambos significam “filhos”, uns são filhos de pai cidadão, casado segundo lei do Estado e por isso herdeiros de bens, ao passo que o proletário é filho no sentido da carne, não é filho de “alguém” reconhecido, é mero descendente e não herdeiro, prole. (Como se vê a tradição exata de patrício seria fidalgo).
Para achar outra época de juventude como a nossa, seria preciso descer até o Renascimento. Repasse o leitor rapidamente a série de épocas européias. O romanticismo, que com uma ou outra intensidade impregna todo o século XIX, pode parecer em sua iniciação um tempo de jovens. Há nele, efetivamente, uma subversão contra o passado e é um ensaio de se afirmar a si mesma a juventude. A Revolução fizera tábua rasa da geração precedente e permitiu durante quinze anos que ocupassem todas as eminências sociais homens muito moços. O jacobino e o general de Bonaparte são rapazes. Entretanto, oferece este tempo o exemplo de um falso triunfo juvenil, e o romanticismo porá de manifesto sua carência de autenticidade. O jovem revolucionário é só o executor das velhas idéias confeccionadas nos dois séculos anteriores. O que o jovem afirma então não é a sua juventude, mas princípios recebidos: nada tão representativo como Robespierre, o velho de nascimento. Quando no romanticismo se reage contra o século XVIII é para voltar a um passado mais antigo, e os jovens ao olhar dentro de si só acham inapetência vital. E a época dos blasés, dos suicídios, o ar prematuramente caduco no andar e no sentir. O jovem imita em si o velho, prefere suas atitudes fatigadas e apressa-se a abandonar sua mocidade. Todas as gerações do século XIX aspiraram a ser maduras o mais depressa possível e sentiam uma estranha vergonha de sua própria juventude. Compare-se com os jovens atuais — varões e fêmeas — que tendem a prolongar ilimitadamente sua mocidade e se instalam nela como definitivamente.
Se damos um passo atrás caímos no século vieillot por excelência, o XVIII, que abomina de toda qualidade juvenil, detesta o sentimento e a paixão, o corpo elástico e nu. É o século do entusiasmo pelos decrépitos, que estremece ao passo de Voltaire, cadáver vivente que passa sorrindo de si mesmo no sorriso inumerável de suas rugas. Para extremar tal estilo de vida finge-se na cabeça a neve da idade, e a peruca empoada cobre toda testa primaveril — homem ou mulher — com uma suposição de sessenta anos.
Ao chegar ao século XVIII neste virtual processo temos de nos interrogar, ingenuamente surpresos: Para onde foram os jovens? Quanto vale nesta idade parece ter quarenta anos: o traje, o uso, os modos, são só adequados à gente dessa idade. De Ninon estima-se a madureza, não a confusa juventude. Domina a centúria Descartes, vestido à espanhola, de negro. Busca-se por toda a parte a raison e interessa mais que nada a teologia: jesuítas contra Jansênio. Pascal, o garoto genial, é genial porque antecipa a ancianidade dos geômetras.
El Sol, 9 de junho de 1927.
II
Todo gesto vital, ou é um gesto de domínio ou um gesto de servidão. Tertium non datur. O gesto de combate que parece interpolar-se entre ambos pertence, a rigor, a um ou outro estilo. A guerra ofensiva vai inspirada pela segurança na vitória e antecipa o domínio. A guerra defensiva sói empregar táticas vis, porque no fundo de sua alma o atacado estima mais que a si mesmo o ofensor. Esta é a causa que decide um ou outro estilo de atitude.
O gesto servil o é porque o ser não gravita sobre si mesmo, não está seguro de seu próprio valor e em todo instante vive comparando-se com outros. Necessita deles em uma ou outra forma; necessita de sua aprovação para se tranqüilizar, quando não de sua benevolência e de seu perdão. Por isso o gesto leva sempre uma referência ao próximo. Servir é encher nossa vida de atos que têm valor só porque outro ser os aprova ou aproveita. Têm sentido olhados da vida deste outro ser, não da nossa vida. E esta é, em princípio, a servidão: viver desde outro, não desde si mesmo.
O estilo de domínio, por seu turno, não implica a vitória. Por isso aparece com mais pureza que nunca em certos casos de guerra defensiva que concluíram com a completa derrota do defensor. O caso de Numância é exemplar. Os numantinos possuem uma fé inquebrantável em si mesmos. Sua longa campanha contra Roma começou por ser de ofensiva. Desprezavam o inimigo e, com efeito, o derrotavam uma vez e outra(105). Quando mais tarde, recolhendo e organizando melhor suas forças superiores, Roma aperta Numância, esta, dir-se-á, toma a defensiva, mas propriamente não se defende, efetivamente aniquila-se, suprime-se. O fato material da superioridade de forças no inimigo convida ao povo de alma dominante a preferir sua própria anulação. Porque só sabe viver desde si mesmo, e a nova forma de existência que o destino lhe propõe — servidão — lhe é inconcebível, lhe sabe a negação do viver mesmo; portanto, é a morte.
Nas gerações anteriores a juventude vivia preocupada com a madureza. Admirava os maiores, recebia deles as normas — em arte, ciência, política, usos e regime de vida —, esperava sua aprovação e temia seu enfado. Só se entregava a si mesma, ao que é peculiar a tal idade, subrepticiamente e como à margem. Os jovens sentiam sua própria juventude como uma transgressão do que é devido. Objetivamente se manifestava isto no fato de que a vida social não estava organizada em vista deles. Os costumes, os prazeres públicos haviam sido ajustados ao tipo de vida próprio para as pessoas maduras, e eles tinham de se contentar com as zurrapas que estas lhes deixavam ou lançar-se às estroinices. Até no vestir viam-se forçados a imitar os velhos: as modas estavam inspiradas na conveniência da gente maior. As moças sonhavam com o momento em que se vestiriam “à vontade”, quer dizer, em que adotariam o traje de suas mães. Em suma, a juventude vivia a serviço da madureza.
A mudança operada neste ponto é fantástica. Hoje a juventude parece dona indiscutível da situação, e todos os seus movimentos vão saturados de domínio. Em sua atitude transparece bem claramente que não se preocupa o mínimo com a outra idade. O jovem atual habita hoje sua juventude com tal resolução e denodo, com tal abandono e segurança, que parece existir só nela. O que a madureza pense dela não lhe importa um caracol; mais ainda: a madureza possui a seus olhos um valor próximo ao cômico.
Mudaram-se as tornas. Hoje o homem e a mulher maduros vivem quase sobressaltados, com a vaga impressão de que quase não têm direito a existir. Advertem a invasão do mundo pela mocidade como tal e começam a fazer gestos servis. Desde logo, imitam-na no trajar. (Tenho sustentado muitas vezes que as modas não eram um fato frívolo, mas um fenômeno de grande transcendência histórica, obediente a causas profundas. O exemplo presente esclarece com exaustiva evidência essa afirmação).
As modas atuais estão pensadas para corpos juvenis, e é tragicômica a situação de pais e mães que se vêem obrigados a imitar seus filhos e filhas na indumentária. Os que já andamos na curva descendente da vida vemo-nos na inaudita necessidade de ter de desandar um pouco o caminho percorrido, como se o houvéssemos errado, e fazer-nos — de grado ou não — mais jovens do que somos. Não se trata de fingir uma mocidade que se ausenta de nossa pessoa, mas que o módulo adotado pela vida objetiva é o juvenil e nos força a sua adoção. Como com o vestir, acontece com tudo o resto. Os usos, prazeres, costumes, modos, estão talhados à medida dos efebos.
É curioso, formidável, o fenômeno, e convida a essa humildade e devoção ante o poder, ao mesmo tempo criador e irracional, da vida que eu fervorosamente recomendei durante toda a minha. Note-se que em toda a Europa a existência social está hoje organizada para que possam viver a gosto só os jovens das classes médias. Os maiores e as aristocracias ficaram fora da circulação vital, sintoma em que se enlaçam dois fatores distintos — juventude e massa — dominantes na dinâmica deste tempo. O regime de vida média aperfeiçoou-se — por exemplo, os prazeres —, e, em troca, as aristocracias não souberam criar para si novos refinamentos que as distanciem da massa. Só lhe resta a compra de objetos mais caros, mas do mesmo tipo geral que os usados pelo homem médio. As aristocracias, desde 1800 no político, e desde 1900 no social, têm sido levadas de roldão, e é lei da história que as aristocracias não podem ser levadas de roldão senão quando previamente caíram em irremediável degeneração.
Mas há um fato que sublinha mais que outro algum este triunfo da juventude e revela até que ponto é profundo o transtorno de valores na Europa. Refiro-me ao entusiasmo pelo corpo. Quando se pensa na juventude, pensa-se antes de tudo no corpo. Por várias razões: em primeiro lugar, a alma tem uma frescura mais prolongada, que às vezes chega a ornar a velhice da pessoa; em segundo lugar, a alma é mais perfeita em certo momento da madureza que na juventude. Sobretudo, o espírito — inteligência e vontade — é, sem dúvida, mais vigoroso na plenitude da vida que em sua etapa ascensional. Por seu turno, o corpo tem sua flor — seu akmé, diziam os gregos — na estrita juventude, e, vice-versa, decai infalivelmente quando esta se transpõe. Por isso, desde um ponto de vista superior às oscilações históricas, por assim dizer, sub specie aeternitatis, é indiscutível que a juventude rende a maior delícia ao ser olhada, a madureza, ao ser ouvida. O admirável do moço é o seu exterior; o admirável do homem feito é sua intimidade.
Pois bem: hoje prefere-se o corpo ao espírito. Não creio que haja sintoma mais importante na existência européia atual. Talvez as gerações anteriores rendessem demasiado culto ao espírito e — salvo a Inglaterra — desdenharam excessivamente a carne. Era conveniente que o ser humano fosse admoestado e se lhe recordasse que não é só alma, mas união mágica de espírito e corpo.
O corpo é por si puerilidade. O entusiasmo que hoje desperta inundou de infantilismo a vida continental, afrouxou a tensão do intelecto e vontade em que se retorceu o século XIX, arco demasiado retesado para metas demasiado problemáticas. Vamos dar um descanso ao corpo. A Europa — quando tem diante de si os problemas mais pavorosos — entrega-se a umas férias. Brinda elástico o músculo do corpo desnudo atrás de uma bola de futebol que declara francamente seu desdém a toda transcendência voando pelo ar com ar em seu interior.
As associações de estudantes alemães solicitaram energicamente que se reduza o plano de estudos universitários. A razão que davam não era hipócrita: urgia diminuir as horas de estudo porque eles precisavam do tempo para seus jogos e diversões, para “viver a vida”.
Esta atitude dominante que hoje tem a juventude parece-me significativo. Só me ocorre uma reserva mental. Entrega tão completa a seu próprio momento é justa enquanto afirma o direito da mocidade como tal, ante a sua antiga servidão. Mas, não é exorbitante? A juventude, estádio da vida, tem direito a si mesma; mas por ser um estádio vai afetada inexoravelmente de um caráter transitório. Fechando-se em si mesma, cortando as pontes e queimando as naves que conduzem aos estádios subseqüentes, parece declarar-se em rebeldia e separatismo do resto da vida. Se é falso que o jovem não deve fazer outra coisa senão preparar-se para ser velho, também é erro parvo iludir por completo esta cautela. Pois é o caso que a vida, objetivamente, necessita da madureza; portanto, que a juventude também a necessita. É preciso organizar a existência: ciência, técnica, riqueza, saber vital, criações de toda ordem, são requeridas para que a juventude possa alojar-se e divertir-se. A juventude de agora, tão gloriosa, corre o risco de arribar a uma madureza inepta. Hoje goza o ócio florescente que lhe criaram gerações sem juventude(106).
Meu entusiasmo pelo aspecto juvenil que a vida adotou não se detém senão ante esse temor. Que vão fazer aos quarenta os europeus futebolistas? Porque o mundo é certamente uma bola, mas tendo dentro de si mais do que simples ar.
El Sol, 19 de junho de 1927.
MASCULINO OU FEMININO?
Não há dúvida que nosso tempo é tempo de jovens. O pêndulo da história, sempre inquieto, ascende agora pelo quadrante “mocidade”. O novo estilo de vida começou não há muito, e ocorre que a geração próxima já aos quarenta anos tem sido uma das mais infortunadas que existiram. Porque quando era jovem reinavam ainda na Europa os velhos, e agora que entrou na madureza depara que o império se transferiu para a mocidade. Faltou-lhe, pois, a hora de triunfo e de domínio, a oportunidade de grata coincidência com a ordem reinante na vida. Em suma: que viveu sempre ao revés com o mundo, e, como o esturjão, teve de nadar sem descanso contra a correnteza do tempo. Os mais velhos e os mais jovens desconhecem este duro destino de não haver flutuado nunca; quero dizer, de nunca haver sentido a pessoa como levada por um elemento favorável, e que pelo contrário dia após dia e lustro após lustro teve de viver em suspenso, sustentando-se a pulso sobre o nível da existência. Mas talvez esta mesma impossibilidade de se abandonar um só instante a disciplinou e purificou sobremaneira. É a geração que mais combateu, que ganhou a rigor mais batalhas e menos triunfos tem gozado(107).
Mas deixemos por enquanto intacto o tema dessa geração intermediária e retenhamos a atenção sobre o momento atual. Não basta dizer que vivemos em tempo de juventude. Com isso não fizemos mais do que defini-lo dentro do ritmo das idades. Mas ao lado deste atua sobre a substância histórica o ritmo dos sexos. Tempo de juventude! Perfeitamente. Mas, masculino ou feminino? O problema é mais sutil, mais delicado — quase indiscreto. Trata-se de filiar o sexo de uma época.
Para acertar nesta, como em todas as empresas da psicologia histórica, é preciso tomar um ponto de vista elevado e libertar-se de idéias estreitas sobre o que é masculino e o que é feminino. Antes de tudo é urgente desasir do trivial erro que entende a masculinidade principalmente em sua relação com a mulher. Para quem pensa assim, é muito masculino o fanfarrão que se ocupa acima de tudo de cortejar as damas e falar das boas fêmeas. Este era o tipo de varão dominante em 1890: traje barroco, sobrecasaca cujas abas capeavam o vento, plastrão, barba de mosqueteiro, cabelo em volutas, um duelo por mês. (O bom fisionomista das modas descobre logo a idéia que inspirava esta: a ocultação do corpo viril sob uma profusa vegetação de tela e pelame. Ficavam só à vista mãos, nariz e olhos. O resto era falsificação, literatura textil, barbearia. É uma época de profunda insinceridade: discursos parlamentários e prosa de “artigo de fundo”)(108).
O fato de que ao pensar no homem se destaque primeiramente seu afã pela mulher revela, por si só, que nessa época predominavam os valores de feminilidade. Só quando a mulher é o que mais se estima e encanta tem sentido apreciar o varão pelo serviço e culto que a esta renda. Não há sintoma mais evidente de que o masculino, como tal, é preterido e desestimado. Porque assim como a mulher não pode em nenhum caso ser definida sem referi-la ao varão, tem este o privilégio de que a maior e a melhor porção de si mesmo é independente por completo de que a mulher exista ou não. Ciência, técnica, guerra, política, esporte, etc., são coisas em que o homem se ocupa com o centro vital de sua pessoa, sem que a mulher tenha intervenção substantiva. Este privilégio do masculino, que lhe permite em ampla medida bastar-se a si mesmo, talvez pareça irritante. É possível que o seja. Eu não o aplaudo nem o vitupero, mas tampouco o invento. É uma realidade de primeira grandeza com que a Natureza, inexorável em suas vontades, nos obriga a contar.
A veracidade, pois, me força a dizer que todas as épocas masculinas da história se caracterizam pela falta de interesse pela mulher. Esta fica relegada ao fundo da vida, até o ponto de que o historiador, forçado a uma ótica de lonjura, apenas a vê. No frontispício histórico aparecem só homens, e, com efeito, os homens vivem na época só com homens. Seu trato normal com a mulher fica excluído na zona diurna e luminosa em que acontece o mais valioso da vida, e se recolhe na treva, no subterrâneo das horas inferiores, entregues aos puros instintos — sensualidade, paternidade, familiaridade —. Egrégia ocasião de masculinidade foi o século de Péricles, Século só para homens. Vive-se em público: ágora, ginásio, acampamento, trirreme. O homem maduro assiste aos jogos dos efebos nus e habitua-se a discernir as mais finas qualidades da beleza varonil, que o escultor vai comentar no mármore. Por sua parte, o adolescente bebe no ar ático a fluência de palavras agudas que brota dos velhos dialéticos, sentados nos pórticos com o cajado na axila. A mulher?... Sim, à última hora, no banquete varonil, aparece sob a espécie de flautistas e dançarinas que executam suas humildes destrezas ao fundo, muito ao fundo da cena, como apoio e pausa à conversação que languidece. Alguma vez, a mulher se adianta um pouco: Aspásia. Por que? Porque aprendeu o saber dos homens, porque se masculinizou.
Embora o grego tenha sabido esculpir famosos corpos de mulher, sua interpretação da beleza feminina não conseguiu desprender-se da preferência que sentia pela beleza do varão. A Vênus de Milo é uma figura másculo-feminil, uma espécie de atleta com seios. E é um exemplo de cômica insinceridade que tenha sido proposta tal imagem ao entusiasmo dos europeus durante o século XIX, quando mais ébrios viviam de romanticismo e de fervor pela pura, extrema feminilidade. O cânone da arte grega ficou inscrito nas formas do moço desportista, e quando isto não lhe bastou preferiu sonhar com o hermafrodita. (É curioso advertir que a sensualidade noviça da criança a faz normalmente sonhar com o hermafrodita; quando mais tarde separa a forma masculina sofre — por um instante — amarga desilusão. A forma feminina lhe parece como uma mutilação da masculina; portanto, como algo incompleto e vulnerado)(109).
Seria um erro atribuir este masculinismo, que culmina no século de Péricles, a uma nativa cegueira do homem grego para os valores da feminilidade, e opor-lhe o suposto rendimento do germano ante a mulher. A verdade é que em outras épocas da Grécia anteriores à clássica triunfou o feminino, como em certas etapas do germanismo domina o varonil. Precisamente esclarece melhor que outro exemplo a diferença entre épocas de um e outro sexo o acontecido na Idade Média, que por si mesma se divide em duas porções: a primeira, masculina; a segunda, desde o século XII, feminina.
Na primeira Idade Média a vida tem o mais rude aspecto. E preciso guerrear cotidianamente e à noite compensar o esforço com o abandono e o frenesi da orgia. O homem vive quase sempre em acampamentos, só com outros homens, em perpétua emulação com eles sobre temas viris: esgrima, cavalaria, caça, bebida. O homem, como diz um texto da época, não “deve separar-se, até a morte, da crina de seu cavalo e passará sua vida à sombra da lança”. Todavia em tempos de Dante alguns nobres — os Lamberti, os Soldanieri — conservavam, com efeito, o privilégio de ser enterrados a cavalo(110).
Em tal paisagem moral, a mulher carece de papel e não intervém no que podemos chamar vida de primeira classe. Entendamo-nos: em todas as épocas desejou-se a mulher, mas não em todas foi estimada. Assim nesta bronca idade. A mulher é presa de guerra. Quando o germano destes séculos se ocupa em idealizar a mulher, imagina a valquíria, a fêmea beligerante, virago musculosa que possui atitudes e destrezas de varão.
Esta existência de áspero regime cria as bases primeiras, o subsolo do porvir europeu. Mercê a ela conseguiu-se já no século XII acumular alguma riqueza, contar com um pouco de ordem, de paz, de bem-estar. E eis aqui que rapidamente, como em certas jornadas de primavera, muda a face da história. Os homens começam a polir-se na palavra e nos modos. Já não se aprecia o gesto bronco, mas o gesto mesurado, grácil. À contínua pendência substitui o solatz e deport que quer dizer conversação e jogo. A mutação se deve ao ingresso da mulher no cenário da vida pública. A Corte dos Carolíngios era exclusivamente feminina. Mas no século XII as altas damas de Provença e Borgonha têm a audácia surpreendente de afirmar, ante o Estado dos guerreiros e ante a Igreja dos clérigos, o valor específico da pura feminilidade. Esta nova forma de vida pública, onde a mulher é o centro, contém o germe do que, ante o Estado e a Igreja, vai se chamar séculos mais tarde “sociedade”. Chamou-se então “corte” — mas não como a antiga corte de guerra e de justiça, mas “corte de amor”. Trata-se, nada mais nada menos, de todo um novo estilo de cultura e de vida...
El Sol, 26 de junho de 1927.
II
Trata-se, nada mais nada menos, de todo um novo estilo de cultura e de vida. Porque até o século XII não se havia encontrado a maneira de afirmar a delícia da existência, do mundanal ante o enérgico “tabu” que sobre todo o terreno fizera cair a Igreja. Agora aparece a “cortesia” triunfadora da “clerezia”. E a “cortesia” é, antes de tudo, o regime de vida que vai inspirado pelo entusiasmo pela mulher. Vê-se nela a norma e o centro da criação. Sem a violência do combate ou do anátema, suavissimamente, a feminilidade eleva-se a máximo poder histórico. Como aceitam este jugo o guerreiro e o sacerdote, em cujas mãos se achavam todos os meios da luta? Não cabe mais claro exemplo da força indomável que o “sentir do tempo” possui. A rigor, é tão poderoso que não necessita combater. Quando chega, montado sobre os nervos de uma nova geração, simplesmente se instala no mundo como uma propriedade indiscutida.
A vida do varão perde o módulo da etapa masculina e se conforma ao novo estilo. Suas armas preferem ao combate a justiça e o torneio, que estão ordenados para ser vistos pelas damas. Os trajes dos homens começam a imitar as linhas do traje feminino, ajustam-se à cintura e se decotam até o colo. O poeta deixa um pouco a gesta em que se canta o herói varonil e torneia a trova que foi inventada
sol per domnas lauzar(111).
O cavalheiro desvia suas idéias feudais para a mulher e decide “servir” a uma dama, cuja cifra põe no escudo. Desta época provém o culto à Virgem Maria, que projeta nas regiões transcendentes a entronização do feminino, acontecida na ordem sublunar. A mulher torna-se ideal do homem, e chega a ser a forma de todo ideal. Por isso, no tempo do Dante, a figura feminina absorve o ofício alegórico de tudo que é sublime, de tudo que é aspiração. No final das contas, consta pelo Gênese que a mulher não está feita de barro como o varão, mas feita de sonho do varão.
Exercitada a pupila nestes esquemas do pretérito, que facilmente poderíamos multiplicar, volta-se ao panorama atual e conhece no mesmo instante que nosso tempo não é só tempo de juventude, mas de juventude masculina. O dono do mundo é hoje o rapaz. E o é, não porque o tenha conquistado, mas a força de desdém. A mocidade masculina afirma-se a si mesma, entrega-se a seus gostos e apetites, a seus exercícios e preferências, sem se preocupar com o resto, sem acatar ou render culto a nada que não seja sua própria juventude. É surpreendente a resolução e a unanimidade com que os jovens decidiram não “servir” a nada nem a ninguém, salvo à idéia mesma da mocidade. Nada pareceria mais obsoleto que o gesto rendido e curvo com que o cavalheiro fanfarrão de 1890 se aproximava da mulher para lhe dizer uma frase galante, retorcida como um caracol. As moças perderam o hábito de ser galanteadas, e esse gesto em que há trinta anos ressumavam todas as resinas da virilidade, cheiraria hoje a efeminamento.
Porque a palavra “efeminado” tem dois sentidos muito diversos. Por um deles significa o homem anormal que fisiologicamente é um pouco mulher. Estes indivíduos monstruosos existem em todos tempos, como desviação fisiológica da espécie, e seu caráter patológico os impede de representar a normalidade de nenhuma época. Mas, em seu outro sentido, “efeminado” significa simplesmente homme à femmes, o homem muito preocupado com a mulher, que gira em torno dela e dispõe suas atitudes e pessoa em vista de um público feminino. Em tempos deste sexo, esses homens parecem muito homens; mas quando sobrevêm etapas de masculinismo descobre-se o que neles há de efetivo efeminamento, apesar de seu aspecto de mata-mouros.
Hoje, como sempre que os valores masculinos predominaram, o homem estima sua figura mais que a do sexo contrário e, consequentemente, cuida de seu corpo e tende a ostentá-lo. O velho “efeminado” denomina este novo entusiasmo dos jovens pelo corpo viril e esse esmero com que o tratam, efeminamento, quando é o contrário. Os rapazes convivem juntos nos estádios e áreas de esportes. Não lhes interessa mais que seu jogo e a maior ou menor perfeição na postura ou na destreza. Convivem, pois, em perpétuo concurso e emulação, que versam sobre qualidades viris. À força de contemplar-se nos exercícios onde o corpo aparece isento de falsificações têxteis, adquirem uma fina percepção da física varonil, que cobra a seus olhos um valor enorme. Note-se que só se estima a excelência nas coisas de que se entende. Só estas excelências, claramente percebidas, arrastam o ânimo e o sobrecolhem(112).
Daí que as modas masculinas tenham tendido estes anos a sublinhar a arquitetura masculina do homem jovem, simplificando um tipo de traje tão pouco propício para isso como o herdado do século XIX. Era mister que sob os tubos ou cilindros de tela em que este horrível traje existe, se afirmasse o corpo do futebolista.
Talvez desde os tempos gregos não se tenha estimado tanto a beleza masculina como agora. E o bom observador nota que nunca as mulheres falaram tanto e com tanto descaro como agora dos homens simpáticos. Antes, sabiam calar seu entusiasmo pela beleza de um varão, se é que a sentiam. Convém, ainda, apontar que a sentiam muito menos que na atualidade. Um velho psicólogo habituado a meditar sobre estes assuntos sabe que o entusiasmo da mulher pela beleza corporal do homem, sobretudo pela beleza fundada na correção atlética, não é quase nunca espontâneo. Ao ouvir hoje com tanta freqüência o cínico elogio do homem simpático brotando dos lábios femininos, em vez de colegir ingênua e simplesmente: “A mulher de 1927 gosta superlativamente dos homens simpáticos”, faz um descobrimento mais profundo: a mulher de 1927 deixou de cunhar os valores por si mesma e aceita o ponto de vista dos homens que nesta data sentem, com efeito, entusiasmo pela esplêndida figura do atleta. Vê, pois, nisso, um sintoma de primeira categoria, que revela o predomínio do ponto de vista varonil.
Não seria objeção contra isto que alguma leitora, perscrutando sinceramente em seu interior, reconhecesse que não se apercebia de ser influída em sua estima da beleza masculina pelo apreço que dela fazem os jovens. De tudo aquilo que é um impulso coletivo e propele a vida histórica inteira em uma ou outra direção, não nos apercebemos nunca, como não nos apercebemos do movimento estelar de nosso planeta, nem a faina química em que se ocupam nossas células. Cada qual crê viver por sua conta, em virtude de razões que supõe personalíssimas. Mas o fato é que sob essa superfície de nossa consciência atuam as grandes forças anônimas, os poderosos alísios da história, sopros gigantescos que nos mobilizam a seu capricho.
Também sabe bem a mulher de hoje porque fuma, porque se veste como se veste, porque se esfalfa em esportes físicos. Cada uma poderá dar sua razão diferente, que tenha alguma verdade, mas não a bastante. É muita casualidade que atualmente o regime da assistência feminina nas ordens mais diversas coincida sempre nisto: a assimilação ao homem. Se no século XII o varão se vestia como a mulher e fazia sob sua inspiração versinhos dulcífluos, hoje a mulher imita o homem no vestir e adota seus ásperos jogos. A mulher procura achar em sua compleição as linhas do outro sexo. Por isso o mais característico das modas atuais não é a exiguidade do encobrimento, mas o oposto. Basta comparar o traje de hoje com o usado na época de outro Diretório maior — 1800 — para descobrir a essência variante, tanto mais expressiva quanto maior é a semelhança. O traje Diretório era também uma simples túnica, bastante curta, quase como a de agora. Entretanto, aquele nu era um perverso nu de mulher. Agora a mulher vai nua como um rapaz. A dama Diretório acentuava, cingia e ostentava o atributo feminino por excelência: aquela túnica era o mais sóbrio talhe para sustentar a flor do seio. O traje atual, aparentemente tão generoso na nudificação, oculta, por seu turno, anula, escamoteia, o seio feminino.
É uma equivocação psicológica explicar as modas vigentes por um suposto afã de excitar os sentidos do varão, que se tornaram um pouco indolentes. Esta indolência é um fato, e eu não nego que no detalhe da indumentária e das atitudes influa esse propósito incitativo: mas as linhas gerais da atual figura feminina estão inspiradas por uma intenção oposta: a de se parecer um pouco com o homem jovem. O descaro e impudor da mulher contemporânea são, mais que femininos, o descaro e impudor de um rapaz que entrega à intempérie sua carne elástica. Tudo contrário, pois, a uma exibição lúbrica e viciosa. Provavelmente, as relações entre os sexos nunca foram tão sadias, paradisíacas e moderadas como agora. O perigo está verdadeiramente na direção inversa. Porque aconteceu sempre que as épocas masculinas da história, desinteressadas da mulher, renderam estranho culto ao amor dórico. Assim foi no tempo de Péricles, no de César, no Renascimento.
É, pois, uma bobagem perseguir em nome da moral a brevidade das saias em uso. Há nos sacerdotes uma mania milenar contra os modismos. A princípios do século XIII, nota Luchaire, “os sermonários não cessam de fulminar contra a longitude exagerada das saias, que são, dizem, uma invenção diabólica”(113). Em que ficamos? Qual a saia diabólica? A curta ou a longa?
Quem passou sua juventude numa época feminina consterna-se de ver a humildade com que hoje a mulher, destronada, procura insinuar-se e ser tolerada na sociedade dos homens. A este fim aceita na conversação os temas de preferência dos moços e fala de esportes e de automóveis, e quando passa a ronda dos coquetéis bebe como gente grande. Esta diminuição do poder feminino sobre a sociedade é causa de que a convivência seja em nossos dias tão áspera. Inventora a mulher da “cortesia”, sua retirada do primeiro plano social trouxe o império da descortesia. Hoje não se compreenderia um fato como o acontecido no século XVII por motivo da beatificação de vários santos espanhóis — entre eles, Santo Inácio, S. Francisco Xavier e Santa Teresa de Jesus —. O fato foi que a beatificação sofreu uma longa demora pela disputa surgida entre os cardeais sobre quem devia entrar primeiro na oficial beatitude: a dama Cepeda ou os varões jesuítas.
El Sol, 3 de julho de 1927.
NOTAS
(1) — Veja-se o ensaio do autor intitulado "History as a System", no volume Philosophy and History. Homages to Ernst Cassirer, London, 1939 (V. edição espanhola Historia como sistema. Madrid, 1942). Veja-se o tomo VI das Obras Completas do autor.
(2) — É justo dizer que foi na França, só na França, onde se iniciou um esclarecimento e mise au point de todos estes conceitos. Em outro lugar achará o leitor alguma indicação sobre isto e, ainda mais, sobre a causa de que essa iniciação se malograsse. De minha parte procurei colaborar neste esforço de esclarecimento partindo da recente tradição francesa, superior nesta ordem de temas às demais. O resultado de minhas reflexões acha-se no livro, de próxima publicação, El hombre y la gente. Neste encontrará o leitor o desenvolvimento e justificação de tudo que acabo de dizer.
(3) — Monarchie universelle: deux opuscules, 1891, pag. 36.
(4) — Oeuvres completes (Calman-Lévy). Vol. XXII, pag. 248.
(5) — Na Inglaterra as listas de residências indicavam junto a cada nome o ofício e classe da pessoa. Por isso, junto ao nome dos simples burgueses aparecia a abreviatura s. nob., quer dizer, sem nobreza. Esta é a origem da palavra snob.
(6) — "La coexistence et le combat de principes divers". Guizot, Histoire de La Civilisation en Europe, pág. 35. Em um homem tão diferente de Guizot como Ranke encontramos a mesma idéia: “Logo que na Europa um princípio, seja qual for, tenta o domínio absoluto, encontra sempre uma resistência que se lhe opõe desde os mais profundos seios vitais.” Oeuvres complètes, 38, pág., 110. Em outro lugar (tomos 8 e 10, p. 3): “0 mundo europeu se compõe de elementos de origem diversa, em cuja ulterior contraposição e luta vêem precisamente desenvolver-se as mudanças das épocas históricas”. Não há nestas palavras de Ranke uma clara influência de Guizot? Um fator que impede ver certos estratos profundos da história do século XIX é que não esteja bem estudado o intercâmbio de idéias entre a França e a Alemanha, digamos de 1790 a 1830. Talvez o resultado desse estudo revelasse que a Alemanha recebeu nessa época muito mais da França que inversamente.
(7) — Com certa satisfação refere-se Mme. de Gasparin que falando o Papa Gregório XVI com o embaixador francês, dizia aludindo a ele: “E un gran ministro. Dicono que non ride mai”. Correspondance avec Mme. de Gasparin, p. 283.
(8) — Se o leitor deseja informar-se, encontrar-se-á, uma e outra vez, com a fórmula ilusória de que os doutrinários não possuíam uma doutrina idêntica, mas que variava de um para outro. Como se isto não acontecesse em toda escola intelectual e não constituísse a diferença mais importante entre um grupo de homens e um grupo de gramofones
(9) — Nestes últimos anos, M. Charles H. Pouthas tomou sobre si a fatigante tarefa de despojar os arquivos de Guizot e oferecer-nos numa série de volumes um material sem o qual seria impossível empreender a ulterior faina de reconstrução. Sobre Royer-Collard não há nem isso. No fim de tudo é preciso recorrer aos estudos de Faguet sobre o idearium de um e outro. Não há nada melhor, e embora sejam sumamente vivazes, são absolutamente insuficientes.
(10) — Por exemplo, ninguém pode ficar com a consciência tranqüila — entende-se que tenha “consciência” intelectual — quando interpretou a política de “resistência” como pura e simplesmente conservadora. É demasiado evidente que os homens Royer-Collard, Guizot, Broglie, não eram conservadores à-toa. A palavra “resistência”, que ao aparecer na citação de Ranke documenta o influxo de Guizot sobre este grande historiador, toma, por sua vez, uma súbita mudança de sentido e, por assim dizer, exibe-nos suas arcanas vísceras quando em um discurso de Royer-Collard lemos: “Les libertés publiques ne sont pas autre chose que des resistences”. (Veja-se de Barante: La vie et les discours de Royer-Collard, II, 130). Eis aqui uma vez mais a melhor inspiração européia reduzindo a dinamismo tudo que é estático. O estado de liberdade surte de uma pluralidade de forças que mutuamente se resistem. Mas os discursos de Royer-Collard são hoje tão pouco lidos que parecerá impertinência se digo que são maravilhosos, que sua leitura é uma pura delícia de intelecção, que é divertida e até alegre, e que constituem a última manifestação do melhor estilo cartesiano.
(11) — Veja-se o citado ensaio do autor: História como sistema.
(12) — Pretendem os alemães que foram eles os descobridores do social como realidade diferente dos indivíduos e “anterior” a estes. O Volksgeist parece-lhes uma de suas idéias mais autóctones. Este é um dos casos que mais recomendam o estudo minucioso do intercâmbio intelectual franco-germânico de 1790 a 1830 a que em nota anterior me refiro. Mas o termo Volksgeist mostra demasiado claramente que é a tradução do voltairiano esprit des nations. A origem francesa do coletivismo não é uma casualidade e obedece às mesmas causas que fizeram da França o berço da sociologia e de seu renovo em 1890 (Durkheim).
(13) — Veja-se Doctrine de Saint-Simon, com introdução e notas de C. Bouglé e E. Halévy (p. 204, nota). Além de que esta exposição do saint-simonismo, feita em 1829, é uma das obras mais geniais do século, o trabalho acumulado nas notas por MM. Bouglé e Halévy constitui uma das contribuições mais importantes que eu conheço ao efetivo esclarecimento da alma européia entre 1800 e 1830.
(14) — Obra fácil e útil que alguém deveria empreender, seria reunir os prognósticos que em cada época se fazem sobre o futuro próximo. Eu colecionei os suficientes para ficar estupefato ante o fato de que tenha havido sempre alguns homens que prevêem o futuro.
(15) — Stuart Mill: La liberté, trad. Dupont-White (páginas 131-132).
(16) — Gesammelte Schriften, I, 106.
(17) — Histoire de Jacques II, I, 843.
(18) — “Je trouve même que des opinions approchantes s’insinuant peu à peu dans l’esprit des hommes du grand monde, qui réglent les autres et dont dépendent les affaires, et se glissant dans les livres à la mode disposent toutes choses à la révolution générale dont d’Europe est menacée”. Nouveaux Essais sur l’entendement humain, IV, Chap. 16. O que demonstra duas coisas. Primeira: que um homem, em 1700, data aproximada em que Leibniz escrevia isto, era capaz de prever o que aconteceu um século depois; segunda: que os males presentes da Europa são oriundos de regiões mais profundas cronológica e virtualmente do que sói presumir-se
(19) — “... notre siècle qui se croit destiné à changer les lois en tout genre...” D’Alembert: Discours préliminaire à l’Enciclopédie. Oeuvres: 1,56 (1821).
(20) — “Cette honnête, irreprochable, mais imprévoyante et superficielle révolution de 1848 eut pour conséquence, au bout de moins d’un an, de donner le pouvoir à l’élement le plus pesant, le moins clairvoyant, le plus obstinément conservateur de notre pays”. Renan: Questions contemporaines, XVI. Renan, que em 1848 era jovem e simpatizou com aquele movimento, vê-se obrigado na sua madureza a fazer algumas reservas benévolas a seu favor, supondo que foi “honrado e irreprochável”.
(21) — J. B. Carré: La Philosophie de Fontenelle, pág. 143.
(22) — Veja-se História como sistema.
(23) — Em seu prólogo a sua tradução de La Liberté, de Stuart Mill, pag. 44.
(24) — Não é uma simples maneira de falar, mas sim verdade ao pé da letra, posto que valha na ordem onde a palavra “vigência” tem hoje seu sentido mais imediato, a saber, no direito. Na Inglaterra, “aucune barrière entre le présent et le passé. Sans discontinuité le droit positif remonte dans l’histoire jusqu’aux temps immémoriaux. Le droit anglais est un droit historique. Juridiquement parlant, il n’y a pas “d’ancien droit anglais”. Don, en Anglaterre tout le droit est actuel, quel qu’en soit l’âge”. Lévy-Ullmann: Le système juridique de l’Anglaterre, I, págs. 38/39.
(25) — Veja-se o ensaio Hegel y América, 1928, e os artigos sobre Los Estados Unidos, publicados pouco depois. (Vejam-se, respectivamente, os tomos II e IV de Obras Completas).
(26) — Em meu livro España Invertebrada, publicado em 1921, num artigo de El Sol, intitulado “Masas” (1926) e em duas conferências dadas na Associação Amigos del Arte, em Buenos Aires (1928), ocupei-me do tema que o presente ensaio desenvolve. Meu propósito agora é recolher e completar o que eu disse então, de modo que surta uma doutrina orgânica sobre o fato mais importante de nosso tempo.
(27) — O trágico daquele processo é que, enquanto se formavam estas aglomerações, começava o despovoamento das campinas, que havia de trazer a diminuição absoluta no número dos habitantes do Império.
(28) — Veja-se España invertebrada, 1921, data de sua primeira publicação como série de artigos no jornal diário El Sol. (Veja-se pág. 35 do tomo III das Obras Completas).
Aproveito esta oportunidade para fazer notar aos estrangeiros que generosamente escrevem sobre meus livros, e encontram, às vezes, dificuldades para precisar a data de seu primeiro aparecimento, o fato de que quase toda a minha obra saiu ao mundo usando a máscara de artigos jornalísticos; muita parte dela levou muitos anos em atrever-se a ser livro (1946).
(29) — Nos cunhos das moedas de Adriano lêem-se coisas como estas: Italia Felix, Saeculum aureum, Tellus stabilita, Temporum felicitas. À parte o grande repertório numismático de Cohen, vejam-se algumas moedas reproduzidas em Rostovtzeff: The social and economic history of the Roman Empire, 1926, lâmina LII e 588, nota 6.
(30) — Não se deixem de ler as maravilhosas páginas de Hegel sobre os tempos satisfeitos em sua Filosofia de la historia, tradução de José Gaos. Revista de Occidente, 1a. edição, tomo I, págs. 41 e seguintes.
(31) — O sentido original de “moderno”, “modernidade” com que os últimos tempos se batizaram a si mesmos, expressa mui agudamente essa sensação de “altura dos tempos”, que agora analiso. Moderno é o que está posto segundo o modo: entende-se o modo novo, modificação ou moda que em tal presente tenha surgido ante os modos velhos, tradicionais, que se usaram no passado. A palavra “moderno” expressa, pois, a consciência de uma nova vida, superior à antiga, e ao mesmo tempo o imperativo de estar à altura dos tempos. Para o “moderno”, não sê-lo eqüivale a cair baixo o nível histórico.
(32) — La deshumanización del arte. (Veja-se pág. 353 do tomo III de Obras Completas).
(33) — Precisamente porque o tempo vital do homem é limitado, precisamente porque é mortal, necessita triunfar da distância e da tardança. Para um Deus cuja existência é imortal, careceria de sentido o automóvel.
(34) — No pior caso, e quando o mundo parecera reduzido a uma única saída, sempre haveria duas: essa e sair do mundo. Mas a saída do mundo forma parte deste, como de uma habitação a porta.
(35) — Assim, já no prólogo de meu primeiro livro: Meditaciones del Quijote, 1916. Nas Atlântidas aparece sob o nome de horizonte. Veja-se o ensaio El origen deportivo del Estado, 1926, recolhido no tomo VII del El Espectador. (Veja-se a pág. 607 do tomo II de Obras Completas).
(36) — O mundo de Newton era infinito; mas essa infinitude não era um tamanho, mas uma vazia generalização, uma utopia abstrata e inane. O mundo de Einstein é finito, mas cheio e concreto em todas as partes; portanto, um mundo mais rico de coisas e, efetivamente, de maior tamanho.
(37) — A liberdade de espírito, quer dizer, a potência do intelecto, mede-se por sua capacidade de dissociar idéias tradicionalmente inseparáveis. Dissociar idéias custa muito mais que associá-las, como demonstrou Köhler em suas investigações sobre a inteligência dos chimpanzés. Jamais o entendimento humano teve como agora maior capacidade de dissociação.
(38) — Esta é a origem radical dos diagnósticos de decadência. Não que sejamos decadentes, mas que, dispostos a admitir toda possibilidade, não excluímos a da decadência.
(39) — Veremos, entretanto, como cabe receber do passado, já que não uma orientação positiva, certos conselhos negativos. Não nos dirá o pretérito o que devemos fazer, mas o que devemos evitar.
(40) — Hermann Weyl, um dos maiores físicos atuais, companheiro e continuador de Einstein, costuma dizer em conversação privada que se morressem subitamente dez ou doze determinadas pessoas, é quase certo que a maravilha da física atual se perderia para sempre na humanidade. Foi necessária uma preparação de muitos séculos para acomodar o órgão mental à abstrata complicação da teoria física. Qualquer evento poderia aniquilar tão prodigiosa possibilidade humana, que é, além do mais, base da técnica futura.
(41) — Por muito rico que um indivíduo fosse em relação com os demais, como a totalidade do mundo era pobre, a esfera de facilidades e comodidades que sua riqueza podia proporcionar-lhe era muito reduzida. A vida do homem médio é hoje mais fácil, cômoda e segura que a do mais poderoso em outro tempo. Que lhe importa não ser mais rico que outros, se o mundo o é e lhe proporciona magnificas estradas de rodagem, de ferro, telégrafo, hotéis, segurança física e aspirina?
(42) — Abandonada à sua própria inclinação, a massa, seja qual seja, plebéia ou “aristocrática”, tende sempre, por afã de viver, a destruir as causas de sua vida. Sempre me pareceu uma caricatura engraçada dessa tendência a propter vitam, vivendi perdere causas, o que aconteceu em Nijar, povoado próximo a Almería, quando, em 13 de setembro de 1759, se proclamou rei a Carlos III. Fez-se a proclamação na praça da vila. “Depois mandaram trazer de beber a todo aquele grande concurso, o qual consumiu setenta e sete arrobas de vinhos e quatro odres de aguardente, cujo espírito os acalorou de tal modo, que com repetidos “vivas!” se encaminharam ao depósito municipal de trigo e de suas janelas arrojaram o cereal que nele havia e 900 reais de suas caixas. Dali passaram ao Estanco do Tabaco e mandaram jogar fora o dinheiro da Mesada, e o tabaco. Nas lojas fizeram o mesmo, mandando derramar, para mais autorizar a função, quantos gêneros líquidos e comestíveis havia nelas. O Estado eclesiástico concorreu com igual eficácia, pois em altas vozes induziram as mulheres a sacudir fora o que havia nas suas casas, o que executaram com o maior desinteresse, pois não restou nelas pão, trigo, farinha,cevada, pratos, caçarolas, almofarizes, morteiros, nem cadeiras, ficando a vila destruída: Segundo um papel do tempo em poder do senhor Sánchez de Toca, citado em Reinado de Carlos III, pelo senhor Manuel Danvila, tomo II, pág. 10, nota 2, Este povoado, para viver sua alegria monárquica, aniquila-se a si mesmo. Admirável Nijar! Teu é o porvir!
(43) — É intelectualmente massa aquele que ante um problema qualquer se contenta com pensar o que boamente encontra em sua cabeça. É, pelo contrário, egrégio aquele que desestima o que acha sem prévio esforço em sua mente, e só aceita como digno dele aquilo que está acima dele e exige um novo estirão para alcançá-lo.
(44) — Veja-se España invertebrada (1922), pág. 156. (Veja-se pag. 35 do tomo III de O. C.).
(45) — Como no anterior trata-se só de retrotrazer o vocábulo “nobreza” a seu sentido primordial, que exclui a herança, não há oportunidade para estudar o fato de que tantas vezes apareça na história uma “nobreza de sangue”. Fica, pois, intacta esta questão.
(46) — Veja-se El origen deportivo del Estado, em El Espectador, tomo VII. (Veja-se página 607 do tomo II de O. C.)
(47) — Sobre a indocilidade das massas, especialmente das espanholas, já falei em España invertebrada (1922), e ao dito ali remeto-me. (Veja-se pág. 35 do tomo III de O. C.)
(48) — Muitas vezes levantei de mim para mim a seguinte questão: é indubitável que sempre teve de ser para muitos homens um dos tormentos mais angustiosos de sua vida o contacto, o choque com a imbecilidade alheia. Como é possível, entretanto, que não se tenha tentado nunca — parece-me — um estudo sobre ela, um ensaio sobre a imbecilidade?
(49) — Não se pretenda escamotear a questão: todo opinar é teorizar.
(50) — Se alguém em sua discussão conosco se desinteressasse de se ajustar à verdade, se não tem vontade de ser verídico, é intelectualmente um bárbaro. De fato, essa é a posição do homem-massa quando fala, dá conferências ou escreve.
(51) — Não é preciso dizer que quase ninguém levará a sério estas expressões, e os melhores intencionados as entenderão como simples metáforas, talvez comoventes. Só algum leitor bastante ingênuo para não crer que sabe já definitivamente o que é a vida, ou, pelo menos, o que não é, se deixará ganhar pelo sentido primário destas frases e será precisamente quem — verdadeiras ou falsas — as entenda. Entre os demais reinará a mais efusiva unanimidade, com esta única diferença: uns pensarão que, falando a sério, vida é o processo existencial de uma alma, e os outros, que é uma sucessão de reações químicas. Não creio que melhore minha situação ante leitores tão herméticos resumir toda uma maneira de pensar dizendo que o sentido primário e radical da palavra vida aparece quando a empregamos no sentido de biografia e não no de biologia. Pela fortíssima razão de que toda biologia é em definitivo só um capítulo de certas biografias, é o que em sua vida (biografável) fazem os biólogos. Outra coisa é abstração, fantasia e mito.
(52) — Esta folga de movimentos ante o passado não é, pois, uma petulante rebeldia, mas, pelo contrário, uma claríssima obrigação de toda “época crítica”. Se eu defendo o liberalismo do século XIX contra as massas que incivilmente o atacam, não quero dizer que renuncie a uma plena liberdade diante desse próprio liberalismo. Vice-versa: o primitivismo que neste ensaio aparece sob seu pior aspecto é, por outra parte, e em certo sentido, condição de todo grande avanço histórico. Veja-se o que, não há poucos anos, dizia eu sobre isto no ensaio “Biologia e Pedagogia”, El Espectador, tomo III. “O paradoxo do selvagismo”. (Página 281 do tomo II de O. C.)
(53) — Daí que, a meu juízo, não diz nada quem supõe haver dito algo definindo a América do Norte por sua “técnica”. Uma das coisas que perturbam mais gravemente a consciência européia é o conjunto de juízos pueris sobre a América do Norte que se ouvem expendidos até pelas pessoas mais cultas. É um caso particular da desproporção que mais adiante aponto entre a complexidade dos problemas atuais e a capacidade das mentes.
(54) — A rigor, a democracia liberal e a técnica se implicam e inter-supõem por sua vez tão estreitamente que não é concebível uma sem a outra, e, portanto, fora desejável um terceiro nome, mais genérico, que incluísse ambas. Esse seria o verdadeiro nome, o substantivo da última centúria.
(55) — Não falemos de questões mais internas. A maior parte dos investigadores mesmos não têm hoje a mais leve suspeita da gravíssima, perigosíssima crise íntima que hoje atravessa sua ciência.
(56) — Aristóteles: Metafísica, 893 a 10.
(57) — Centuplica a monstruosidade do fato que — como indiquei — todos os demais princípios vitais — política, direito, arte, moral, religião — se acham efetivamente e por si mesmos em crise, em, pelo menos, transitória falha. Só a ciência não falha, pelo contrário, dia a dia cumpre com fabulosos acréscimos quanto promete e mais do que promete. Não tem, pois, concorrência, não cabe desculpar o desapego por ela supondo o homem médio distraído por algum outro entusiasmo de cultura.
(58) — Já aqui entrevemos a diferença entre o estado das ciências de uma época e o estado de sua cultura, que daqui a pouco ocupará a nossa atenção.
(59) — Uma geração atua em média durante trinta anos. Mas essa atuação divide-se em duas etapas e toma duas formas: durante a primeira metade — aproximadamente — desse período, a nova geração faz a propaganda de suas idéias, preferências e gostos, os quais, finalmente, adquirem vigência e são o dominante na segunda metade de sua carreira. Mas a geração educada sob seu império traz consigo outras idéias, preferências e gostos, que começa a injetar no ar público. Quando as idéias, preferências e gostos da geração imperante são extremistas, e por isso revolucionários, a nova geração é anti-extremista e anti-revolucionária, quer dizer, de alma substancialmente restauradora. Claro que não se deve entender restauração como simples “volta ao antigo”, o que jamais foram as restaurações.
(60) — Não se confunda o aumento, e ainda a abundância de meios, com a sobra. No século XIX aumentavam as facilidades de vida, e isso produz o prodigioso crescimento — quantitativo e qualitativo — da própria vida como apontei acima. Mas chegou um momento em que o mundo civilizado, posto em relação com a capacidade do homem médio, adquiria um aspecto demasiado, excessivamente rico, supérfluo. Apenas um exemplo disto: a segurança que parecia oferecer o progresso (aumento sempre crescente de vantagens vitais) desmoralizou o homem médio, inspirando-lhe uma confiança que é já falsa, atrófica, viciosa.
(61) — Nisto, como em outras coisas, a aristocracia inglesa parece uma exceção do dito. Mas, o ser seu caso admirabilíssimo, bastaria desenhar as linhas gerais da história britânica para patentear que esta exceção, embora o seja, confirma a regra. Contra o que sói dizer-se, a nobreza inglesa tem sido a menos “sobrada” da Europa e tem vivido em mais constante perigo que nenhuma outra. E porque tem vivido sempre em perigo soube e conseguiu sempre fazer-se respeitar — o que supõe haver permanecido sem descanso na brecha —. Esquece-se o dado fundamental de que a Inglaterra tem sido, até mui avançado o século XVIII, o país mais pobre do Ocidente. A nobreza salvou-se por isso mesmo. Como não era abundante de meios, teve de aceitar, é evidente, a ocupação comercial e industrial — ignóbil no continente —, isto é, decidiu-se muito cedo a viver economicamente em forma criadora, e a não ater-se aos privilégios.
(62) — Veja-se Olbricht: Klima und Entwicklung, 1923.
(63) — O que é a casa ante a sociedade, é-o em escala maior a nação ante o conjunto das nações. Uma das manifestações, ao mesmo tempo, mais claras e volumosas do “senhoritismo” vigente é, como veremos, a decisão que algumas nações tomaram de “fazer o que está na sua vontade” na convivência internacional. A isso chamam ingenuamente “nacionalismo”. E eu, que sinto asco pela sujeição beata à internacionalidade, acho, por outra parte, grotesco esse transitório “senhoritismo” das nações menos gradas.
(64) — Quem crê copernicamente que o sol não cai no horizonte, continua vendo-o cair, e como o ver implica uma convicção primária, continua crendo. O que acontece é que sua crença científica detém, constantemente, os efeitos de sua crença primária ou espontânea. Assim, este católico nega com sua crença dogmática, sua própria, autêntica crença liberal. Esta alusão ao caso desse católico vai aqui só como exemplo para esclarecer a idéia que agora exponho; mas não se refere a ele a censura radical que dirijo ao homem-massa de nosso tempo, ao “mocinho satisfeito”. Coincide com este só num ponto. O que lanço em rosto ao “mocinho satisfeito” é a falta de autenticidade em quase todo o seu ser. Mas ainda esta coincidência parcial é só aparente. O católico não é autêntico em uma parte de seu ser — tudo que tem, queira ou não, de homem moderno — porque quer ser fiel a outra parte efetiva de seu ser que é sua fé religiosa. Isto significa que o destino desse católico é em si mesmo trágico. E ao aceitar essa porção de inautenticidade cumpre com seu dever. O “mocinho satisfeito”, pelo contrário, deserta de si mesmo por mera frivolidade e de tudo — precisamente para escapulir a toda tragédia.
(65) — Envilecimento, acanalhamento, não é outra coisa senão o modo de vida que resta a quem se negou a ser o que tem que ser. Este seu autêntico ser não morre por isso, mas converte-se em sombra acusadora, em fantasma, que lhe faz sentir constantemente a inferioridade da existência que leva a respeito da que tinha que levar. O envilecido é o suicida sobrevivente.
(66) — Para que a filosofia impere, não é mister que os filósofos imperem — como Platão quis primeiro —, nem sequer que os imperadores filosofem — como quis, mais modestamente, depois —. Ambas as coisas são, a rigor, funestíssimas. Para que a filosofia impere, basta que haja filosofia, quer dizer. basta que os filósofos sejam filósofos. Há quase uma centúria os filósofos são tudo, menos isso — são políticos, são pedagogos, são literatos ou são homens de ciência.
(67) — Veja-se España invertebrada, 1a. edição, 1921. (Veja-se pag. 35 do tomo III das Obras Completas).
(68) — Esta imagem simples da grande mudança histórica em que se substitui a supremacia dos nobres pelo predomínio dos burgueses deve-se a Ranke; mas claro é que sua verdade simbólica e esquemática requer não poucos aditamentos para ser completamente verdadeira. A pólvora é conhecida de tempo imemorial. A invenção da carga num tubo deveu-se a alguém da Lombardia. Ainda assim, não foi eficaz até que se inventou a bala fundida. Os “nobres” usaram em pequenas doses a arma de fogo mas era demasiado cara. Só os exércitos burgueses, melhor organizados economicamente, puderam empregá-la em grande escala. Fica, não obstante, como literalmente certo que os nobres foram derrotados de maneira definitiva pelo novo exército, não representados pelo exército de tipo medieval dos borguinhãos, profissional, mas de burgueses, que formaram os suíços. Sua força primária consistiu na nova disciplina e na nova racionalização da tática.
(69) — Mereceria a pena insistir sobre este ponto e fazer notar que a época das Monarquias absolutas européias operou com Estados muito débeis. Como se explica isto? Já a sociedade em torno começava a crescer. Por que, se o Estado tudo podia — era “absoluto” —, não se fazia mais forte? Uma das causas é a apontada: incapacidade técnica, racionalizadora, burocrática, das aristocracias de sangue. Mas não basta isso. Além disso aconteceu no Estado absoluto que aquelas aristocracias não quiseram ampliar o Estado à custa da sociedade. Contra o que se crê, o Estado absoluto respeita instintivamente a sociedade muito mais que o nosso Estado democrático, mais inteligente, mas com menos sentido da responsabilidade histórica.
(70) — Recordem-se as últimas palavras de Septimio Severo a seus filhos: Permanecei unidos, pagai ao soldado e desprezai o resto.
(71) — Veja-se Elie Halévy: Histoire du peuple anglais au XIXe. siècle (tomo I, pág. 40, 1912).
(72) — Veja-se o ensaio “Hegel y América” em El Espectador. Tomo VII, 1930. (Veja-se pág. 563 do tomo II de O. C.)
(73) — Veja-se o ensaio Sobre la muerte de Roma, em El Espectador. Tomo VI, 1927. (Veja-se pág. 537 do tomo II de O. C.)
(74) — Isto é o que faz a razão física e biológica, a “razão naturalista”, demonstrando com isso que é menos razoável que a “razão histórica”. Porque esta, quando trata a fundo das coisas e não de soslaio como nestas páginas, nega-se a reconhecer como absoluto nenhum fato. Para ela, raciocinar consiste em fluidificar todo fato descobrindo sua gênese. Veja-se, do autor, o ensaio Historia como sistema (R. de O., 2a. edição). (Veja-se o tomo VI de O. C.)
(75) — Seria interessante mostrar como na Catalunha colaboram duas inspirações antagônicas: o nacionalismo europeu e o cidadanismo de Barcelona, em que pervive sempre a tendência do velho homem mediterrâneo. Eu já disse outra vez que o levantino é o resto do homo antiquus que há na Península.
(76) — Homogeneidade jurídica que não implica forçosamente centralismo.
(77) — O sentido desta abrupta asseveração supõe que uma idéia clara sobre o que é a política, toda política — a “boa” como a má — se achará no tratado sociológico do autor intitulado El Hombre y la Gente.
(78) — Veja-se do autor “El origen deportivo del Estado”. em El Espectador, tomo VII, 1930. (Veja-se página 607 do tomo II de O. C.)
(79) — Veja-se Dopsch: Fundamentos económicos y sociales de la civilización europea. Segunda edição 1924, tomo II páginas 3 e 4.
(80) — Os romanos não se resolveram a chamar cidades às povoações dos bárbaros, por mui denso que fosse o casario. Chamavam-nas “faute de mieux”, sedes aratorum.
(81) — Sabido é que o Império de Augusto é o contrário do que seu pai adotivo, César, aspirou a instaurar. Augusto opera no sentido de Pompeu, dos inimigos de César. Até hoje, o melhor livro sobre o assunto é o de Eduardo Meyer: La Monarquia de César y el Principado de Pompeyo, 1918.
(82) — Nem sequer como puro fato é verdade que todos os espanhóis falem espanhol, nem todos os ingleses inglês, nem todos os alemães alto-alemão.
(83) — Ficam fora, está claro, os casos de Koinón e língua franca, que não são linguagens nacionais, mas especificamente internacionais.
(84) — Confirma isto o que a primeira vista parece controvertê-lo: a concessão da cidadania a todos os habitantes do Império. Pois a conseqüência é que esta concessão foi feita precisamente à medida que ia perdendo seu caráter de estatuto político, para se converter ou em simples carga e serviço do Estado ou em mero título de direito civil. De uma civilização em que a escravidão tinha valor de princípio não se podia esperar outra coisa. Para nossas “nações”, pelo contrário, foi a escravidão um simples fato residual.
(85) — Segundo isso, o ser humano tem irremediavelmente uma constituição futurista; quer dizer, vive antes de tudo no futuro e do futuro. Não obstante, eu contrapus o homem antigo ao europeu, dizendo que aquele é relativamente fechado ao futuro, e este, relativamente aberto. Há, pois, aparente contradição entre uma e outra tese. Surge essa aparência quando se esquece que o homem é um ente de dois andares: por um lado é o que é; por outro tem idéias sobre si mesmo que coincidem mais ou menos com sua autêntica realidade. Evidentemente, nossas idéias, preferências, desejos, não podem anular nosso verdadeiro ser, mas sim complicá-lo ou modulá-lo. O antigo e o europeu estão igualmente preocupados com o porvir; mas aquele submete o futuro ao regime do passado, enquanto nós deixamos maior autonomia ao futuro, ao novo como tal este antagonismo, não no ser, mas no preferir, justifica que qualifiquemos o europeu de futurista e o antigo de arcaizante. É revelador que apenas o europeu desperta e toma posse de si, começa a chamar a sua vida “época moderna”. Como é sabido, “moderno” quer dizer o novo, o que nega o uso antigo. Já nos fins do século XW começa-se a sublinhar a modernidade, precisamente nas questões que mais agudamente interessavam ao tempo, e fala-se, por exemplo, de devotio moderna, uma espécie de vanguardismo na “mística teologia”.
(86) — O princípio das nacionalidades é, cronologicamente, um dos primeiros sintomas do romanticismo — fins do século XVIII.
(87) — Agora vamos assistir a um exemplo gigantesco e claro, como de laboratório; vamos ver se a Inglaterra acerta a manter em unidade soberana de convivência as diferentes porções de seu Império, propondo-lhe um programa atrativo.
(88) — Se bem essa homogeneidade respeita e não anula a pluralidade de condições originárias.
(89) — Bastaria isso para se convencer de uma vez para sempre que o socialismo de Marx e o bolchevismo são dois fenômenos históricos que apenas têm alguma dimensão comum.
(90) — Estas páginas foram publicadas no número de junho de 1937 na revista The Nineteenth Century.
(91) — Certa dose de anacronismo é conatural à política. É esta um fenômeno coletivo, e todo o coletivo ou social é arcaico relativamente à vida pessoal das minorias inventoras. Na medida em que as massas se distanciam destas aumenta o arcaísmo da sociedade, e de uma magnitude normal, constitutiva, passa a ser um caráter patológico. Se se repassa a lista das pessoas que intervieram na criação da Sociedade das Nações, conclui-se que é muito difícil encontrar alguma que merecesse então, e muito menos mereça agora, estimação intelectual. Não me refiro, é claro, aos “experts” e aos técnicos, obrigados a desenvolver e executar os desatinos daqueles políticos.
(92) — Os ingleses, com bom acordo, preferiram chamá-la de “liga”. Isso evita o equívoco, mas, ao mesmo tempo, situa a agrupação de Estados fora do direito, consignando-a francamente à política.
(93) — Sobre a unidade e a pluralidade da Europa, contempladas de outra perspectiva, veja-se o Prólogo para franceses, nesta obra.
(94) — A sociedade européia não é, pois, uma sociedade cujos membros sejam as nações. Como em toda autêntica sociedade, seus membros são homens, indivíduos humanos, a saber, os europeus, que além de ser europeus são ingleses, alemães, espanhóis.
(95) — Por exemplo: as apelações a um suposto “mundo civilizado” ou a uma “consciência moral do mundo”, que tão freqüentemente fazem sua cômica aparição nas cartas ao diretor de The Times.
(96) — Há cento e cinqüenta anos a Inglaterra fertiliza sua política internacional mobilizando sempre que lhe convém — e só quando lhe convém — o princípio melodramático de “women and children”, “mulheres e crianças”; eis ai um exemplo.
(97) — Ficam fora da consideração os que podemos chamar de “inventos elementais” — o machado, o fogo, a roda, o canastro, a vasilha, etc. —. Precisamente por ser o suposto de todos os demais e haver sido conseguidos em períodos milenares, é muito difícil sua comparação com a massa dos inventos derivados ou históricos.
(98) — Acrescente-se que nessas opiniões jogavam sempre grande papel as vigências comuns a todo Ocidente,
(99) — Neste mês de abril, o correspondente de The Times em Barcelona envia a seu jornal uma informação onde procura os dados mais minuciosos e as cifras mais exatas para descrever a situação. Mas todo o raciocínio do artigo que mobiliza e dá um sentido a esses dados minuciosos e a essas cifras exatas, parte de supor, como de coisa sabida e que tudo explica, o haver sido nossos antepassados os mouros. Basta isso para demonstrar que esse correspondente, qualquer que seja sua operosidade e sua imparcialidade, é absolutamente incapaz de informar sobre a realidade da vida espanhola. É evidente que uma nova técnica de mútuo conhecimento entre os povos reclama uma reforma profunda da fauna jornalística.
(100) — Os perigos maiores que como nuvens negras ainda se amontoam no horizonte, não provêem diretamente do quadrante político, mas do econômico. Até que ponto é inevitável uma pavorosa catástrofe econômica em todo o mundo? Os economistas deviam dar-nos ocasião para que cobrássemos confiança em seu diagnóstico. Mas não mostram nenhuma pressa.
(101) — Tradução inglesa do presente livro. George Allen & Unwin, Londres.
(102) — Até o ponto de existir em certos povos primitivos dois idiomas, um que só falam os homens e o outro só para as mulheres.
(103) — Há, sem dúvida, um fator que colabora nestas mudanças como em todos os do organismo vivo, mas resisto a considerá-lo decisivo. É o contraste. A vida tem a condição inexorável de se cansar, de se embotar para um estímulo, e ao mesmo tempo, reabilitar-se para o estímulo oposto. Se no estilo pictórico as figuras aparecem em posição vertical, é sumamente provável que pouco tempo depois surgirá outro estilo com as figuras em posição diagonal (mudança da pintura italiana de 1.500 a 1.600).
(104) — Não se explica, a meu juízo, a origem de certas coisas humanas, entre elas o Estado, se não se supõe em épocas muito primitivas uma etapa de enorme predomínio dos jovens que deixou, com efeito, muitos vestígios positivos nos povos selvagens do presente.
(105) — Quem quisesse contar-nos com algum detalhe a guerra de Numância, as conseqüências que trouxe para a vida romana, mudanças políticas, reforma das instituições, etc., faria uma boa obra. Porque o paralelismo com o momento presente da Espanha é surpreendente e luminoso.
(106) — Do ponto de vista mais geral, que, portanto, não contradiz o dito agora, tem sentido dizer que a vida não é senão juventude, ou que na juventude culmina a vida, ou que viver é ser jovem, e o resto é desviver. Mas isto vale para um conceito mais minucioso de juventude que o habitualmente usado e ao qual este ensaio se acolhe.
(107) — Um exemplo destes combates em que a vitória efetiva não deu, sem embargo, o triunfo ao combatente, pode ser visto na ordem pública. Os que combateram e em realidade venceram a velha política pseudo-parlamentária, foram os “intelectuais” dessa geração. E, entretanto, por razões de curioso espelhismo histórico, o triunfo foi gozado pelos que não combateram nunca esse regime enquanto foi poderoso.
(108) — O dia que se faça em sério a história do último século, ver-se-á que essa geração é a efetivamente culpada do desajuste atual da Europa.
(109) — Tenho idéia de que Freud se ocupa minuciosamente deste fato. Como fazem dezesseis anos que li esse autor, não recordo bem em que obra trata o assunto; mas com alguma probabilidade dirijo o leitor à que então se intitulava Três ensaios sobre teoria sexual.
(110) — Veja-se a Cronaca, de Fra Salimbene (Parma; 1957, páginas 94/102).
(111) — “Só para louvar as damas”, diz o trovador Giraud de Bornelh.
(112) — Por isto a estimação do escritor na Espanha é sempre falsa e a rigor mais obra da boa vontade que de sincero entusiasmo. Pelo contrário, na França tem o escritor um formidável poder social. Simplesmente porque os franceses entendem de literatura.
(113) — Achille Luchaire, La société française au temps de Philippe Auguste, pág. 376.
Copyright:
José Ortega y Gasset
Copyright da tradução:
Herrera Filho
Copyright da edição eletrônica:
Ed. Ridendo Castigat Mores
Versão para eBook
eBooksBrasil.org
__________________
Agosto 2001
Versão para pdf Fevereiro 2005
Proibido todo e qualquer uso comercial.
Se você pagou por esse livro
VOCÊ FOI ROUBADO!
Você tem este e muitos outros títulos GRÁTIS
direto na fonte:
www.eBooksBrasil.org
eBookLibris © eBooksBrasil.org