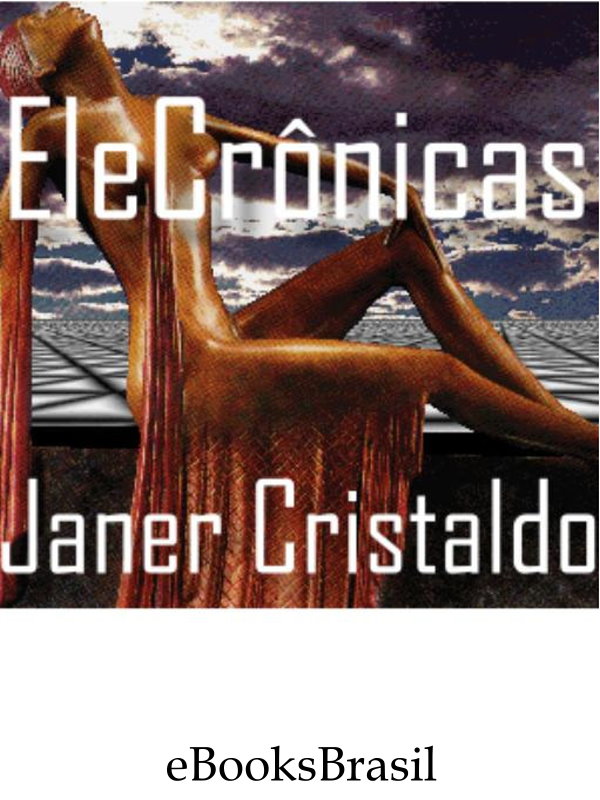
EleCrônicas (1999)
Janer Cristaldo (1947– )
Crônicas publicadas em
www.baguete.com.br
Edição em eBook
eBooksBrasil.org
www.eBooksBrasil.org
Copyright
©2000-2006 Janer Cristaldo
cristal@altavista.net
ÍNDICE
O Autor
EleCrônicas
Intifada em Paris — dez 98
Nobel e Vigarices — dez 98
Sobre Padres e Ratos — jan 99
Lúbricos Barcos no Báltico — jan 99
O Cinismo como Método — jan 99
Gente Fina — jan 99
O Vice-Deus nos States — fev 99
Samba, Suor e Globeleza — fev 99
A noite Ameaçada — fev 99
Catita e Teresa — 05/03/99
Sobre Críticos e Psicanalistas — 12/03/99
Intelectuais Orais — 19/03/99
Central promove Brasil — 29/03/99
Cambalache em Curitiba — 09/04/99
Fuga para o Oriente — 16/04/99
Aos Gurus de Indaiatuba — 23/04/99
Zelotismo Ilhéu — 30/04/99
Males Gálicos — 07/05/99
Deus com Grife — 14/05/99
O Guru e a Cidade — 21/05/99
Doña Manolita e as Pesquisas — 28/05/99
Coisas Nossas — 04/06/99
Esprit du Siècle — 11/06/99
Pá de Cal na Tumba do Santo Gaúcho — 18/06/99
Perfume de Romênia — 25/06/99
Dr. Castro e o Continente Puñetero — 02/07/99
A Mula de Maomé e Outras Questões de Fé — 09/07/99
Ressuscitando Babel — 16/07/99
Como fugir do Milênio — 23/07/99
Swift e a Justiça Fiscal — 30/07/99
Lá onde tudo é lucro — 06/08/99
Miséria invade Cumbica — 13/08/99
O Mau Cheiro do Deus Morto — 20/08/99
Aiatolá Grigori — 27/08/99
A Nova Moeda Argentina — 03/09/99
O Analfabetismo Avança — 10/09/99
Um Bom Dia para Comprar — 17/09/99
Nós, os Pedófilos — 24/09/99
O Sonho de Lobato — 01/10/99
Sobre Ratos e Queijos — 08/10/99
O Conto do Sobrevivente — 15/10/99
Sobre Carros e Shoppings — 22/10/99
O Ministro e o Carma Nosso — 29/10/99
A Megamissa e a Ralé — 05/11/99
Conversando com Maria — 12/11/99
Queda do Muro chega ao Brasil — 19/11/99
Dormindo com Big Brother — 03/12/99
Em Defesa de um Dogma — 10/12/99
A Lenda Avança — 17/12//99
Faltou Pinel na Terra Santa — 24/12/99
O Fim dos Tempos — 31/12/99
SOBRE O AUTOR
Nasceu em 1947, em Santana do Livramento, RS. Formou-se em Direito e Filosofia. Iniciou-se em jornalismo no extinto Diário de Notícias, Porto Alegre. Escreveu no Correio do Povo e Folha da Manhã. Nos anos 71 e 72, exilou-se voluntariamente em Estocolmo, onde estudou cinema e língua e literatura suecas.
De volta ao Brasil, publicou suas primeiras traduções: Kalocaína, de Karin Boye (do sueco), e Crônicas de Bustos Domecq, de Jorge Luís Borges e Adolfo Bioy Casares (do espanhol). Em 1973, publicou O Paraíso Sexual Democrata, que teve quatro edições no Brasil e uma em espanhol, em Buenos Aires, proibida na Argentina. Em 1975, passa a assinar coluna diária para a Folha da Manhã, Porto Alegre. Em 77, recebe bolsa do governo francês para um doutorado em Letras Francesas e Comparadas. De Paris, mantém correspondência diária para a Folha da Manhã. Em 1981, doutorou-se pela Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III), com a tese La Révolte chez Ernesto Sábato et Albert Camus, traduzida ao brasileiro sob o título de Mensageiros das Fúrias, que tem uma edição eletrônica em eBooksBrasil.org. Ainda em Paris, iniciou a tradução da obra ficcional e ensaística de Ernesto Sábato, a pedido do próprio autor.
No Brasil, foi professor visitante de Literatura Brasileira e Comparada, na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, de 1982 a 1986. Neste período, traduziu vários outros romances, introduzindo no universo literário brasileiro autores como Roberto Arlt, Camilo José Cela, José Donoso, Michel Déon e Michel Tournier. Em 86, publica seu primeiro romance, Ponche Verde, que tem como fulcro a peregrinação dos exilados brasileiros por Estocolmo, Berlim, Paris e Lisboa.
Estudou Língua e Literatura Espanholas em Madri. Foi redator de Política Internacional da Folha de São Paulo e do Estado de São Paulo. Atualmente, assina crônica no jornal eletrônico baguete.com.br
EleCrônicas
Janer Cristaldo
Intifada em Paris
Paris, outubro, outono. Os franceses exibem com orgulho sua última trouvaille tecnológica, o Météore, linha 14 do metrô, que vai da Grande Bibliothéque, monumento mastodôntico erigido por François Mitterrand, até a Madeleine, no centro da cidade, proximidades de Chez Fauchon, o mais sofisticado endereço gastronômico parisiense. Mitterrand, dado seu ar bonachão, era também conhecido como Tonton (titio), e a nova linha foi logo chamada de Tonton-Fauchon. Não tem condutor e é à prova de suicídios. Comandada por computadores, a composição fica separada do cais por uma parede de vidro. Ao chegar na estação, cada porta dos vagões coincide com uma porta da parede de vidro. Ambas se abrem na chegada do trem e fecham-se com sua partida. Para desespero de suicidas potenciais, na linha 14 não mais é possível jogar-se nos trilhos.
Estamos em 98, bem entendido. Três décadas após a “revolução” de Maio — trop de sperme, pas de sang —, nove anos depois da queda do Muro de Berlim, sete após o desmoronamento da URSS. Palavras como marxismo e luta de classes viraram verbetes de enciclopédias. Se o Météore fosse inaugurado dez anos atrás, os sindicatos teriam paralisado a cidade, acusando o novo transporte de roubar empregos da classe operária. E intelectual não faltaria para acusar o neoliberalismo de privar o proletariado do sagrado direito ao suicídio.
Em São Paulo estamos também em 98. A Prefeitura está modernizando algumas linhas de ônibus. Não eliminando o condutor, seria esperar demais do engenho tupiniquim. Mas pelo menos sem cobradores, estes trombolhos inúteis hoje só concebíveis em museus. Grita geral dos sindicatos e paralisação dos transportes: a globalização, o neoliberalismo — ou sei lá que neologismo — está roubando empregos dos trabalhadores. No Brasil, podemos estar em 98. Mas aqui o Muro ainda não caiu. A propósito, faça um teste: pergunte a um vestibulando ou universitário, qual fato determinante da história deste século ocorreu a 9 de novembro de 1989. Dezenove entre dez provavelmente não saberão do que você está falando.
Quanto a mim, falava de Paris. Na primeira quarta-feira de cada mês, talvez passe despercebido ao turista, ou se confunda com os ruídos da cidade, o reboar intenso de uma sirene ao meio-dia. A Segunda Guerra pode estar quase esquecida pelos contemporâneos, mas as Forças Armadas continuam testando o sistema de alarme antiaéreo da cidade. Aliás, comenta-se que o melhor dia para bombardear Paris seria precisamente a primeira quarta-feira do mês. O parisiense contemporâneo talvez já nem saiba por quem ou porque reboam as sirenes. E talvez nem tenha mesmo notado que o fim da Guerra Fria tornou a cidade mais limpa. Mortas as ideologias, a militância deixou de pichar muros e colar cartazes.
Mas nem tudo foi charme e beleza neste outono na sedizente Cidade Luz. Paris está hoje cercada por um cinturão de ressentimento, alimentado por imigrantes e filhos de imigrantes, que aproveitaram a última tentativa de um revival de 68 para invadir a Paris intra muros e saquear, depredar e incendiar lojas e carros. O que pretendia ser uma reivindicação de universitários saudosos da “revolução” de Maio, logo transformou-se em caos sem palavra de ordem alguma. O vandalismo imperou também em Marseille, foco de intensa imigração árabe, onde hoje existem bairros em que nem a polícia ousa entrar sem reforços.
Se os antigos imigrantes chegavam na Europa preocupados com emprego e com os deveres ante a nova sociedade, o imigrante atual chega exigindo direitos, logo em um Estado em que a previdência social já não dá segurança nem mesmo aos nacionais. Os integrantes das chamadas segunda e terceira geração de imigrantes, detentores de cidadania francesa mas discriminados e desempregados, encontram no quebra-quebra sua forma de expressão. Como boa parte deste contigente é composta de árabes, em sua maioria argelinos, o adormecido ódio ao colonizador põe mais lenha na fogueira.
Isso sem falar na ameaça constante de bombas. As grandes lojas e centrais de metrô são locais de sonho para um fanático com projetos de produzir uma carnificina das boas. Um pacote ou mala esquecida em uma estação de metrô talvez não diga nada para um turista desinformado. Para o parisiense pode ser prenúncio de cadáveres e corpos dilacerados. Os cestos de lixo, por razões de segurança, foram lacrados e constituem um lembrete silencioso de que Paris não é mais aquela. Militares em uniforme de campanha e equipados com fuzis-metralhadoras dão um toque sinistro aos grands magasins e subterrâneos da cidade. A intifada transportou-se do Oriente Médio para o centro da Europa e veio para ficar. Franceses e árabes estão irremediavelmente entrelaçados por um passado comum e continuarão a olhar-se diariamente, olhos nos olhos, pelo futuro fora. Se um dia os fundamentalistas argelinos transferirem seus carros-bomba e degolas para as margens do Sena — o que não seria de espantar, pois boa parte da Argélia vive lá —, adeus Paris que tanto amamos.
Ela continua linda, é claro. Nem de longe lembra esta São Paulo, com sua arquitetura horrenda e uma média constante de meia centena de cadáveres a cada fim-de-semana. Mas a comparação não procede. São Paulo, antes de ser urbe, é metástase que não pára de expandir-se. E Paris sempre foi a cidade buscada por todo homem culto em busca do que de mais requintado o Ocidente oferece.
Ou era.
Nobel e Vigarices
Que os jornalistas criem mitos não é de surpreender. O pior é que passam a neles acreditar. Guernica, por exemplo, este braguetaço dos mais bem-sucedidos. Picasso havia pintado uma tela intitulada La Muerte del Torero Joselito, plena de cores fúnebres, em homenagem a um amigo seu, o toureiro Joselito, morto em uma lídia. Ao receber uma encomenda para o pavilhão republicano da Exposição Universal de Paris de 1937, Picasso lembrou do quadro, esquecido em algum canto de seu ateliê. Foi quando, para sua fortuna, a cidade de Guernica foi bombardeada pela aviação alemã. Ali estava o título e a glória, urbi et orbi. Picasso deu nova função ao quadro e hoje multidões hipnotizadas vêem, em uma cena de arena, com cavalo, touro e picador, uma homenagem aos mortos da Guerra Civil.
Falar nisso, outro mito alimentado pela imprensa é a famosa cena na Universidade de Salamanca, na qual seu reitor, Miguel de Unamuno, teria sido desafiado pelo general “franquista” Millán Astray, com a frase não menos famosa: Viva la muerte! Muera la inteligencia! Ponho franquista entre aspas, pois se havia algum naquela cerimônia, realizada no dia 12 de outubro de 1936 — Día de la Raza — este era Unamuno, que naquele momento representava oficialmente o general Franco. O reitor foi salvo da ira de Astray e da vaia de muitos dos presentes por Doña Carmen Pollo, mulher de Franco, que o conduziu pelo braço até uma viatura do Quartel General.
A narração soa melhor mostrando Astray como franquista, afinal era general. Unamuno — basco, filósofo e reitor de uma universidade — só poderia ser anti-franquista. Para vender, os jornais transmitem ao leitor o que o leitor gosta de comprar. A mentira impressa passa então a fundamentar teses e tende a fixar-se como História. Mas os fatos são teimosos e, mais dia menos dia, mostram sua verdadeira face.
Me ocorrem estas reflexões a propósito de Rigoberta Menchú, Nobel da Paz de 1992, porta-voz e símbolo dos direitos dos povos indígenas, premiada em boa parte por sua biografia, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la Conciencia. Apresentando-se como uma índia sem instrução e militante dos Direitos Humanos, a guatemalteca comoveu gregos e troianos com sua infância miserável. Daí ao galardão recebido em Oslo foi um passo. A data escolhida é emblemática: nos 500 anos do descobrimento da América outorga-se, pela primeira vez na História, o Nobel a uma indígena.
A mauvaise conscience do Ocidente, que também atende por antropologia, há horas andava em busca de um herói rousseauneano tropical. ONGs tentaram construir vários, entre eles o cacique Paulo Paiakan, tido pela imprensa americana como “o homem que pode salvar a humanidade”. Mas Paulinho — são simpáticos os diminutivos! — decepcionou o respeitável público: no mesmo ano em que Rigoberta ascendia ao estrelato, o homem que podia salvar a humanidade estuprou barbaramente uma menina com a cumplicidade de sua mulher. Isto, decididamente, não fica bem em um Nobel.
Absolvido inicialmente por um juiz covarde, o milionário cacique caiapó só foi condenado nesta semana, a seis anos de prisão firme. Se a cumprirá, é o que resta ver. Por ocasião do primeiro julgamento, avisou: não pretendia sair de sua reserva e faria rolar o sangue dos brancos, em caso de condenação. Paulinho, encharcado por algumas dúzias de latas de cerveja, jogou fora uma bela carreira. Para a alegria de ongueiros, derrotados do século e demais ressentidos com a cultura ocidental, os hiperbóreos já haviam entronizado a índia guatemalteca como campeã dos Direitos Humanos.
Ocorre que entre os criadores de mitos sempre surge um estraga-prazeres para desmontar relatos tão edificantes, no caso, o antropólogo americano David Stoll. Em seu livro Rigoberta Menchú and the Story of All Poor Guatemalans, o autor mostra que a prestigiada militante em pouco ou nada difere de outros vigaristas já galardoados com os prêmios Nobel da Literatura ou da Paz, essas duas láureas jogadas de vez em quando pelos louros nórdicos aos nativos e mestiços do Terceiro Mundo.
Segundo Stoll, a premiada com o Nobel descreve com freqüência "experiências pelas quais nunca passou". Em seu livro, afirma nunca ter freqüentado escola, nem saber ler, escrever ou falar espanhol até a época em que ditou sua autobiografia. Mas sua incultura era postiça: recebeu o equivalente à instrução ginasial em internatos particulares mantidos por freiras católicas. A luta de Menchú e outros indígenas pela terra, contra latifundiários de origem européia, era em verdade uma antiga rixa familiar de seu pai contra parentes próximos. O irmão mais jovem que dizia ter visto morrer de fome nunca existiu. Um outro, que dizia ter visto morrer queimado, não morreu queimado nem ela viu sua morte. A prêmio Nobel ignora solenemente as acusações: "Foram escritas 15 mil teses sobre mim no mundo todo por pessoas que leram o livro", afirma. "Não me dedico a conferir dados, não nego nem desminto o que é dito nos livros a meu respeito. Não é problema meu."
De fato, o problema é dos louros hiperbóreos. Ao premiar a vigarista dos trópicos, só conseguiram desmoralizar ainda mais um título já enxovalhado por Mikahil Cholokhov, Martin Luther King e Pablo Neruda.
Sobre Padres e Ratos
Falava, semana passada, de Nobéis, particularmente do da Paz e Literatura, e dos ilustres vigaristas que o receberam, como Mikhail Cholokhov, Martin Luther King, Pablo Neruda e Rigoberta Menchú. Este prêmio, além de significar uma fugaz imortalidade para quem o recebe, vem acompanhado de um simpático cheque de um milhão de dólares. É o que recebeu José Saramago, em 10 de dezembro passado, das mãos do rei da Suécia, já que a Svenska Kungsliga Akademie houvera por bem nominar pela primeira vez um escritor de língua portuguesa como Nobel de Literatura. Como Jorge Amado está pela bola sete, os louros homens do norte apressaram-se em conferir o prêmio a um dos últimos stalinistas de vulto, já que estes espécimes, como o mico-leão-dourado, estão ameaçados de extinção.
Um milhão de dólares, quantia bem-vinda até mesmo por milionários, é o que os administradores da Fundação Nobel julgam ser uma bela recompensa às personalidades que se destacam, a cada ano, em Física, Química, Economia, Medicina, Paz e Literatura. O que só demonstra a mesquinharia dos ricos e desenvolvidos hiperbóreos. Talvez o leitor não tenha notado, mas isto é o que ganha por mês, em um país pobre porém generoso como o nosso, o apresentador de programas televisivos Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho. Enquanto homens de Estado, cientistas e escritores têm de lutar toda uma vida para obter o Nobel, Ratinho o ganha integralmente, a cada mês, expondo a miséria alheia a milhões de espectadores ávidos de grotesco.
A televisão é uma confortável janela para se auscultar a cultura de um país sem precisar sair de casa. E os programas de auditório são excelentes termômetros ao alcance de qualquer espectador, para termos uma idéia do nível intelectual do universo que nos envolve. Se um pesquisador ou cidadão comum quiser ter uma noção do Brasil, é bom dar uma zapeada de vez em quando nos programas do Ratinho, Sílvio Santos, Gugu Liberato et caterva. Na audiência destes senhores está o país real. Se Ratinho ganha um Nobel por mês, é porque seu histrionismo de baixo nível faz o gosto de uma grande maioria de brasileiros. Centenas de leitores indignados escrevem mensalmente aos jornais, protestando contra tais programas. Ora, são apenas centenas os que escrevem protestando. Talvez chegue até dezenas de milhares o número dos indignados. Mas é insuficiente para tirar do vermelho as TVs culturais. Já os milhões, estes preferem Ratinho e justificam seu Nobel mensal. Este é o país em que nos coube viver.
Como me agrada a idéia de conhecer as preferências nacionais, sem ter de sair por aí a fazer pesquisa de campo, aproveitei este Natal para conferir a fama do mais recente astro do mundo do disco e da televisão. Puxador de vendas da PolyGram, com 2,7 milhões de cópias vendidas de seu CD “Músicas para Louvar o Senhor”, o padre Marcelo Rossi se propôs a levar de 70 a 100 mil pessoas à missa do último Natal. O ofício foi transmitido ao vivo pela TV Bandeirantes, que utilizou nove câmeras — uma delas montada em uma grua — e cerca de 50 pessoas em sua equipe de filmagem.
A cobertura foi de fazer babar de inveja qualquer grupo de rock tupiniquim: oito câmeras foram movimentadas para captar imagens do público e uma permaneceu fixa no padre Marcelo. Dois telões transmitiam o show para quem não conseguisse entrar no local. Um espetáculo de tais proporções tem naturalmente seus problemas de logística: para servir aos fiéis o corpo e sangue divinos, foram arregimentados 970 obreiros. Missa para massas exige garçons.
Celebrada em um galpão de 8.000 m2 em Santo Amaro, bairro da zona sul de São Paulo, a missa atravessou o oceano e mereceu manchetes em Le Figaro e Le Monde Este último, aliás, sempre atento aos fenômenos culturais de Pindorama, já concedera sua primeira página ao Ratinho. Os jornais franceses mostram o padre Marcelo como um ídolo cortejado pelos produtores de talk shows, mas que controla sua própria griffe (medalhas, vídeos, velas, CDs, etc). Segundo o profeta da "missa aeróbica", seus ganhos ainda estão longe de um Nobel mensal. Para perplexidade do fisco, seriam apenas dois salários mínimos. Mas Ratinho que se cuide. E Sua Santidade também. O ofício do padre Marcelo, previsto para a véspera do Natal, foi adiado para o dia seguinte, para não roubar telespectadores da Missa do Galo, celebrada pelo papa João Paulo no Vaticano.
Houve época em que, manipulado pela escola, acreditei em um ser superior. Via então a missa como um encontro entre o Criador e a criatura. Diálogo tão transcendental exigia silêncio e recolhimento. E assim foi a missa durante séculos. Nestes dias televisivos, sacerdote e showman se confundem. No mundo das comunicações, Ratinho e padre Marcelo são medidos por um mesmo parâmetro, a capacidade de captar audiência. Fé torna-se uma questão de números. Deus é dez. Deus é massa. Deus é Ibope.
Este novo conceito de religião, no fundo, é salutar. Se a idéia de Deus era um solene embuste, agora, vulgarizado pela TV, o embuste pelo menos perde sua solenidade. Perdem também os vizinhos do galpão onde o padre realiza seus shows, que não conseguem dormir com a tonelada de decibéis que lhes são despejados durante as missas. Padre Marcelo pouco está ligando às reclamações. Os vizinhos devem ser ateus, que não se dispõem a ouvir a palavra divina e comprar os produtos de sua grife.
Lúbricos Barcos no Báltico
Falei, em crônica passada, dos hiperbóreos. Não faltou quem quisesse saber onde fui catar tal palavrão. No vernáculo, ora bolas! Hiperbóreos são os habitantes do extremo norte da Terra e a palavra me parece muito boa e sonora para designar aqueles louros e longínquos senhores que, conforme o desenho dos mapas, estão por cima de nós e de todos os demais seres do planeta.
Pois 99 começou mal para os hiperbóreos. A partir deste 1º de janeiro, todo cidadão que contratar uma profissional do amor na Suécia está arriscando pegar seis meses de prisão. A lei, aprovada em julho do ano passado pelo Parlamento, não proíbe a prostituição. Mas dificulta sua prática, ao punir o cliente. A hipocrisia católica, que absolve a prostituta e sataniza quem a sustenta, parece ter invadido a geografia dos luteranos do norte.
Morei um ano na Suécia, sociedade onde é proibido beber em bares. Proibido beber álcool, bem entendido. Os puritanos legisladores nada têm contra suco de laranja, coca-cola, café ou chocolate. Mas uísque, cerveja ou vinho, só em restaurantes, das 12h até as 24h, nem um minuto antes ou depois. E isso desde que se peça comida. A preços de tornar sóbrio qualquer cristão, inclusive este que vos escreve.
Nos anos 70, além da imagem de paraíso do bem-estar social, a Suécia emitia a da beleza de suas mulheres e da liberalidade de seus costumes. Foi o primeiro país do mundo a liberar a pornografia e os shows de sexo ao vivo. As profissionais, tão duramente marginalizadas ao longo da História, passaram a ostentar um status intermediário entre o psicoterapeuta e a assistente social. O pragmatismo luterano daqueles habitantes do topo do hemisfério norte nos fascinava: finalmente uma sociedade européia dava um basta à hipocrisia católica dominante no Ocidente.
Enquanto isso, no Brasil, qualquer cidadão arriscava cadeia se distribuísse ou comprasse os “catecismos” em preto e branco de Carlos Zéfiro ou os policrômicos “livrinhos suecos”. Os Svensons haviam descriminalizado o sexo. Mas careciam da liberdade de nosso Zé da Silva, que podia comprar cervejas em supermercados ou beber em qualquer bar e a qualquer hora. Se o brasileiro precisava viajar para curtir erotismo sem ter a polícia encima, o sueco precisava fazer o mesmo... para beber. Se nós buscávamos o paraíso no extremo norte, os suecos o encontravam no Mediterrâneo ou Egeu.
Nas ilhas gregas, Canárias ou Baleares havia sol barato e — milagre! — podia-se beber nos bares e comprar álcool nos supermercados. Em algumas cidades, as palavras suecas que mais disputam espaço nos cartazes são sprit e tandläkare: álcool e dentistas. Como a social-democracia excluía os cuidados odontológicos da previdência, os hiperbóreos desciam em rebanhos rumo ao sol, não só para alegrar a alma, mas também para fazer um upgrade no sorriso.
Outra alternativa era tomar um ferryboat até a Dinamarca ou Finlândia. Mal o barco desatracava, o comandante considerava estar navegando em águas internacionais, fora portanto do alcance da lei seca. A bordo o álcool era livre e — mais importante — skattfri, palavrinha mágica que naqueles nortes significa livre de impostos. Se o adolescente Rimbaud, sem jamais ter visto o mar, concebera seu bateau ivre como uma metáfora, os experientes navegadores nórdicos haviam criado a coisa em si. Os dinamarqueses saudavam a chegada de tais frotas como “a invasão dos bárbaros do norte”.
Desconhecedor das práticas vigentes em Estocolmo, tomei certo dia um desses barcos, rumo a Turku, ilha do arquipélago finlandês. Gosto de ilhas e queria pisar as neves de um outro país. Nos salões do ferry, uma agitação e alegria inusuais entre suecos, em geral fechados e rígidos quando em casa. Aproveitei o preço do álcool — mais a ausência de qualquer clima de censura — e empinei com gosto algumas akvavit, a cachaça lá deles, perfumada e de um sabor de se guardar para sempre no pálato.
Em Turku, desembarquei. O porto era apenas um cais deserto, sem sombra de vida humana por perto. Olhei para trás e lá estava o ferry atracado, imóvel, sem despejar passageiro algum. Ingênuo, eu era o único a pisar terra firme. Naqueles meridianos, se navegar era preciso, chegar pouco importava. Envergonhado até a medula, imaginando o barco bêbado rindo de meu gesto, voltei a bordo e aos brindes.
Se as autoridades pretendiam proteger a saúde dos suecos, estavam arando em pleno Báltico. As restrições ao álcool, além de fazer o país perder receita, produzem multidões de alcoólatras. Pois o alcoolismo sempre foi mais pronunciado precisamente nos países onde o álcool é proibido. Jamais veremos, nas cidades da Grécia ou Espanha, tantos bêbados cambaleando nas ruas como nos fins-de-semana de Estocolmo. Nem barcos ébrios singrando o Mediterrâneo.
Fenômeno semelhante parece estar acontecendo com a nova legislação sobre a prostituição. Segundo o vespertino estocolmense Aftonbladet, a Dinamarca prepara-se para uma invasão das prostitutas da vizinha Malmö, que não poderão contar com muitos clientes em território sueco. E já estão chegando a Copenhague as primeiras levas de Svensons, em busca de sexo sem implicações penais. Em vez de barcos bêbados, o Báltico começa a ser cortado por barcos lúbricos. Como os suecos são criativos, não seria de espantar que os nautas nórdicos passem a consumir a mercadoria — ilegal em terra — ainda ao sabor das ondas.
Enquanto isso, as profissionais dinamarquesas, penhoradas, agradecem a hipocrisia dos legisladores do país vizinho. De braços abertos, para dizer-se o mínimo, esperam os bárbaros e as divisas do norte.
O Cinismo como Método
Sexta-feira passada, contei ter descido de um barco bêbado em Turku, ilha finlandesa. Bêbado o barco, não eu. Maravilhas da Internet: mal a gente comete um lapso cá no hemisfério sul, uma errata vem voando das antípodas. De Oulu, norte da Finlândia, Andrea Lima observa: “Turku não é ilha. Estiveste em Åland”. De fato, foi em Åland, a meio caminho de Turku e Estocolmo. Como Turku se chama Åbo em sueco, confundi os topônimos. Em minha defesa, invoco ilustre precedente: Cristóvão Colombo, ao voltar de Cuba, pensou ter chegado em Cipango (Japão). De Estocolmo, Antônio César Ferreira corrige: já não é mais proibido beber em pubs. Com a entrada da Suécia na Europa, no futuro poderá ser liberada a venda de vinho nos supermercados. Ebriedade, ainda que tardia! Skål, Antônio. Tak, tak, Andrea.
Volto ao sul. Quando não mais indignar-me, é porque estou envelhecendo, dizia André Gide. Se assim for, o Brasil me promete eterna juventude. Por falar em navegações, um outro Cristovam, o Buarque, ex-governador do Distrito Federal, afirma em seu cartão de fim de ano: “O século XX criou o computador e o flanelinha, a nave espacial e o trombadinha, o robô e o pivete, o internauta e o cheira-cola”. O sofisma não só passou impune, como foi citado como um momento de brilho do governador.
Fosse eu o século XX, processava por calúnia este senhor e ainda exigiria indenização por danos morais. Pois quem criou o computador e a nave espacial não foi o século, mas os Estados Unidos. Quanto aos flanelinhas, trombadinhas e cheira-colas, estas originais instituições são coisas nossas, made in Brazil. Sofismador de mão cheia, o governador junta avanço tecnológico e miséria no mesmo saco e os atribui ao tempo. Que me conste, a Europa vive em nosso mesmo século e lá não encontramos os flanelinhas, trombadinhas e cheira-colas, instituições que, à semelhança dos juízes classistas, reitores eleitos por bedéis e cheques pré-datados, são tupiniquins. A frase do governador é típica de patrioteiros: o Brasil é lindo e suas mazelas são decorrências do tempo que passa.
Se Cristovam Buarque abriu com audácia o concurso da frase mais cínica deste fim de milênio, Rafael Greca, o novo ministro do Esporte e Turismo, entrou na competição com verve inigualável. “Há um caráter lírico em alguns mendigos e despossuídos que os torna semelhantes ao Carlitos”. Greca, poeta e amante de ópera, parece ter entendido o que o Primeiro Mundo espera do nosso: miséria e lirismo. Não por acaso, “Central do Brasil” está fazendo sucesso nos cinemas dos Estados Unidos e Europa. Promete até Oscar. Cada um comove como pode. Os Estados Unidos, com fausto, luxo e tragédias em alto mar, vide “Titanic”. O Brasil, com a miséria do Nordeste. Man tager vad man haver, dizia Kaysa Vary. O que, em sueco bíblico, quer dizer: “a gente pega o que se tem a mão”. Kaysa Vary, autora sueca, não é nenhuma socióloga ou economista. Escreveu apenas um livro de culinária.
Apostando neste país lírico, onde o lixo humano que polui Rio e São Paulo já compete firme com a fauna das ruas de Benares ou Calcutá, Greca pretende incentivar o turismo interno. E vai lançar um lema: “Goste do Brasil”. Brasileiros, se quisermos fazer turismo, devemos optar por metrópoles de arquitetura horrenda como São Paulo, pelas emoções de curtir as praias do Rio driblando balas perdidas e punhaladas de pivetes, pelos preços exorbitantes dos hotéis do Nordeste. Curta Charlie Chaplin ao vivo, fora das telas, urinando e defecando nas líricas latrinas em que foram transformados nossos largos e praças. O verbo vem no imperativo. Mais que lema é ordem. Como se dizia há trinta anos: “Ame-o ou deixe-o”. Mera semelhança ou triste coincidência?
Para incentivar este turismo interno, Greca sugere a criação de paradores, fórmula de hotelaria adotada na Espanha, onde o turista se hospeda, a preços humanos, em antigos castelos ou palácios. Construamos pois, castelos antigos novinhos em folha, para que o turista nativo se sinta no Velho Continente. Greca, ao contrário do que se podia imaginar, está solto. E deitando verbo no Planalto. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança! Não verás nenhum país como este.
Não verás mesmo. Por falar em Planalto, em resposta ao calote federal decretado pelo governo de Minas, Fernando Henrique afirmou, muito macho, não admitir que “a lei não seja cumprida, por quem quer que seja”. O que seria óbvio na boca de um jurista, vira cinismo atroz na fala do presidente, em cujo governo sentença de juiz e papel higiênico servem para as mesmas finalidades. A guerrilha católica dos sem-terra invade fazendas, derruba cercas, destrói plantações e mata gado, sob o olhar complacente de Brasília. Se um juiz decreta a expulsão dos invasores, tudo fica por isso mesmo. Nenhuma força pública vai se arriscar a machucar os “excluídos”, sob pena de expor-se à ira da imprensa internacional.
Temendo esta mesma imprensa, o Planalto força a libertação de seqüestradores estrangeiros, condenados por um tribunal livre de um regime democrático. Enquanto isso, milhares de prisioneiros brasileiros, já com direito à liberdade, mofam atrás das grades pela simples desgraça de terem nascido neste território e de não terem alegado, mentirosamente, razões políticas para seus crimes.
Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), fomos “a primeira nação a desrespeitar legítimas decisões do seu Poder Judiciário”. E depois vem o “príncipe dos sociólogos” falar em cumprir leis. O cinismo parece ter sido eleito, neste ano que entra, como método de governo.
Gente Fina
Milão mergulhou numa psicose de criminalidade, conta-nos o jornal francês Libération. Quarenta pessoas estão sendo assassinadas por ano. Nos primeiros nove dias deste janeiro, nove já haviam sido assassinadas na cidade italiana. A violência de Milão está preocupando as autoridades italianas. No último fim-de-semana, São Paulo teve 58 homicídios.
Sábado passado, foram descobertos os cadáveres de 45 homens de etnia albanesa em Racak, no Kosovo, província sérvia do que sobrou da antiga Iugoslávia. O massacre chocou a Europa. O governo da Albânia pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Líderes americanos e europeus já prometem um bombardeio aéreo contra as forças sérvias do presidente iugoslavo Slobodan Milosevic.
Desde 1996, quando o governo começou a contagem, a média de assassinatos em fins-de-semana em São Paulo tem girado em torno de 50. Sistematicamente. Todas as 48 semanas de cada ano. Isso sem falar nos cadáveres dos dias úteis. Europa alguma, nenhuma ONU está preocupada com estas chacinas. Muito menos o Brasil. Nem mesmo os paulistanos. Aliás, ninguém está preocupado com isso. Rotina não choca ninguém. As mortes só surpreendem quando ficam abaixo desta cifra. O recorde ocorreu entre 18 e 21 de dezembro passado, 69 cadáveres.
O massacre de Kosovo começa a ser posto em dúvida, pois não foram encontrados projéteis no local. Mas os barcos da 7ª Frota já estão tomando posição no Adriático. Hoje é sexta-feira, não é? Pois bem: se o leitor apanhar o Estadão da próxima terça-feira, lá estará a meia centena rotineira de mortos, sobre os quais não paira dúvida alguma. Do preço do dólar na semana que vem, nada sabemos. Mas a cifra de assassinatos se manterá sólida, invariável, algo em torno de 50. Ainda bem que o Brasil não está em guerra, como aqueles bárbaros dos Balcãs.
Por falar em Europa, leitor de Estocolmo contesta a crônica passada, com veemência, em caixa alta. Que na Europa há miséria, sim senhor: “a Romênia tem muitos meninos de rua, sem contar a Rússia, Albânia. Vi muita pobreza em Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, Bélgica, Inglaterra. Até aqui em Estocolmo tem mendigo”.
Vamos por partes. Há uns dez anos, havia uma Europa e um Leste europeu perfeitamente distintos. No Leste, universo socialista, estavam os países da União Soviética onde, por definição, não havia desemprego nem greves ou conflitos trabalhistas. Muito menos miséria, mendigos, meninos de rua, estas mazelas decorrentes dos regimes capitalistas da velha Europa. Com a queda do Muro de Berlim e o desmantelamento da URSS, a miséria oculta dos regimes socialistas veio à tona.
De repente, a Rússia, Albânia ou Romênia passaram a fazer parte da Europa. Há mendigos morrendo de frio em Moscou? FRIO MATA MENDIGOS NA EUROPA — dizem as manchetes. Quem só costuma ler as primeiras páginas nos quiosques ou zapear TV já passa a imaginar mendigos morrendo nas ruas de Paris, Londres, Berlim. Os jornalistas são hábeis em matéria de trocar sinais. As misérias herdadas de sete décadas de tirania socialista passam agora a ser debitadas à Europa. O leitor menos avisado, que desconhece a arte de manipular conceitos, acaba caindo nos sofismas diariamente repetidos pela grande imprensa.
Europa, quando escrevo, é a parte ocidental do continente. Termina onde passava a Cortina de Ferro. Jamais afirmei não existir pobreza nesta Europa. Mas mendigo europeu tem outro status, em nada comparável ao dos nossos. Como não tenho dados globais sobre a mendicância no continente, me atenho ao país que melhor conheço, a França.
Mendigo francês é gente fina. Se tiver mais de 25 anos, tem direito a receber mensalmente, durante um ano, o RMI (revenu minimum d'insertion), hoje estipulado em 2429,42 francos, o que dá a simpática soma de 430 dólares ao câmbio atual. Ou seja, 690 reais, em moeda nossa desta semana. Mais de cinco salários mínimos no Brasil. Como abrigo e comida são garantidos pelos serviços assistenciais, este cidadão pode perfeitamente dar-se a luxos como um Beaujolais ou Côte du Rhône, que no Brasil conferem status até mesmo a gente rica. Para mais informações sobre o RMI, clique aqui.
Diariamente, um ônibus especial da Prefeitura recolhe os mendigos de seus abrigos, pela manhã, e os deposita nos pontos de mendicância. À tardinha, o ônibus volta para recolhê-los. Enquanto o francês que trabalha tem de ir até um ponto de ônibus para embarcar, este ônibus especial — com a metade inferior das janelas em vidro fumê, para preservar a privacidade do ilustre passageiro — pára no ponto de cada mendigo, para embarcá-lo.
Assim, se você estiver fazendo turismo às margens do Sena e se sentir comovido com uma mão estendida, antes de pôr a sua no bolso lembre-se que aquele ser comovente recebe cinco vezes mais do que um operário braçal brasileiro. As divisas que sua mauvaise conscience de turista endolarado fizer desembolsar, antes de ser esmola são “argent de poche”, como dizem os franceses.
Mas atenção: se você passar em Paris em julho ou agosto, quase não verá mendigos na cidade. Eles desceram para a Côte d’Azur, rumo ao sol. Enquanto você confere os trocados para saber se pode presentear-se com alguns dias em Cannes ou Nice, eles estarão curtindo o verão na Croisette ou Promenade des Anglais. Se você tiver dinheiro suficiente para chegar lá, eles certamente lhe oferecerão algum dos vários jornais publicados por suas associações de classe. Certa vez comprei um deles, Le Réverbère. Diagramação ágil, policromia, bom texto. Trazia inclusive matéria assinada pelo “correspondente em Nova York”.
Gente fina é outra coisa.
O Vice-Deus nos States
Se há um gênero literário que ainda me fascina, este é a literatura fantástica. Em minha biblioteca, tenho vários tratados de teologia, inclusive a monumental “Suma Teológica”, de meu confrade de Sorbonne, o Tomás de Aquino. Morto Jorge Luís Borges, cada encíclica ou documento emanado do Vaticano é um acontecimento literário nestes dias de vacas magras. Por exemplo, o Exorcismus et Supplicationibus Quibusdam (A Propósito de Todo Tipo de Exorcismo e Súplicas), o novo manual vaticano que dispõe sobre os rituais para expulsar o demônio.
João Paulo vem há horas alertando seu rebanho sobre a realidade da existência deste personagem fascinante, que contracena com Jeová na história da criação. Lucifer, para começar, é o mais brilhante dos anjos e o mais amado por Deus. Literalmente, é o "portador da luz". Segundo certas seitas gnósticas, ditas luciferistas, Lucifer seria o verdadeiro Deus da Luz, que pretende revelar aos homens a incompetência do Deus do Antigo Testamento. Isaías, porta-voz insuspeito, pergunta: "Como caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora? Como foste atirado à terra, vencedor das nações?"
O gesto satânico — o "non serviam" — é a bandeira de todos os rebeldes. No evangelho de João, Satanás é o príncipe deste mundo. No Apocalipse, segundo boas fontes, no caso uma voz forte provinda do céu, é uma espécie de ombudsman, "acusador de nossos irmãos".
Mesmo depois da expulsão do céu permaneceram cordiais as relações entre o Senhor e o Insurgente. No Livro de Jó, Satanás participa de um coletivo de anjos que marcou audiência com o Senhor. "De onde vens?", quer saber Jeová. "Venho de dar uma volta pela terra, andando a esmo", responde o príncipe deste mundo. Jeová dá carta branca a Satanás: que faça o que quiser com o santo homem Jó, desde que lhe poupe a vida.
O demônio, mais que real, é necessário, ou o Senhor não teria como testar a devoção de seu rebanho. Satanás é personagem fundamental na História da Criação, ao mesmo título que Jeová. Tentou Adão, Jó e Jesus. Cristo com ele conviveu quarenta dias e nada nos indica que tenha se entediado. Em "Il Diavolo", Giovanni Papini faz três observações interessantes sobre este convívio: "Jesus não quis rechaçar o Diabo; Jesus tolerou e suportou as repetidas tentações do Inimigo; em sua solidão, Jesus aceitou uma única e só companhia, a do Diabo". Suportar durante quarenta dias a mesma companhia no deserto exige um escroto ecumênico. Deve ter sido interlocutor no mínimo interessante ou Jesus — que tinha poderes para tanto — o teria mandado de volta aos infernos.
A Igreja precisa proteger-se dos ataques do demônio. "As portas do inferno não prevalecerão contra Ela", disse Jesus. Só há uma arma contra o Maldito, o exorcismo. O novo ritual, mais conhecido como Ritual Romano, por enquanto só está disponível em latim. Mas segundo o cardeal Jorge Arturo Medina Estevez, chefe da Congregação para o Rebanho Divino e Disciplina Sacramental, o exorcista já pode usar esta versão “hoje à noite, se quiser, porque o Diabo entende latim”. O que nos revela uma qualidade insuspeita do Príncipe: tem mais erudição que muito acadêmico de nossos dias.
Satanás sempre gozou de um charme do qual jamais pode gabar-se Jeová. Se Deus manda, o Diabo sugere. Enquanto o Supremo se comporta como um autocrata arrogante, que impõe e dispõe do traçado de seu plano de obras, o Insurgente é o public-relations sedutor, que insinua modificações no rígido projeto divino: "quem sabe não poderia ser assim?" Desta forma, sempre foi caitituado por artistas e literatos. Em Valéry, o demônio só tinha uma queixa, a dificuldade em seduzir os curtos de espírito. Diz o Diabo: "Aquele homem não tinha inteligência suficiente para que eu desse conta dele. Não tinha bastante espírito. Que problema seduzir um imbecil! Não entendia patavina de minhas intenções".
O Sedutor, com sua lábia, é perigoso. O exorcismo deve ser realizado por sacerdotes, diz o manual. O próprio João Paulo II, seguindo o exemplo de Cristo, fez um exorcismo em 1982, expulsando o demônio do corpo de uma possessa. Uma das características do demônio é falar línguas estranhas. O vice-Deus — como gostam de dizer os espanhóis — apesar de emérito poliglota, não conseguiu comunicação com o Maldito. O ritual começa com aspersão de água benta sobre o possuído, seguida de orações e da proclamação do Evangelho. O exorcista invoca o Espírito Santo para que o Diabo saia do corpo e apresenta-lhe a Cruz, símbolo do poder de Cristo.
Segundo Dom Jorge Arturo, os demônios são “seres espirituais inteligentes e poderosos” e sua ação pode ser identificada, por exemplo, no tráfico de drogas e de armas. Nestes dias em que o Vaticano anuncia o “Quibusdam”, João Paulo teve encontro reservado com Bill Clinton em St. Louis, no Missouri. Afinal, se já apertou tantas mãos sujas de sangue como as de Castro ou Arafat, porque não apertaria mãos manchadas de inócuas melecas?
Os Estados Unidos estão investindo milhões de dólares no combate ao tráfico de armas e drogas. O vice-Deus bem que poderia estancar esta sangria no orçamento da grande nação do norte, deixando à disposição de Clinton um exorcista dos bons. Em vez de políticas antipáticas como invasão do Panamá, embargo a Cuba, bombardeios sobre o Iraque, aviões invisíveis e mísseis inteligentes, tudo poderia ter sido resolvido com muita prece e água benta.
Amém?
Samba, Suor e Globeleza
Ao escrever sobre guerras, conflitos ou crises, os jornalistas fazem uso de recursos bastante primários de composição, que passam despercebidos ao leitor menos atento às malandragens da diagramação. Há uma crise na Rússia? Isto pode ser expresso em texto, mas vivemos numa época de comunicação visual. Dados sobre balança comercial, fluxo de exportação ou importação, estatísticas sobre desemprego ou inflação podem muito bem explicar as dimensões do problema. Mas até aí o leitor não VIU a crise.
Para demonstrá-la visualmente, as agências de notícias enviam fotos colhidas ao acaso, de flagrantes rotineiros da sociedade em análise, mas que naquele momento de crise adquirem um significado dramático. As imagens precisam comover. E o que comove mais que velhos, mães e crianças? Os jornais nos inundam então com fotos de vovós russas vendendo babuskas, anciões russos comerciando vodca em meio à neve, mães russas de dentes podres, crianças russas com ar de desamparo e ausência de futuro. Se as agências se atrasam no envio das fotos, não há problema: o redator desce até o arquivo e volta com uma pilha de velhos russos, mulheres russas, crianças russas. E o leitor, que jamais se dá ao trabalho de verificar a data da foto de arquivo, impressa em letras minúsculas no canto inferior direito de cada uma, engole como realidade de ontem imagens tomadas às vezes há anos.
No caso de guerras ou conflitos étnicos em rincões longínquos, a técnica é a mesma: no arquivo sempre existirá um ancião bósnio, uma mãe bósnia, crianças bósnias. Se não se achar nada na pasta da Bósnia, consegue-se mães e crianças muçulmanas, dá no mesmo. E quando se necessita de uma árabe, qualquer mulher embuçada serve, seja árabe, persa ou hindu. Leitores se contentam com ícones.
Ao editar estas fotos, o jornal já tomou posição. O país ou etnia que tem seus anciões, mulheres e crianças retratadas é, por definição, a vítima. No caso de uma guerra, para bem esclarecer o ignaro leitor, na página oposta estarão as fotos do lado agressor: militares, tanques, fuzis-metralhadoras, declarações arrogantes e quepes, muitos quepes. Se o general que comanda as tropas tiver cara de buldogue e usar óculos escuros, maravilha: merecerá um close em três colunas. Que em uma guerra hajam velhos, mulheres e crianças sofrendo os mesmos horrores em ambos os lados, para o editor isto não interessa. É preciso balizar a leitura, bem delinear o Bem e o Mal absolutos. O Bem é sempre civil. O Mal é militar.
O golpe de misericórdia nos sentimentos humanitários do leitor é a foto clássica de uma mãe esquálida, preferentemente africana, de ar sofrido e seminua, amamentando o filho raquítico, se possível com algumas feridas no rosto e moscas voando em torno. Se o leitor julga serem sofisticadas estas técnicas de persuasão, em muito se engana. É a versão moderna do antiquíssimo ícone judeu-cristão, que há vinte séculos embala o Ocidente, o da Madonna aconchegando ao peito o filho-mártir. Não a Madonna ianque, escandalosa e contemporânea. Falo daquela outra senhora, de dois mil anos e pico, celebrada em prosa, verso e imagens pela arte ocidental, a virgem que pariu um deus.
Jamais encontramos nos jornais expressões como ancião suíço, mãe suíça, criança suíça. Ou ancião britânico, mãe britânica, criança britânica. Mas o leitor deve estar bem lembrado do ancião bósnio, da mãe africana, da criancinha somali. Os jornalistas passam a idéia de que estas três circunstâncias do ser humano — velhice, maternidade e infância —, são privativas do Terceiro Mundo, enquanto o Primeiro é habitado por folclóricos imortais estáticos no tempo, sempre jovens e saudáveis.
O Brasil inaugurou 99 nas primeiras páginas da imprensa do mundo todo. Fomos manchete no Monde e no New York Times, no Corriere della Sera e no Asahi Shimbum, na Pravda e no Der Spiegel. Nossa crise financeira derrubou bolsas em Nova York, Tóquio, Milão. A auto-estima do brasileiro, tão em baixa depois da última Copa, até subiu alguns pontos: “se afundamos, muita gente afunda junto”. De repente, nos imbuímos de um orgulho suicida, o de morrer abraçados com países ricos. Caos e desgoverno foram as palavras mais suaves para definir a crise. Não faltou quem falasse em guerra civil. Um ex-poeta gaúcho, em delírio lírico, chegou a pedir a renúncia do presidente, logo um mês após sua posse. Santa ingenuidade: se o homem empenhou até as cuecas para ser reeleito, não seria só por um pequeno detalhe — o país afundando — que largaria o osso do poder.
Mas onde as fotos sinalizadoras da crise? Onde o ancião brasileiro, a mãe brasileira, a criancinha brasileira? Crise em pleno verão, em um país de oito mil quilômetros de praia? Não pode ser crise que se preze! E logo em vésperas de carnaval... O ancião brasileiro estará fazendo embaixadas com um pandeiro em torno a uma mulata peladona. Na falta de africanas famintas e seminuas, a imprensa nos brindará com cariocas e baianas nuas e sedentas. Mães e criancinhas também nos sobram, estão aí a Xuxa, a Sasha, sem falar na celebrada barriga desta pobre mãe solteira, Luciana Gimenez, fecundada por um vilão de país rico. Sangue, suor e lágrimas? Alguém deve ter ouvido mal. Os dias são de samba, suor e globeleza.
A crise que espere. O carnaval não pode parar. Decididamente, o FMI nada entende de Brasil. Se quiser ser levado a sério, que volte lá por março para discutirmos o assunto. Aí a gente publica umas fotos do Sebastião Salgado, para gringo ver.
A Noite Ameaçada
Villiers de l’Isle Adam é um visionário escritor francês de meados do século XIX. Filho de uma família nobre e decadente, deixou obra curta mas perturbadora. Em um de seus contos, “L’Affichage Céleste”, nos relata o projeto de M. Grave, engenheiro americano, homem surpreso com a inutilidade das azuladas abóbadas celestes, que para nada servem a não ser para desenfrear a imaginação doentia dos últimos sonhadores. O céu precisava ser elevado à altura da época. Por que não retirar algum lucro desse imenso espaço estéril e vazio? Após muitas viagens e pesquisas, M. Grave aperfeiçoou lentes e refletores gigantescos, com os quais pretendia garantir às grandes indústrias e mesmo aos pequenos negociantes, o recurso de uma Publicidade Absoluta.
Após o entardecer, uma animação inusitada, “que só os interesses financeiros são capazes de proporcionar”, tomaria conta dos espaços celestes. Potentes projetores lançariam, a partir de colinas, anúncios de echarpes rumo ao fundo do céu noturno, em algum espaço entre Sirius e Aldebarã. Entre as patas da Grande Ursa leríamos propaganda de espartilhos. A polícia projetaria nos céus fotos cem mil vezes ampliadas de criminosos, os políticos teriam seus sorrisos expostos sob a estrela Beta da Lira. Quase quatro décadas mais tarde, em A Sinfonia Pastoral, André Gide evoca o mistério das noites. Nesta sofrida novela, um velho pastor anglicano, apaixonado por uma menina cega, pergunta-se: Est-ce pour nous, Seigneur, qui vous avez fait la nuit si profonde et si belle?
Estas preocupações com o céu e com a noite soam estranhas a nós, homens deste final de milênio. Gide e L’Isle Adam viviam em épocas onde o céu noturno ainda era visível. Urbanos e computadorizados, nossa idéia da verdadeira noite estará guardada nalgum escaninho de nossa infância. Se tivemos a graça, é claro, de termos sido crianças longe da eletricidade.
Já entrei em minha segunda metade de século e a lembrança de uma noite absoluta, daquelas em que quase se pode ler à luz das estrelas, está enterrada há quase quatro décadas, nas coxilhas de Ponche Verde e Upamaruty. Bicho de campo, já me orientei pelas Três Marias e pelo Cruzeiro do Sul. Optei pela vida urbana e hoje luar e céu estrelado me parecem pertencer ao reino dos contos de fadas. Em outros nortes, vi outras noites, mais brancas que as de minha infância. Nos verões suecos, um sol paranóico faz que vai descer no horizonte mas não desce. Mas não é a noite de que falava Gide, bela e profunda. É mais uma noite invadida pelo dia, perturbada por um sol que teima em girar paralelo ao horizonte.
Noite mesmo, nas últimas décadas, devo ter visto em duas ocasiões. Uma, em pleno Saara, charlando com tuaregues em torno a uma fogueira e envolvido por um silêncio que chegava a ferir os ouvidos. Noite legítima, sem falsificação alguma. Mas lá não encontrei o Cruzeiro. Seria pedir demais a Alá. Mais recentemente, voltando tarde de São Carlos para São Paulo, no meio da estrada recebi a noite em plena cara. Para minha surpresa, a noite ainda existia. Mas era uma noite em pedaços, esmaecida a cada vez que me aproximava dos aglomerados humanos. Minhas noites, decididamente, ficaram perdidas nos pagos do Sul, em algum trecho da pampa, entre Livramento e Dom Pedrito. Não me queixo de ter escolhido a cidade. O dilema não é novo. Já na antiga Grécia, Sócrates dizia gostar da vida de campo. Mas logo rejeitava a hipótese: os amigos estavam em Atenas.
A boa e velha noite, que embalou durante milênios o sono da vida no planetinha, está virando luxo de privilegiados. Se quisermos nos deixar envolver pela sua magia ancestral, precisamos viajar, e cada vez mais longe. Não seria de duvidar que, algum dia, agências de turismo ofereçam excursões rumo à noite profunda. Mas por mais que a lepra urbana avance, em algum lugar da Terra certamente estará preservada, como em um museu natural, hirta e congelada, a noite total. Protegida pelas neves, permanecerá para sempre a salvo da eletricidade. Nos pólos, supunha eu, existirá sempre noite para contemplação de algum curioso.
Supunha. Pois neste final de milênio, graças às maravilhosas tralhas tecnológicas produzidas por nosso engenho, até esta última esperança de noite esteve ameaçada. Os russos, que já tentaram inverter o curso do Ob e do Ienessei, que já assassinaram o mar de Aral, querem agora acabar de vez com a noite, esta obsolescência pré-revolucionária. Através de um sistema de espelhos de 25 metros de diâmetro, colocado no espaço pela nave Mir, tentaram refletir a luz solar nos cantos escuros da Terra. O projeto, comandado por Vladimir Syromyatnovik, pretendia iluminar cidades imersas na escuridão boreal, em uma faixa que ia do Canadá à Sibéria, passando inclusive pelo norte da Europa.
Que os russos queiram iluminar a Sibéria, é problema que só a eles concerne. Mas bem que poderiam ter consultado os esquimós, os ursos polares ou os belgas, que talvez não queiram ter seu sono iluminado por um sol artificial. O pior é que não há interruptor para desligar este dia fora de horas. O projeto foi condenado inclusive por astrônomos, que há muito fogem das cidades para poder observar o firmamento.
Cientistas ou baratas tontas? Há pouco, estes senhores buscaram em ratos o gene da fidelidade. Nesta semana, anunciaram a gravidez masculina. Tentaram agora criar mais sóis. Falo no passado: tentaram. Pois o experimento de Syromyatnovik, para alegria de poetas, ursos e astrônomos, falhou.
A invasão das abóbadas, maldição entrevista por L’Isle Adam, foi protelada. Mas já paira sobre as noites, cada vez mais longe de nós, a ameaça de extinção.
Catita e Teresa
Feliz da nação que não precisa de heróis, disse alguém. Não é o caso da nossa. O Brasil parece ter uma necessidade doentia de tais personagens, a ponto de criá-los do nada. O último período inflacionário corroeu nosso estoque de vultos da pátria. Para efígie das novas moedas emitidas, apelou-se a índios, bichos, aves e peixes. Mas nossa fauna é limitada e a inflação de novo mostra os dentes. Os dias são de desemprego. Mas há vagas para heróis.
Tiradentes é o melhor exemplo do herói por acaso. Enquanto os mentores intelectuais da independência escaparam do esquartejamento, este sobrou para um pobre diabo que teve o azar de conspirar com gente fina. Outro herói sem biografia que se aproveite é Anita Garibaldi. Entrou na história pela porta dos fundos, apenas por ter corrido atrás dos olhos azuis de Garibaldi.
Quando se descobriu que era casada, consternação geral em Santa Catarina. Não ficava bem para uma heroína, objeto de culto nas escolas, largar o marido para sair a tiracolo do primeiro gringo que passava frente à sua janela. A grande heroína desta nação católica era uma adúltera. Que se vai fazer? País que se preze precisa de heróis.
Mais recentemente, movimentos negros brasileiros quiseram um herói próprio e o criaram por decreto. Zumbi, líder do quilombo de Palmares, passou a integrar o panteão dos vultos que a pátria venera. Soube-se mais tarde que também atendia por Suequinha. O que, convenhamos, não fica muito bem em um herói. Os indícios de sua homossexualidade chegaram a provocar cisões entre os ativistas negros, mas isto se releva. Ocorre que Zumbi, o herói da libertação dos escravos, também era senhor de escravos. Mas uma vez herói — ainda que por decreto — sempre herói. Melhor esquecer esta detalhe irrelevante de sua biografia.
Em um país em que futebol é sinônimo de civismo, os atletas que participam das copas são, ipso facto, heróis. “Nossos heróis”, dizem os jornalistas esportivos, ao se referirem aos jogadores. Estes acreditaram nas manchetes e assumiram com prazer esta condição olímpica. Na penúltima Copa, quando a seleção voltou ao Brasil em um Boeing com toneladas de muamba, “nossos heróis” conseguiram derrubar um secretário da Receita Federal, que insistia em submetê-los à revista pela qual passa, nas alfândegas, todo cidadão brasileiro. Na ocasião, o goleiro Tafarel manifestou aos jornalistas sua indignação em relação ao insólito excesso de zelo do secretário Osires da Silva: “Mas nós somos heróis!”.
Personagem criado pelos antigos gregos, herói é o homem capaz de feitos excepcionais. Filho de um deus e uma mortal, pertence ao território da lenda. Neste país tão carente de grandes homens, serve para obscuras Bovarys, negros senhores de escravos e fraudadores do fisco. Tão escassa é a ocorrência de heróis em Pindorama, que a imprensa houve por bem, no mês passado, conferir o título... a uma cadela.
Chamava-se Catita. Seu feito: defender uma criança atacada por dois pitbulls. “Heroína!” — berraram as manchetes. O episódio foi emblemático. Catita, mãe de vários cachorrinhos, arriscava a vida em defesa de um filhote alheio. O velho mito da Madonna, desta vez em versão canina, tão utilizado pelos jornalistas para comover leitores. Mais ainda: Catita era uma cadela plebéia, vira-lata latina e nativa. Os agressores eram cães de elite, alienígenas e com sotaque anglo-saxão. A finada luta de classes ressuscitava e se manifestava mesmo entre caninos. Em falta de heróis, vai Catita mesmo.
À figura pagã do herói, o mundo cristão contrapôs um novo personagem, o santo. Se herói é o homem capaz de feitos excepcionais, o santo é aquele que se submete à vontade divina e opera milagres. Embora este personagem cheire a mofo medieval, João Paulo os tem produzido em ritmo industrial. Em seu papado, fabricou cinco vezes mais santos que o conjunto de seus antecessores no século XX.
Nestes dias de Catita, João Paulo está acelerando o processo de canonização da albanesa Agnes Gonxha Bojaxhiu, mais conhecida como Madre Teresa de Calcutá, morta em 97. Se uma canonização exige décadas e mesmo séculos de debate, o papa polaco quer dispensar, neste caso, até mesmo os cinco anos regulamentares para início do processo. Sua Santidade, com uma pressa de jornalista, está conduzindo a nau da Igreja por águas turvas.
Pois Agnes Bojaxhiu, como boa albanesa, não se furtou a depositar flores na tumba de seu conterrâneo, Enver Hoxha, um dos mais sanguinários ditadores comunistas deste século. No Haiti, durante a tirania de Jean-Claude Duvalier, mais conhecido como Baby Doc, recebeu de suas mãos uma comenda pouco recomendável para quem morreu em odor de santidade, a “Légion d’honneur” haitiana. Não bastassem estas homenagens que conspurcam qualquer auréola, Madre Teresa intercedeu junto à Suprema Corte dos Estados Unidos, pedindo clemência para Charles Keating, vigarista condenado a dez anos de prisão por lesar os contribuintes americanos em 252 milhões de dólares. Deste senhor, Madre Teresa recebeu a simpática quantia de 1,25 milhão de dólares e a oferta de um jato privado para suas viagens. Em agradecimento, a religiosa presenteou Keating com um crucifixo personalizado.
João Paulo seria mais prudente se adotasse a política da imprensa brasileira. Já que os heróis, humanos sendo, padecem de todas as safadeza inerentes ao ser humano, melhor coroar uma cadela. De Catita, podemos ter certeza que não fraudou o fisco nem teve escravos. Muito menos homenageou ou recebeu homenagens — ou dólares — de tiranos ou vigaristas. Santa Catita!
Sobre Críticos e Psicanalistas
No último Baguete, Ney Gastal me convida a viajar ao passado. Vamos lá. O episódio ocorreu em Porto Alegre, em meados dos anos 70, na Reitoria da UFRGS. “Gritos e Sussurros”, de Ingmar Bergman, era analisado por um crítico de cinema e dois psicanalistas. Como eu estava voltando da Suécia, fui convidado por um terceiro psicanalista para o debate. Porto Alegre, naqueles idos, vivia uma circunstância peculiar: sem produzir filmes, tinha uma crítica de cinema ativíssima. Luis Carlos Merten, o crítico, abriu os debates, com voz empostada: “Dois são os instintos básicos da humanidade: sexo e fome. Como não existe fome na Suécia, os suecos fazem um cinema de sexo”.
Sem discutir a veracidade histórica da afirmação (no final do século passado, Estocolmo era uma das cidades mais pobres e sujas da Europa), considerei que no Brasil ninguém passava fome. Vivíamos em plena época das pornochanchadas e o cinema nacional girava em torno a sexo. Merten mudou de assunto e passou a falar de Bergman, o “cineasta da alma”.
Discordei. A meu ver, Bergman era o cineasta das neuroses sexuais. Em sua filmografia, o relacionamento físico entre os personagens é sempre sofrido, doloroso, traumatizante. (Quem não lembra o episódio dos cacos de vidro introduzidos na vagina, em “Gritos e Sussurros”?). Não por acaso, o cineasta estava em seu quinto casamento. Homem que não se acerta com uma mulher — afirmei — não se acerta com cinco nem com vinte e cinco. Mal terminei a frase, fui interrompido por um dos psicanalistas: “Não podemos invadir a privacidade de Bergman, que está vivo. Falemos de sua mãe, que já morreu”.
O debate continuou por outros rumos. Em uma das cenas, a personagem, interpretada por Liv Ullmann, após jantar com o marido, pergunta-lhe se quer café ou se vai dormir. Interpretação do segundo psicanalista: “Café ou cama. Temos uma manifestação típica de sexualidade oral”. Observei aos participantes da mesa que pretendia convidá-los para um cafezinho após o debate. Como arriscava ser mal interpretado, desistia da idéia. O debate foi rico em pérolas do mesmo jaez. Registro mais uma.
Da platéia, alguém perguntou porque razões Liv Ullmann usava duas alianças no mesmo dedo. Interpretou um dos analistas: “Agressão instintiva ao marido, desejo de viuvez antecipada. Ou ainda, uma projeção homossexual na mãe. Ela vê na mãe os princípios masculino e feminino e usa os dois símbolos no dedo”. Lavei a alma naquela noite: o douto analista ignorava que na Suécia as mulheres costumavam usar ambas as alianças, a própria e a do marido.
Se a história terminasse aqui, até que não seria grave. Ao sair da Reitoria, fui abordado pelo psicanalista que me convidara para o debate: “Por que aquela agressão pessoal ao Meneghini? Tens algo contra ele?” Referia-se àquele que insistia em falar da mãe do Bergman. Ora, não me parecia ter agredido ninguém. E muito menos o tal de Meneghini, que via pela primeira vez em minha vida. “Acontece que ele também está na quinta esposa. E como sempre as leva para morar com a mãe, parece que também não está dando certo”.
Já que estamos rememorando, lá vai mais uma, também dos anos 70. Ocorreu no cine Rex, na pré-estréia de “Alphaville”, de Jean-Luc Godard. O suíço tinha suas idiossincrasias e o público não o entendia muito bem. Em meio ao filme, o detetive Lemmy Caution, interpretado por Eddi Constantin, fuzila alguém com dois tiros na testa. Mais adiante, o fuzilado reaparece, vivo e em plena forma. A platéia estava confusa. Jefferson Barros, crítico então marxista, brilhou com sua interpretação. Que não podíamos pensar o cinema godardiano a partir de nossa concepção cronológica de tempo. Que o tempo, para o cineasta, era interior, psicológico, acronológico. Era o tempo de Bergson em a Évolution Créatrice, explorado por Proust em A la Recherche du Temps Perdu e retomado por Joyce, em Ulisses. A tese durou o que duram as rosas. Quando o filme entrou em cartaz, desvendou-se o mistério: na pré-estréia, o operador havia trocado os rolos. A tese do crítico pode ter tido vida breve. Mas era brilhante, sem dúvida alguma.
Esta peste universitária, o uso deliberado da obscuridade para parecer profundo, foi ridicularizada por Jean Bricmont e Alan Sokal, em 1996, em "Imposturas Intelectuais". O livro parte de um artigo publicado por Sokal na revista norte-americana "Social Text", "uma paródia repleta de citações sem sentido, mas infelizmente autênticas, sobre física e matemática, extraídas de obras de eminentes intelectuais da França e dos EUA”. A revista assumiu o texto — incompreensível — como um ensaio sério. A affaire, mais conhecida como o Caso Sokal, caiu muito mal no mundo acadêmico. Bricmont, ao visitar São Paulo no ano passado, foi duramente atacado pelos PhDeuses uspianos.
O tempo passa. Merten hoje escreve sobre cinema no Estadão e parece ter abandonado suas hipóteses delirantes. Dos psicanalistas, não tenho mais notícias. Como Freud ainda não bateu as botas, devem continuar enganando os gaúchos. Quanto ao Jefferson, pelo que me contam, abandonou as armas da crítica e o próprio marxismo. Com a queda do Muro, virou muçulmano. Faz suas preces voltado para Meca e observa religiosamente o Ramadã. Deus é grande e Maomé o seu profeta. Allah-u-akbar!
Intelectuais Orais
“Este lúbrico lamber sorvetes, sucedâneo de delícias proibidas”, escrevia, nos anos 60, a escritora feminista Carmen Silva. Proibidas mesmo, pois chegavam a constituir delito. De minhas aulas de Direito, uma frase me restou na memória, da lavra de Washington de Barros Monteiro. Em seus comentários ao Código Penal, falava do “asco indizível da felatio in ore”. A prática era criminalizada inclusive entre marido e mulher. Pois mesmo no recôndito do tálamo conjugal, continuava o criminalista, a esposa ainda guarda resquícios de pudor.
Os juristas pareciam nutrir uma aversão personalíssima à sexualidade oral. Quem não lembra de “Les Amants”, de Louis Malle? Ao ser exibido em Porto Alegre, um grupo de espectadores criou a Turma do Apito. Quando o personagem masculino descia os lábios pelo ventre da Moureau, a turma apitaria em protesto ao gesto abominável. Isso que a câmera não descia além do umbigo! A Turma do Apito, talvez intuindo o próprio ridículo, se manteve sempre no anonimato. Soube-se mais tarde que era liderada por um ilustre jurista, o Dr. Rui Cirne Lima, diretor da Faculdade de Direito da URGS.
Louis Malle apenas insinuava, mas já escandalizava. Nagisa Oshima mostrou a coisa indizível como ela é, em “O Império dos Sentidos”. Em vários países, teve de lutar para livrar seu filme dos circuitos pornográficos. Proibido no Japão, muito deve ter contribuído para a indústria turística... francesa. Excursões de japoneses — e japonesas, principalmente — invadiam Paris para ver o filme de Oshima. Eu o assisti em uma sala da Champs Élysées, em meio aos risos histéricos dos japas. Não que o filme fosse divertido. Rir, no Japão, é uma forma de expressar nervosismo.
Em Lisboa, após a Revolução dos Cravos, vi “J’irais comme un cheval fou”, de Fernando Arrabal. Parece que os anos de salazarismo mantiveram o paladar dos lusos limitado aos pastéis de Santa Clara. Assim, quando o personagem, ainda criança, tem uma crise epiléptica ao ver o cozinheiro ejacular no rosto da mãe, vários espectadores abandonaram a sala. Os revolucionários não haviam preparado corações e mentes lisboetas para tais extravagâncias espanholas.
Ó tempora, ó mores. Depois de Clinton, o que era coisa de cama passou a ser assunto de mesa. Com Monica Lewinski, o noticiário internacional tornou-se inconveniente para crianças. E embaraçoso para os pais: sem ter ainda falado sobre o tema às crias, tinham de começar explicando o que era sexo oral.
A imprensa americana selecionou, na semana passada, os eventos determinantes do século. Entre estes, foram listados a bomba de Hiroshima e a viagem à lua. Apesar de notáveis, tais fatos pertencem à rotina da história. O que nenhum ficcionista ou historiador ousaria imaginar era que uma moça ajoelhada ante um pênis provocasse uma tentativa de impeachment do dirigente da mais poderosa nação contemporânea.
Por trás de tudo, o poder sem limites da mídia. Não fosse a imprensa, Monica continuaria exercitando sua arte nos corredores da Casa Branca, sem que ninguém tivesse nada a ver com isso. Kenneth Starr seria mais um dos tantos malucos apocalípticos que vivem a pregar no deserto. Mas os jornais e a televisão existem e o esperma de Clinton nos é servido como sobremesa nos noticiários do almoço.
Se uma tiete de futebol já se sente poderosa quando leva um atleta analfabeto à Vara de Piranhas, imagine o leitor o ego de uma piranha de palácio, que quase leva à renúncia o presidente dos Estados Unidos. Monica Lewinski, monstro gerado pela mídia, acaba de lançar um livro e já pretende pertencer à história da literatura. “Gosto de imaginar que ficarei imortalizada num livro”, declarou ao The Daily Mirror. “Gosto de poder pegar na estante uma peça de Shakespeare, e espero que as pessoas façam o mesmo com meu livro.”
A moça deve ter ouvido falar de cursos de língua e literatura e misturou as espécies. Virtuose da língua, confundiu-a com literatura. Julga que a biblioteca de um leitor de Shakespeare possa abrigar o relato anódino de suas chupadas de corredor. Tudo é questão de escolher o falo mais prestigioso. Enquanto suas colegas de ofício ganham alguns caraminguás a cada prestação de serviço, Monica começa embolsando três milhões de dólares.
Há mulheres que marcam os séculos. Hipata, professora de filosofia assassinada no século III por monges cristãos, foi uma delas. Mulher belíssima, conferencista no Museu da Alexandria, escolheu o destino de permanecer virgem. Quando um de seus estudantes confessou-lhe estar apaixonado, a beldade levantou o vestido até a cintura e disse: “Disto, moço, é que você está apaixonado, e não de alguma coisa que seja bela”.
Não se fazem mais Hipatas como antigamente. Quanto Clinton abriu-lhe a braguilha, Monica viu lá dentro uma manifestação do mais sublime amor. Ao celebrar este estranho amor, sente-se escritora. Este novo tipo de intelectual, a meu ver, foi muito bem definido pelo sedizente historiador Marco Aurélio Garcia, secretário de Relações Internacionais do PT. Ao comentar o convite feito ao ex-operário Luiz Inácio Lula da Silva para estudar na Universidade de Oxford, Garcia cria uma nova categoria epistemológica. Diz que Lula não é de ler muito livro, “mas é um intelectual oral”.
Lula e Monica em muito se parecem. Egos inflados pela imprensa, passaram a acreditar nos jornais. Um sentiu-se capaz de dirigir uma nação. A outra julga pertencer à história da literatura. Intelectuais orais, cada um usa a língua a seu modo.
Central Promove Brasil
Todo homem, quando viaja, carrega sua pátria nas costas. Algumas são confortáveis de carregar, o passaporte vale como currículo. Para um brasileiro, que participa de uma atmosfera cultural européia mas mantém os pés atolados em um subdesenvolvimento africano, viajar é doloroso. Você pode ser cosmopolita e poliglota, especialista em Shakespeare e cultor de Dante, pode conhecer mais história ou línguas que o europeu ou americano médio. Mas será sempre brasileiro e visto como tal. Uma aura irremediável, cambiante conforme a época, o acompanhará na travessia de qualquer fronteira. São as imagens, esta percepção imediata que toda pessoa alimenta a respeito de um país distante. Aparentemente superficial, esta percepção não deixa de ser profunda, produto do que o país mais exporta.
Houve época em que éramos terra incógnita, pertencente mais ou menos ao território da lenda. Brasil era sinônimo de café, samba, carnaval e mulata. Buenos Aires era a sua capital. Na Suécia, perguntaram-me quando Perón voltaria ao Brasil. Em um Heurige em Viena, ao saber de onde eu era, um violinista quis homenagear-me. Começou com “Cielito Lindo”. É mais embaixo, observei. Ele atacou com “La Cumparsita”. Nem tanto, corrigi. Ele chegou finalmente à “Aquarela do Brasil”.
Não posso me queixar. Dan Quayle, vice-presidente dos Estados Unidos, ao voltar de um tour pela América Latina, lamentava não ter estudado latim na escola, para poder conversar “with those people." Mais grave é constatar que nos pespegaram uma das mais recentes lendas urbanas alimentadas pela mídia. Hoje, na Áustria, o Brasil é visto como um país que trafica órgãos humanos.
Com o futebol e as copas, nossa imagem mudou um pouco. O país passou a ser resumido em três palavras: Pelê, cafê, sambá. Em verdade, mais Pelé do que samba ou café. O mais sinistro policial de país socialista, ao ver o passaporte verde, para demonstrar sua erudição geográfica, por uns segundos abria a carranca em um sorriso: “Ah, Pelê!” Mesmo nos confins do Saara, você dificilmente escaparia de ser abordado por um árabe, às vezes por uma criança, que o saudaria com ar cúmplice: “Pelê!”
Nos anos 70, passamos a ostentar outros ícones: ditadura, tortura, matança de índios. As esquerdas no exílio, banidas pelos militares de 64, haviam virado o jogo. De simulacro de paraíso tropical, o Brasil passava a ser visto como uma tirania assassina. Os índios matavam brancos à vontade, inclusive os funcionários da Funai que tentavam levar-lhes assistência. Mas este lado do conflito sempre foi escanteado. Uma imagem recorrente perpassou então a Europa, a de um garimpeiro jogando ao alto uma criancinha índia para espetá-la no facão.
Para reforçar o clichê, não faltaram antropólogos ávidos de aplausos e mordomias das universidades européias. Darcy Ribeiro afirmava existirem seis milhões de indígenas no Brasil por ocasião da chegada de Cabral. O número não é aleatório: remete àquela outra cifra, a do holocausto. Os gatos pingados lusos que aqui aportaram deveriam ter um serviço fabuloso de recenseamento para contar seis milhões de indígenas em um imenso continente inexplorado. Bastaram algumas declarações irresponsáveis de velhos comunossauros para que o ícone Brasil virasse um misto de samba e genocídio.
Em 79, para desolação de muito brasileiro que fazia carreira como exilado nas capitais européias, ocorreu a anistia. As esquerdas voltaram e as imagens perderam sua conotação política. Foi a vez dos travestis de Pindorama descobrirem a Europa e disputar no velho mundo um lugar ao sol na velha profissão. No Bois de Boulogne, a pièce de résistance do cardápio sexual eram “les brésiliennes”. Ir a Paris e não transar um travesti brasileiro é como ir a Roma e não ver o papa, dizia-se. O Brasil passava a constituir a última utopia pós-comunista ao sul do Equador, o país bissexual.
Na última Copa, o metrô parisiense decidiu homenagear as equipes de futebol hospedadas pela França. Sobre a imagem em negativo dos jogadores, cartazes sobrepunham clichês dos países visitantes. Em nosso caso, uma foto com os jogadores rasgava-se para mostrar passistas de carnaval. Pernas de futebolistas, corpos de mulatas. Um menino francês — testemunhou Alcino Leite, da Folha de São Paulo — elaborou a síntese. Ao ver o cartaz, grita para os amigos: “regardez les travestis”.
Que um brasileiro culto tenha de suportar tais imagens, isto faz parte do carma de ter nascido nestes trópicos. Quando se viaja, não há como largar a pátria em um bagageiro de aeroporto e sair a flanar pelas ruas, sem o peso do passado. Há países que produzem e exportam ciência, tecnologia, pensamento e estética. Brasileiros, exportamos nossas primícias: índio, samba, futebol, mulata e travesti. O estrangeiro não calunia quando nos cola na testa tais adesivos. Apenas nos devolve as imagens que emitimos.
A auto-estima tupiniquim andou eriçada nas últimas semanas, quando “Central do Brasil” concorria ao Oscar. A estatueta, antes tão difamada, de repente virou objeto de desejo nacional. Um prêmio internacional, diziam os deformadores de opinião, faria bem ao ego coletivo, nestes dias de crise. Curiosa auto-estima: qualquer estrangeiro que tiver visto o filme, nos verá como um país onde quadrilhas de traficantes buscam, nas grandes estações de trens, crianças abandonadas para extrair-lhes fígado e rins.
Penetras maltrapilhos em baile de gente fina, não recebemos prêmio algum. Mas o mal já está feito. Walter Salles nos promoveu, urbi et orbi, a fornecedores de órgãos humanos. A nação, penhorada, o aplaude.
Cambalache em Curitiba
“Tudo aquilo que digo teria mais solidez — dizia Millor Fernandes — “se em vez de carioquinha, eu fosse um sábio chinês”. Me ocorre esta quadrinha do livre-pensador de Ipanema, por ocasião da visita do cidadão tibetano Tenzin Gyatso a Curitiba. Gyatso se pretende a 14ª reencarnação do Buda da Compaixão. Nesta mesma Curitiba, anda perambulando um outro cidadão da mesma estirpe, que se diz encarnação do Cristo. Mas é brasileirinho de Santa Catarina. Santo de casa não faz milagre. No Tibete, talvez tivesse platéia.
Mas Tenzin Gyatso não é um prosaico carioquinha. Vem do Oriente profundo, onde muito intelectual angustiado deste nosso Ocidente materialista foi buscar luzes. Também atende por Dalai-lama, palavra que, na língua lá deles, significa “oceano de sabedoria”. Mas não é traduzida nas cerimônias oficiais. Se é nobre e solene anunciar “agora vai falar o Dalai-lama”, não cairia bem para uma platéia tupiniquim algo como “fala, Oceano de Sabedoria!”. Brasileiro pode ser gentil, mas piada tem limite. Deixa pra lá. Melhor Dalai-lama.
Semana passada, o Oceano de Sabedoria inundou Curitiba, capital que se gaba de ter características de Primeiro Mundo. A última pedra de toque de sua arquitetura é o Teatro Ópera de Arame, magnífica construção em vidro e aço, encravada no buraco aberto na rocha por uma pedreira. A obra impressiona. Ao entrar nela, você mergulha em uma ilha de silêncio, onde repousa a enorme cristaleira sobre uma espécie de lago, cercada pela floresta. Ante aquele diálogo entre aço, vidro, rocha, água e verde, você se transporta para um outro mundo que não o nosso. Minha impressão foi estar na Finlândia, ante algum templo de Alvar Aalto. Mas não estamos na Finlândia, e sim neste país onde as palavras perdem seu sentido. Que a Ópera de Arame não seja de arame mas de aço, tudo bem, aceita-se a metáfora. Ocorre que aço e vidro não produzem boa acústica, e o Teatro Ópera de Arame pode ser muito lindo de ser visto, mas para óperas não serve. Muito menos para teatro. Mas pode receber, sem nenhum desconforto, tanto shows para massas como o Oceano de Sabedoria.
Nestes dias em que pessoas, ideologias e instituições se engalfinham na disputa pelos corações e mentes, o jornalista, situado no meio do tiroteio, não é nada inocente quando se trata de manipular palavras e dar-lhes novo sentido. Por exemplo, esta palavrinha tão elástica, cultura. Se, em sua acepção mais estrita, refere-se a bens do espírito, hoje cultura é também sinônimo de show-business. Assim, uma apresentação de rock ou Julio Iglesias são anunciadas como eventos culturais. Esta manipulação de conceitos, à primeira vista gratuita, no fundo não é tão gratuita assim. Pois constituindo cultura, tanto roqueiros como Julio Iglesias podem meter a mão no bolso do contribuinte, em nome dos sacrossantos incentivos culturais.
Na Ópera de Arame, que não é de arame nem para óperas serve, o Oceano de Sabedoria foi homenageado por importantes expressões “culturais” brasileiras, como Gilberto Gil, Rita Lee, Maitê Proença e Elba Ramalho. O líder espiritual do budismo, em sua visita ao Brasil, conseguiu fazer uma pontinha junto à troupe liderada pelo baiano. Nada de espantar neste país, onde João Paulo II disputa com padre Marcelo um lugar ao sol nas hit parades do mundo do disco. Terra abençoada esta nossa, que tudo transmuda no colossal caldeirão da vulgaridade. Quando cultura é show-business, budismo também é espetáculo. Palmas para o Oceano de Sabedoria, que ele merece. Para quando o CD “Mantras de Curitiba”?
Escritores, historiadores e pensadores se arrancam os cabelos, nesta data redonda de final de milênio, para melhor definir o século que agoniza. Mas a musa nem sempre se entrega a quem atrás dela corre. Terá sido Enrique Santos Discépolo, letrista portenho que jamais teve pretensões de filósofo, quem melhor resumiu este drama, em “Siglo veinte, cambalache”. Para os leigos na matéria, cambalache é o nosso brechó ou bric-à-brac. Para curtir a letra deste tango imortal, clique aqui [NE: disponível no site original], onde você também encontrará explicações das expressões em lunfardo. Para Discépolo, “vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseaos”.
Hoy resulta que es lo mismo
ser derecho que traidor,
ignorante, sabio, chorro,
generoso, estafador.
Todo es igual; nada es mejor;
lo mismo un burro que un gran profesor.A milenar cultura tibetana não resistiu ao ar dos trópicos. Em poucos dias, o Dalai-lama submergiu nas águas rasas do mercado do disco. Do oceano de sua sabedoria, a imprensa nos reproduziu lugares comuns tão ao gosto do Papa e demais sumidades que vivem do gogó: se pronunciou pela paz na Iugoslávia, criticou a distribuição de renda no Brasil, defendeu a conscientização contra o desmatamento da Amazônia e comentou que é mais fácil cuidar do planeta do que se mudar para Marte. Profunda sabedoria!
De chefe no exílio de um Estado oprimido, Tenzin Gyatso foi promovido a garoto-propaganda de celebridades do momento. Personagem das páginas de política internacional, foi transferido para os cadernos de lazer. No mundo do espetáculo, todo es igual.
Fuga para o Oriente
Em “As Sereias de Titã”, Kurt Vonnegut Jr. concebe uma curiosa forma de vida, seres translúcidos em forma de diamantes, que viviam grudados às paredes das cavernas de Mercúrio. Podem procriar três horas após nascerem. Não atingem a maturidade, deterioram-se e morrem. Fome, inveja, ambição, ódio, religião e luxúria lhes eram irrelevantes e desconhecidos. Só têm um sentido, o tato. Imóveis, utilizam uma única forma de comunicação, composta de apenas duas mensagens:
— Estou aqui, estou aqui, estou aqui — diz uma.
— Que bom para você, que bom para você, que bom para você — responde a outra.
Em tal organização social, certamente curdos não estariam matando turcos, nem sérvios massacrando kosovares, nem hutus degolando tutsis. Para o bem e para o mal, nela imperaria o “egoísmo natural das pedras”, de que falava Pessoa. Ocorre que não habitamos em Mercúrio. Terráqueos, somos seres sociais, incapazes desta indiferença olímpica. Mas quando vejo líderes políticos ou religiosos, tentando convencer seus semelhantes da justeza de suas idéias, não deixo de invejar os seres estelares de Vonnegut.
Considerações que fiz na semana passada sobre o Oceano de Sabedoria — que também atende por Dalai-lama, — provocaram alguns regougos de desagrado. Em uma fatwa por e-mail, foi-me inclusive sugerido exercitar um pouco mais a tolerância. Em verdade, não teci maiores críticas ao Dalai-lama ou ao budismo. “Mulher e religião” — dizia um dos padres de minha adolescência — “não se discute: se abraça”. Discutir religião é tão inútil quanto discutir futebol. De nada adianta apresentar argumentos racionais a um homem de fé. Na crônica anterior, meu alvo era esta máquina de moer homens e idéias, a mídia, que põe no mesmo plano líderes religiosos e cantores do show-business.
Não creio em Deus ou deuses. Mas não costumo fazer proseletismo de minha falta de fé. Ateu, quando sai a pregar a inexistência de deus, é porque anda desesperado para encontrar um. As safras de marxistas deste século que finda foram recrutadas geralmente entre trânsfugas do cristianismo. Órfãos de Jeová, jogaram-se nos braços da História, cultuada como nova divindade. Quando alguém me diz acreditar em Deus, respondo como os seres mercuriais: que bom para você. Isto não me impede, no entanto, de olhar com ironia para as pretensas encarnações deste ou daquele deus. No dia em que não pudermos contestar ou negar dogmas, estaremos vivendo em uma república teocrática fundamentalista. Salman Rushdie que o diga.
Os templos budistas estão se multiplicando no Brasil como cogumelos após a chuva, desde a primeira vinda de Tenzin Gyatso, para a Eco-92. Tanto a data como a presença de um líder religioso em um encontro sobre meio ambiente não são frutos do acaso. Três anos antes, caía o Muro de Berlim. Em 91, a URSS virava sucata. Quem viu muito bem o vazio de fé que assolaria o Ocidente foi o cineasta italiano Nanni Moretti, em “Palombella Rossa”. O filme é de 89 e, significativamente, não foi distribuído neste Brasil, cujos intelectuais ainda carpem a morte das ideologias.
A história tem como personagem principal um deputado comunista que, do dia para a noite, perdeu a memória. A cena final é emblemática: em uma auto-estrada, centenas de jovens correm para saudar o sol. Está inaugurada a nova religião, o culto da natureza. Não por acaso, o interlocutor privilegiado do Dalai-lama no Brasil é Fernando Gabeira, ex-guerrilheiro marxista que trocou sua fé na História pela militância ecológica. Gyatso intuiu rapidamente esta virada ocidental e sempre insiste, do alto de seus parangolés, na defesa do meio ambiente.
Fugir para o Oriente nada tem de original. A idéia desde há muito fascina pensadores e poetas ocidentais. Em uma de suas odes, assinada por Álvaro de Campos, já em 1914 Fernando Pessoa sonhava:
“...o resto de mim,
Atira ao Oriente,
Ao Oriente donde vem tudo, o dia e a fé,
Ao Oriente pomposo, fanático e quente,
Ao Oriente excessivo que eu nunca verei,
Ao Oriente budista, bramânico, sintoísta,
Ao Oriente que tudo o que nós não temos,
Que tudo o que nós não somos,
Ao Oriente onde — quem sabe? — Cristo talvez ainda hoje viva,
Onde Deus talvez exista realmente e mandando tudo...Mais recentemente, escritores como Herman Hesse e Aldous Huxley, expuseram em suas obras este namoro com o misticismo oriental. “Sidarta”, de Hesse, foi um dos livros de cabeceira dos anos 70. Na trilha aberta por pensadores profundos, pregadores mais ágeis e pragmáticos salvaram suas lavouras. Ainda nos 70, Bhagwan Shree Rajneesh, o guru dos Rolls Royces, “fez” o Brasil. Não poucos discípulos, alguns gaúchos inclusive, foram prestar-lhe culto em seu ahsram em Poona. O Bhagwan — palavra que significa divino — hoje enfrenta problemas nada metafísicos com o fisco americano. Mas isto não abala a fé de seus seguidores: os Estados Unidos, em seu materialismo, parecem não ter entendido a mensagem de paz do mestre.
Marx morto, guru posto. Nestes dias em que antigos comunossauros viram o bumbum pra lua para reverenciar Alá, os tempos são maduros para profetas do Oriente. Como vasto é o mercado dos crédulos, neste ramo da literatura de auto-ajuda há lugar ao sol até para um brasileirinho, o Paulo Coelho.
Aos Gurus de Indaiatuba
Semana passada, falava das franquias budistas que inundaram o generoso mercado da credulidade nacional, após a Eco-92. Falei também desses senhores que saem do Oriente profundo para “fazer” o raso Ocidente. Citei Bhagwan Shree Rajneesh, que estaria enredado com o fisco americano. De Estocolmo, um leitor sempre atento me avisa que o guru dos Rolls Royces já morreu. Consulto meus oráculos eletrônicos para checar a data. De fato, desencarnou de sua carcaça tributável em 90. Mas a morte é uma ilusão, caro leitor. Enquanto existirem crédulos no mundo, eterna será a raça dos sacerdotes. Qualquer dia o Divino Rajneesh reencarna, quite com o fisco, nalguma esquina do Ocidente.
Enquanto isso, nossos gurus domésticos da CNBB decidiram desculpar-se pelos erros cometidos na evangelização de negros e índios. Durante a missa de abertura das comemorações dos 500 anos de evangelização do Brasil, que reuniu mais de 300 bispos em Indaiatuba (SP), o presidente da entidade, dom Jayme Chemello, fez um mea culpa pelos males perpetrados por sua estirpe. Conclusão do episcopado tupiniquim: a Igreja Católica foi co-responsável pelo massacre de grupos indígenas durante o período colonial e omissa na denúncia da escravidão de povos africanos.
Por ocasião das comemorações do quinto centenário do Descobrimento — que antropólogos, sociólogos e outros ólogos querem equiparar a genocídio — no dia 26 de abril do próximo ano, em Santa Cruz de Cabrália (BA), os bispos apresentarão suas desculpas oficiais, cinco séculos depois e no mesmo local onde ocorreu a primeira missa em território brasileiro. Para a cerimônia, foi elaborada uma oração na qual pedem “perdão por tantas cruzes que, em nossa história, foram impostas aos teus filhos, sobretudo aos índios e negros”.
Não é fácil entender tantos séculos de espera para pedir desculpas. Muito menos porque pedir desculpas só a negros e índios. Os brancos, que mais do que ninguém sofreram a opressão de Roma, não parecem ser filhos de Deus. Se a moda pega, qualquer dia a Igreja estará pedindo desculpas aos mouros pelos massacres nas Cruzadas.
Não se sabe se os indígenas farão um gesto recíproco, desculpando-se por ter almoçado um religioso português. Dom Sardinha, bispo de Algarves, abominava os costumes nativos e não permitia que os indígenas assistissem à missa nus. Apesar de beber sangue humano todos os dias, durante a eucaristia, Sardinha vivia arengando contra o canibalismo dos brutos. Estraga-prazeres d’além-mar, foi devorado sem maiores liturgias. Quanto à escravidão, os prelados se desculpam à toa. Afinal, sempre foi aceita pelo livro que fundamenta a fé cristã. Lê-se no Êxodo:
“Quando comprares um escravo hebreu, seis anos ele servirá; mas no sétimo sairá livre, sem nada pagar. Se veio só, sozinho sairá; se era casado, com ele sairá a esposa. Se o seu senhor lhe der mulher, e esta der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do senhor, e ele sairá sozinho. Mas se o escravo disser: ‘eu amo a meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero ficar livre’, o seu senhor falo-á aproximar-se de Deus, e o fará encostar-se à porta e às ombreiras e lhe furará a orelha com uma sovela: e ele ficará seu escravo para sempre”.
Antes mesmo da era cristã, a Bíblia já concedia aos escravos o ano sabático, só há pouco conquistado pelos professores universitários no Brasil. As relações entre patrão e empregado também merecem um comentário do hagiógrafo: “Se alguém ferir o seu escravo ou a sua serva com uma vara, e o ferido morrer debaixo de sua mão, será punido. Mas, se sobreviver um ou dois, não será punido, porque é dinheiro seu”.
Sobre a mão-de-obra imigrante, lemos no Levítico: “Os servos e servas que tiverdes deverão vir das nações que vos circundam; delas podereis adquirir servos e servas. Também podeis adquiri-los dentre os filhos dos hóspedes que habitam entre vós, bem como das suas famílias que vivem conosco e que nasceram na vossa terra: serão vossa propriedade e deixá-los-eis como herança a vossos filhos depois de vós, para que os possuam como propriedade perpétua. Tê-los-eis como escravos; mas sobre os vossos irmãos, os filhos de Israel, pessoa alguma exercerá poder de domínio”.
Preceitos do livro antigo, dirão os prelados. Não procede. No que diz respeito à escravidão, o Novo Testamento de novo nada tem. Paulo, o fundador do cristianismo, não faz nenhuma objeção à sua prática. Na epístola a Tito, exorta os escravos a “ser em tudo obedientes aos seus senhores, dando-lhes motivos de alegria; não sendo teimosos, jamais furtando, ao contrário, dando prova de inteira fidelidade, honrando assim, em tudo a doutrina de Deus, nosso Salvador”.
Se os padres querem penitenciar-se pela omissão na denúncia da escravidão, melhor fariam começando por jogar ao lixo o livro que empunham na defesa de suas fés. Patéticos príncipes da Igreja, estes senhores esforçam-se para chegar ao século XX e lutam pelos direitos humanos, mas não ousam renunciar à milenar camisa-de-força que os nega. Se a função da CNBB é evangelizar, como declara seu novo presidente, isto significa levar ao gentio a Boa Nova, ou seja, a mensagem do Cristo, Deus e filho do Deus único da cristandade. Em suma, libertar africanos e índios das trevas de suas crendices animistas.
Não foi outro o trabalho de Anchieta, Nóbrega, Vieira e dos missionários que expandiram a doutrina cristã. Pretenderão os príncipes reunidos em Indaiatuba, com suas desculpas tardias, condenar como criminosos estes construtores da brasilidade?
Zelotismo Ilhéu
Três são os males que acometem um gaúcho em visita às praias de Santa Catarina: Tunga penetrans, Larva migrans e encatarinamento. O primeiro é o bicho-do-pé e tem cura fácil, basta comprar uma pomadinha na farmácia. O segundo também atende por bicho geográfico e parece querer desenhar, sob a pele do hospedeiro, o mapa da ilha em alto relevo. A terapia é a mesma. Pior é o encatarinamento: desencatarinar-se sai bem mais caro. Em geral, exige cinco ou mais anos de residência no local de contágio.
Encatarinamento é aquela sensação de paz e bem-estar que inunda o gaúcho, já cansado do asfalto e concreto de Porto Alegre, quando se deixa contaminar pelo verde e azul da ilha, pelo recortes suaves da Lagoa da Conceição e de suas praias. Para quem nasceu na pampa, um mar ondulado sempre lembrará o lento vai-e-vem dos alhos-bravos, batidos pelo minuano que vergasta as coxilhas. O encatarinamento se instala quando o gaúcho decide: “A ilha é linda. Ainda volto para ficar”.
Se tiver passado pela ilha em turismo rápido, voltará com o vírus incrustado na alma. Se um dia cometer o desatino de voltar para ficar, terá percepções insólitas sobre a nova geografia. Ao atravessar a ponte, não mais será visto como cidadão de um mesmo país. Se rio-grandenses e catarinenses são brasileiros, do ponto de vista legal e político, na ilha criou-se uma sutil distinção. Os que nela moram são definidos pelos ilhéus como “gente nossa” e “gente de fora”. Gente nossa é o nativo descendente de açorianos, que lá vive há décadas, fala um português chiado e vive em geral da pesca, turismo ou cabides estatais. A mídia local criou uma palavra para designá-los, portada com orgulho: manezinhos da ilha.
Gente de fora não é exatamente todo não-ilhéu. Se o visitante ficar por lá uns quinze dias, chama-se turista. Quanto mais gastar será melhor visto. Mas ai do turista se decide ficar. Vira automaticamente gente de fora. Esta rejeição, tive ocasião de constatá-la onde menos seria de se esperar. Em meus dias de UFSC, em uma reunião do Departamento de Letras, cogitou-se da contratação de um professor com doutorado, vindo de São Paulo. Do fundo da sala, alguém estrilou: “Já vão trazer mais gente de fora”. Expliquei pacientemente que uma universidade, por definição, jamais se faz com “gente nossa”. Toda universidade, desde a Sorbonne até a USP, é erguida com gente de fora, e esta é sua vocação. “Se a gente de fora abandonar esta ilha, professora, a universidade desmorona”.
A xenofobia insular assume laivos hidrófobos quando a gente de fora é o gaúcho. Apaixonados pela ilha, não somos correspondidos. Qual é o menor circo do mundo? — costumam perguntar os ilhéus. São as bombachas: só cabe um palhaço dentro. No que até teríamos de concordar, caso se referissem às figuras circenses dos CTGs. Mas não é o caso. Com esta piada, que julgam espirituosa, querem referir-se a rio-grandenses que jamais usaram bombachas e lá estão para dar seu contributo à comunidade local.
Em Um Estudo de História, Arnold Toynbee investiga os contatos entre civilizações no espaço e os conflitos daí decorrentes. Segundo o historiador, as civilizações "agressivas" tendem a estigmatizar suas vítimas como inferiores em cultura, religião ou raça. A parte ofendida reage, seja tentando forçar-se a um alinhamento com a cultura estrangeira, seja adotando uma postura exageradamente defensiva.
Estas duas reações, insensatas para o autor, são definidas como zelotismo e herodianismo, atitudes assumidas pelos judeus ante à violenta pressão do helenismo. "A facção zelota — diz Toynbee — foi formada por pessoas cujo impulso, em face dos ataques lançados por uma civilização alheia e vigorosa, foi assumir a posição negativa de destruir o formidável agressor. A fé que animava os zelotas era a convicção de que, se mantivesssem sua tradição ancestral e a preservassem intacta e inalterada, seriam recompensados, recebendo a força e a graça divinas para resistirem à agressão alheia, por mais hegemônica que parecesse a superioridade material do opressor. A postura dos zelotas foi a de uma tartaruga que se recolhe ao casco, a de um ouriço que se enrola dentro de uma espinhenta bola defensiva".
Interrogado sobre o que seria necessário para despoluir Florianópolis, disse o governador Espiridião Amin: “mandar embora alguns gaúchos”. Nada de novo sob o sol. Sem o significado maior do embate na Galiléia, em Santa Catarina a história se repete como piada sem graça. Os gaúchos sempre tiveram uma influência benéfica no desenvolvimento econômico e cultural do Estado, construíram as bases de sua universidade e dinamizaram a imprensa catarinense. Em um acesso de zelotismo, Amin assumiu a postura suicida do ouriço.
Que o Manezinho da Ilha tenha vontade de ver o gaúcho pelas costas, entende-se. É sua forma de reagir a uma cultura forte e invasora. No fundo, gostaria de exigir passaporte e visto de entrada a todo gaúcho que atravessa a ponte. Que um governador assuma este estado de espírito já é mais grave. Cultor da poesia gauchesca, político que costuma recitar os preceitos do “Antônio Chimango” para administração da estância, Amin deve conhecer também as coplas de Fierro:
Los hermanos sean unidos,
porque esa es la ley primera;
tengan unión verdadera
en cualquier tiempo que sea,
porque si entre ellos pelean
los devoran los de ajuera.
Males Gálicos
Gíria de uma época, a palavra talvez até já tenha morrido. Mas foi um fantasma de meus dias de adolescência. Era em geral proferida em voz baixa e, de preferência, longe dos adultos. Vez que outra, surgia uma tragédia no colégio: fulano estava engalicado. Por galica, ou galiqueira, entendia-se, na fronteira gaúcha, a sífilis. E o portador da galica passava a ser visto mais ou menos como um leproso. Mas por que galica?
Só bem mais tarde, em função de leituras vadias, fui entender a origem da palavra. Em uma história da prostituição, li que o primeiro registro histórico da doença ocorreu em uma guarnição militar francesa sediada na Itália, mais precisamente em Nápolis. Os franceses imediatamente a batizaram como mal napolitain. Ofendidos, os italianos reagiram e passaram a chamá-la de mal galique. Só se chegou a um entendimento comum quando um médico, com evidente vocação para diplomata, afirmou que o mal não provinha da França nem da Itália, mas de Vênus, nome latino para Afrodite, a deusa grega do Amor.
Mal venéreo? Então tá! Mas como chegou até nós aquela corruptela do antigo mal galique? Em Memórias do Coronel Falcão, de Aureliano Figueiredo Pinto, há uma pista. No Clube dos Caçadores, cabaré da Rua da Praia que reunia a elite política do Estado, lá estavam as cortesãs francesas, importadas diretamente da França para Porto Alegre, para consumo da aristocracia rural gaúcha. Verdade que muitas eram judias vindas da Polônia, com estágio em Paris. Mas falavam francês, já que sempre deu mais status ser prostituta francesa do que prostituta polaca. Através do Clube dos Caçadores — também chamado de Plenarinho, dada a freqüência dos deputados — o galicismo lá do norte terá chegado ao Rio Grande do Sul.
Para este mal gálico, a medicina encontrou cura fácil. Mais graves são outras enfermidades crônicas, oriundas também de Paris, trazidas pela mídia e pela universidade brasileira. Semana passada, aportou no Rio de Janeiro mais um desses agentes transmissores, a psicanalista francesa Elisabeth Roudinesco, que vem vender seu peixe neste mercado generoso quando se trata de acolher crendices com sotaque estrangeiro. Se Marx já morreu e nenhum intelectual europeu tem hoje coragem de mercadejar seu cadáver, Freud ainda continua vendável. Verdade que o bacilo da psicanálise surgiu mais ao leste, nas margens do Danúbio. Mas é nas margens do Sena que encontra cultura mais favorável para reproduzir-se. Roudinesco veio de Paris para lançar no Brasil seu “Dicionário da Psicanálise”, onde sistematiza as diferentes escolas deste ramo da ficção que, por intuição dos balconistas, já começa a ser exposto nas prateleiras dos livros de auto-ajuda.
Roudinesco está feliz com sua viagem e tem ambições continentais: “A América Latina representa realmente o futuro da psicanálise e o que faz sua força é que se ensina a teoria psicanalítica em todos os departamentos de psicologia”. Os europeus, que sempre viram este continente como o laboratório ideal para experimentos sociais, implantaram nas universidades latino-americanas verdadeiras escolas de marxismo. Com a morte recente desta religião, aproveitam agora a infra-estrutura acadêmica para explorar os estertores de uma outra religião moribunda, o freudismo.
Outro insuspeito mal gálico que assolou o país, travestido como produto autóctone, foi o assim chamado cinema novo. Suas origens estavam em Paris e não em Pindorama. A revelação é do crítico de cinema e professor na Universidade Católica de Pernambuco, Alexandre Figueirôa Ferreira. Sua tese de doutorado na Université de la Sorbonne Nouvelle tem como título uma pergunta: "A moda do cinema novo na França foi uma invenção da crítica?"
Foi, responde o professor, e da crítica parisiense. Em entrevista para Veja, diz o pesquisador que o cinema novo raramente ultrapassou o circuito alternativo de festivais e cineclubes. Se os filmes brasileiros eram exibidos em várias capitais da Europa, foi a militância política dos críticos franceses, intelectuais de esquerda convencidos de que as encostas do Pão de Açúcar logo se transformariam numa nova Sierra Maestra da guerrilha cubana, que garantiu impacto ao cinema novo.
“Uma das revistas mais cultuadas da época, Les Cahiers du Cinéma, chegou a apontar o cinema novo como modelo universal para o cinema feito fora do esquema de Hollywood — diz Figueirôa -. Só que muitos dos filmes citados não eram sequer exibidos em sessões normais. Nos exemplares do Cahiers da época aparecem cartas de leitores reclamando: eles queriam assistir a esse ou àquele filme que fora muito elogiado mas não era exibido em lugar algum”.
Para o professor, havia um acordo ideológico entre os cineastas brasileiros e os críticos franceses, todos intelectuais de esquerda. “Diziam que não havia lugar para uma revolução nos países desenvolvidos, mas imaginavam que ela estava prestes a explodir no Terceiro Mundo. Então, os cineastas faziam filmes que falavam desse assunto e os críticos falavam bem desses filmes. Não era cinema. Era política”.
O cinema novo — quem diria? — era mais uma galiqueira a contaminar o Terceiro Mundo. Nossos cineastas faziam cinema para francês ver. Enquanto a América Latina era um cadinho de sanguinolentas utopias européias, teve algum viço. Chegou até a exportar a idéia de que o cangaceiro — um pobre diabo analfabeto, fruto da miséria do Nordeste — era uma espécie de redentor dos oprimidos. Como são inesgotáveis as reservas de credulidade da América Latina, é bastante provável que a psicanálise tenha ainda algumas décadas de sobrevida.
Mas o muro de Berlim já ruiu. O de Viena não perde por esperar.
Deus com Grife
Precisei outro dia comprar cuecas. Entrei numa loja e pedi à balconista que me mostrasse algumas. Furunguei entre as caixas e escolhi as que me pareceram convenientes, pelo formato, cor e preço. Fui cumprimentado pela moça:
— O sr. tem bom gosto. Escolheu as cuecas do Luciano Szafir. Quer levar um pôster dele?
Quanto ao bom gosto, obrigado. Mas quem seria o tal de Szafir? Para não passar pelo vexame de ser visto como o mais inculto dos clientes, agradeci sem mais perguntas. Chegando em casa, fui me instruir junto a pessoa mais próxima do mundo dos mitos: afinal, quem é o tal de Szafir?
— Mas como? Não sabes quem é o Szafir? É o pai do filho da Xuxa.
Ah, bom! A Xuxa eu conhecia. Dela não há como escapar. Você entra no supermercado ou na quitanda da esquina e lá está aquele rosto sem sal anunciando qualquer coisa. Quer dizer que o tal de Szafir é o marido dela?
— Nada disso. É o pai da filha dela. É diferente.
Até aí, tudo inteligível. Em um país de 14 milhões de divorciados ou separados, nada de espantar esta nuança entre marido e pai do filho. Vá lá! Mesmo assim, que tinha a ver o Szafir com as cuecas?
— Questão de grife. Cuecas insinuam virilidade. Não percebeste ainda que nas propagandas o que mais se salienta é o pinto? Como o Szafir é um bom reprodutor, sua imagem vende a idéia de que usar aquelas cuecas é ser bom de cama.
Santa ingenuidade, a minha. Imaginava que cuecas fossem uma questão de higiene!
Passo no supermercado para comprar queijos e, já na entrada, uma faixa me oferece pães Olivier Anquier. Profundo mistério. Conheço pão d’água, pão francês, pão de centeio, pão de aveia, pão de queijo, pão-de-ló e por aí afora. Mas pão Olivier Anquier, este eu não conhecia. Volto para casa informar-me junto a pessoa com os pés mais no chão.
— Mas como? Não sabes quem é o Olivier? É o marido da Débora Bloch.
Desta vez, me senti duplamente analfabeto. O esclarecimento de pouco me servia, pois tampouco eu sabia quem era a tal de Débora. Fui então pacientemente informado de que era uma atriz de novelas. O que só me deixou mais confuso: o que tem a ver a qualidade de um pão com o marido da Débora Bloch? Ele seria por acaso padeiro?
— Padeiro é o português da esquina. O Olivier é um panificador francês. Um boulanger, por favor. É diferente. Até parece que não entendes de marketing. Além de francês, ele é lindo e é marido da Débora. O pão só pode ser bom.
Consta que os marketeiros são conhecedores da psicologia profunda, que seus anúncios atingem a camada daqueles nossos desejos inconscientes, que sequer ousamos formular. Pode ser. Se assim for, no que dependesse de mim, fabricantes de cuecas ou pães já estariam falidos.
Em Portugal, os anunciantes de Marlboro tiveram uma surpresa com a publicidade do produto. De tanto mostrar vaqueiros e cavalos em seus cartazes e clips, acabaram estimulando a demanda... por cavalos. Como conheço o rigor lógico dos lusos, não me espantaria que isto não fosse piada. Fato ou piada, diante do marketing eu sou este português. Jamais me ocorreria comprar cigarros, quando me exibem cavalos o tempo todo. Como jamais me ocorreria comprar cuecas quando me anunciam o Szafir, ou pães quando me oferecem o Olivier. Vivendo e aprendendo! Morei em Estocolmo e Paris, duas cidades que se orgulham da excelência e diversidade de seus pães, e jamais vi um com assinatura. Foi preciso voltar a este país incrível, onde as palavras perdem o sentido, para descobrir o pão com grife.
Trocando os queijos de bolso: semana que vem, o Instituto Brasileiro de Marketing Católico está organizando, em Salvador, o 4º Encontro Nacional de Marketing Católico, com o objetivo de estimular a renovação dos métodos de ação das lideranças da Igreja, na área de arrecadação de fundos para suas obras. Dom Cláudio Hummes, arcebispo de São Paulo, fará a palestra de abertura: “A Importância do Marketing para a Evangelização”. Nada de surpreender: a propaganda é instituição criada pela Igreja.
Fé ou cuecas, pão ou deus, tudo depende de marketing. A Igreja se moderniza, sacode das costas a poeira dos séculos e se adapta ao mercado. De qual marido de qual celebridade se valerá a Igreja para vender seu pacote teológico? Se o Szafir consegue vender um produto tão prosaico como cuecas, por certo venderia como pão quente uma mercadoria nobre como Deus.
E o consumidor, tanto de pães como de fés, teria uma ampla gama de opções neste mercado de muletas. Ao passar pelos templos, faixas nos anunciariam: nosso Cristo é o melhor. Quem garante é o pai do filho da Xuxa. Experimente o Jesus do Olivier Anquier, com sabor de Paris. Aprovado pela Débora Bloch. Para viúvas e românticos, temos o Deus do Boff, com tempero do Caribe. Palavra del Líder Máximo.
Só não sei se os marketeiros católicos estão cientes do Código de Defesa do Consumidor. Segundo seu artigo 37, é enganoso qualquer tipo de publicidade que divulga informação total ou parcialmente falsa, capaz de induzir o consumidor a erro de julgamento. A pena para o infrator é de três meses a um ano de detenção e multa. Em um país que desperta para a noção de cidadania, não se espantem padres e bispos se consumidores invadirem as igrejas, devolvendo deuses bichados e fora do prazo de validade. Com direito a queixa no Procon.
Se você acha que está aderindo a uma religião, desperte, caríssimo: você comprou uma grife.
O Guru e a Cidade
A cidade grande é, em geral, cosmopolita, adjetivo que não rima com provinciana. Mas as palavras são traiçoeiras. Se, em princípio, não vamos encontrar cosmopolitismo na província, isto não impede que o provincianismo impere nas metrópoles. São Paulo é pródiga nestes arroubos de aldeia de fim de mundo. A começar por sua imprensa.
Ao referir-se à cidade de São Paulo, o Jornal da Tarde escreve a Cidade, assim mesmo, com maiúscula. (Só falta explicar entre parênteses: pronuncia-se The City). Por que Cidade? Porque seus redatores assim o querem. Mas nem só os redatores. Ainda este ano, um secretário do município afirmava: “transformamos o centro de São Paulo em algo equiparável apenas aos centros de Nova York e Paris”. Juro que li.
Dediquei-me, um domingo destes, ao prazer perverso de atravessar o centro da Cidade. Jamais vi algo tão sórdido e sujo, tão decrépito e triste, como este centro do qual foge todo paulistano. Ruas desertas e imundas percorrendo uma arquitetura horrenda, camelôs esparsos oferecendo contrabando (para quem, se nas ruas não passava ninguém?), putinhas decrépitas exibindo suas carnes magras... mas para quem? Que um político faça tal afirmação, entende-se, mentir é inerente a seu ofício. O que não se entende é como um repórter ouve, impassível, tal impropério. De uma coisa as capitais brasileiras podem orgulhar-se: nenhuma tem um centro tão abominável como São Paulo.
A imprensa faz o que pode. Escritores e artistas com trânsito na mídia são contratados pela televisão para externar seu amor à Cidade e louvar seus encantos. Há um ou dois anos, os jornais anunciavam São Paulo como a Capital Internacional da Gastronomia. Não se pode negar que aqui existam restaurantes interessantes e até mesmo sofisticados. Daí ao arrogante título que a Cidade se outorga, vai uma longa distância. Dos jornais, cujos repórteres vivem girando por Paris, Roma ou Nova York, não ouvi nenhum protesto. Pelo contrário, divulgaram amplamente a risível condecoração.
Nestes momentos, São Paulo em nada difere da distante Dom Pedrito, por exemplo, quando se outorga a pomposa comenda de a Capital da Paz. Esta obsessão em louvar os supostos encantos de uma cidade monstruosa parece ser vital para o paulistano, a única forma de fazê-lo acreditar, pela repetição ad nauseam, de que vive numa cidade linda.
Falei outro dia dos oceanos de sabedoria vindos do Oriente em busca de mercado virgem para seus misticismos. Como Colombos tardios, estes intuitivos gurus só agora estão descobrindo a América. Denunciados como criminosos e vigaristas na Europa e Estados Unidos, sabem que, neste continente, em se plantando, tudo dá. Pois um destes senhores, montado em bilhões de dólares, aceitou um desafio dos maiores: tornar São Paulo mais feia do que já é.
Na semana passada, o empresário Mário Garnero anunciou aos paulistanos a construção de uma espécie de templo indiano em forma de pirâmide com 103 andares e 494 metros de altura. Nova York que se cuide. Os habitantes da Cidade, que adoram comparar a Avenida Paulista com a Quinta Avenida, teriam agora, para exibir ao mundo, um edifício mais alto que o Empire State Building. O prédio ocupará um terreno equivalente a setenta quarteirões e pelo menos 50.000 pessoas devem circular pelo local diariamente.
E aqui entra o guru, nada menos que o indiano Maharishi Mahesh Yogi, aquele mesmo que tornou-se bilionário após posar de guia espiritual dos Beatles e dos Roling Stones. Os gaúchos o conheceram de perto. Nos setenta, ele andou por Porto Alegre, sentado em um andor, vestido de branco, com uma rosa vermelha na mão e adorado por uma pequena multidão de otários. Sua organização, que fatura três bilhões de dólares anuais, graças aos otários unidos do mundo todo, patrocina o projeto. Para se ter uma idéia deste horror arquitetônico, o prédio mais alto de São Paulo tem hoje 42 andares. O projeto do guru pretende dar mais visibilidade à Cidade. Tem toda razão: o ridículo seria visível a léguas de distância.
Admirável país, este nosso. Rússia, Alemanha, Hungria, Romênia, precisaram de décadas de regime comunista para enfear suas capitais. Brasileiros, somos ágeis. Dispensamos tiranias para enfear as nossas. Mais ainda: nos orgulhamos da fealdade. Fomos contemplados com uma geografia divina para a instalação de uma cidade, a baía da Guanabara. O gênio tupiniquim não hesitou em imprimir seu toque personalíssimo, aquele Cristo horrendo estaqueado em um pico. São Paulo, que nasceu com certo requinte, do qual ainda existem traços perdidos no centro antigo, logo descambou para uma imitação medíocre do urbanismo vertical ianque. Não bastasse sua atual condição de câncer urbano, um vigarista indiano se propõe a cravar-lhe uma torre de meio quilômetro de altura.
A conclusão da “Tower” está prevista para 2004. "O empreendimento vai virar o marco de São Paulo", diz Garnero, o testa-de-ferro de Maharishi. "Atrairá turistas como o Empire State faz em Nova York”. O que me lembra mais uma vez Dom Pedrito. Um belo dia, sem mais nem menos, seu alcaide decidiu substituir os belos paralelepípedos rosados da cidade por asfalto. Sua argumentação era simples. Paris era uma capital desenvolvida. Paris tinha asfalto. Logo, para desenvolver-se, Dom Pedrito precisava ser asfaltada.
Estranhamente, Dom Pedrito ainda não atrai tantos turistas como Paris. Mas alguns paulistanos já estão cansando do provincianismo da Cidade. Um político perplexo jura ter lido esta pichação em um muro: “Chega de obras. Queremos promessas”.
Doña Manolita e as Pesquisas
O desejo de imortalidade, a angústia de viver um pouco além do que lhes é dado, tem levado não poucos homens a dedicar suas vidas à construção de obras monumentais. Alguns o conseguem, outros morrem no intento. Como a luta entre os mortos é mais intensa do que a entre os vivos — como observou alguém, creio que Pessoa —, muitos permanecem por séculos abrindo espaço a cotoveladas nas enciclopédias e defendendo o próprio território da invasão dos novos defuntos. Para outros, mais amados pela fortuna, a posteridade lhes é conferida por uma frase. Lord Acton é um destes. Professor de História Moderna da Universidade de Cambridge, no final do século passado, pouco ou quase nada sabemos de sua obra, senão esta frase: “todo poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente”.
Um outro privilegiado, não tão citado quanto o lorde inglês, mas bastante conhecido pelos espanhóis e hispanófilos, foi Don Manuel Azaña, presidente da República durante a Guerra Civil Espanhola. Político e escritor controvertido, praticou vários gêneros literários. Se pouco ou nada conhecemos de sua literatura, Doña Manolita, — como era chamado por seus desafetos — deixou uma frase lapidar: “Se cada espanhol opinasse sobre aquilo que sabe, e só a respeito do que sabe, se faria um grande silêncio, que poderíamos aproveitar para o estudo”.
A reflexão é aplicável a todos os povos, particularmente nesta era midiática. Recente pesquisa da Unesco, feita entre os jovens cariocas, mostra que 21% dos adolescentes das classes populares, entre 15 e 20 anos, acreditam que a ditadura é o melhor regime de governo. Somados aos indiferentes (6,9%) e aos que não souberam responder (36,6%), esse número chega a 64,5%, ante 35,5% dos que defendem, com convicção, a democracia. Entre os jovens mais abastados, o índice — indiferentes, não sabem e os favoráveis ao regime de exceção — é de 47% ante 53%. Não é de surpreender que qualquer dia a Unesco nos ofereça uma pesquisa feita entre cegos, sobre os percentuais de preferência pela cor verde ou azul.
As televisões, ibopes e unescos da vida invadem as ruas, perguntando a pobres diabos, cuja erudição em geral se resume a futebol ou novelas, qual sua opinião sobre Saddam Hussein, Clinton, Otan, Milosevic, Kosovo, sem preocupar-se com o grau de formação ou informação do entrevistado. As respostas são inseridas em grades e devolvidas ao público como opinião: o jovem acha isto, o brasileiro pensa aquilo, o carioca julga assim, o paulista assado. Como não evocar Doña Manolita? Que idéia pode ter de ditadura um carioquinha entre 15 e 20 anos que, no fim do regime militar, recém havia abandonado as fraldas? Cabe também perguntar-se se terá alguma idéia de democracia, já que fora dela nada conhece para comparar.
Ante o caos e a miséria de nossa democracia esfarrapada, não é de espantar que um alto percentual de adolescentes faça a opção pela alternativa, a ditadura. Vivemos bombardeados por uma mídia que mostra a ditadura cubana como ideal de paraíso terrestre. Em Cuba não existem eleições livres, partidos políticos nem liberdade de imprensa. Mas também não existe fome, desemprego ou analfabetismo, como apregoam os deformadores de opinião. Logo, nada melhor que uma prolongada ditadura como panacéia universal aos problemas sociais. O show escancarado de corrupção e venalidade de nossos senadores, deputados e vereadores faz o resto do trabalho. Democrático ou ditatorial, o poder corrompe, como ensina o professor Acton. Daí a apostar em ditaduras, vai um grosso sofisma, típico de quem não sabe raciocinar e é chamado a dar opiniões sobre o homem e o mundo.
Nada há de novo nesta descrença na democracia, ou pelo menos neste simulacro de democracia que praticamos. Nem esta descrença é coisa de jovens. Ainda não são decorridos dois anos e parece termos esquecido que a abstenção nas últimas eleições foi de 21,5% e os votos em branco e nulos foram 18,7%. Os votos válidos somaram apenas 59,8% do total de eleitores. Fernando Henrique teve 35,9 milhões, total menor do que os 38,3 milhões de votos nulos, brancos e omitidos. Foi reeleito por pouco mais de 30% dos brasileiros com direito a voto. Em outras palavras, foi recusado por dois terços dos 106 milhões de eleitores. Lula, o intelectual oral — como o definem seus mentores — teve recusa ainda maior.
O grande vencedor das eleições passadas, foi o candidato Nenhum Deles. Venceu com uma mão atada às costas, sem ter feito campanha, sem comprar eleitores, sem receber grana por baixo da mesa de bancos e empreiteiras. Este candidato, sem programa e sem mácula, também tem sido o meu nos últimos anos. No ritmo em que marcha a nossa política, penso que a ele permanecerei fiel por 2.000 afora.
As eleições de 98 evidenciaram o desprezo do eleitorado pelas práticas políticas do país. Nisto reside uma das vantagens da democracia: este desprezo pode ser manifesto nas urnas. Estamos longe das unanimidades ao estilo de Envers Hodja ou Fidel Castro, sempre reeleitos por quase 100% dos votos.
Em Os Sete Loucos, um visionário personagem de Roberto Arlt dizia contar com os jovens para fazer a revolução: “são estúpidos e entusiastas”. Não por acaso, o PT foi o grande defensor do voto aos dezesseis anos. Está colhendo o que plantou. Quanto ao mais, sempre é bom lembrar o conselho de Nelson Rodrigues:
— Envelheçam, jovens, envelheçam antes que seja tarde.
Mas se cada brasileiro opinasse sobre aquilo que sabe, e só a respeito do que sabe... que silêncio divino!
Coisas Nossas
Se só existe no Brasil e não é jabuticaba, é bom desconfiar — diz o povo. Brasileiros, cultivamos instituições jamais vistas entre as nações. Podemos ser pobres no que se refere a padrão de vida ou índices sociais. Mas riqueza de imaginação é o que não nos falta quando se trata de criar fórmulas para enganar o próximo. Isto é, achamos que enganamos o próximo. No fundo, estamos enganando a nós mesmos.
Submersos entre estas coisas, que chamarei de nossas, nós as vemos como pertencentes à normalidade da vida. Sem ir muito longe, os cabineiros de elevador, como são chamados, pela legislação do trabalho, os ascensoristas. Há décadas, pobres diabos assalariados são pagos para subir e descer em prédios, dentro de caixotes exíguos, exercendo esta complexa atividade, que exige uma habilitação personalíssima, a de apertar botões numerados. Em uma entrevista para o “Roda Viva”, o sociólogo italiano Domenico di Masi se escandalizava: se a questão é dar um salário a alguém, dêem-no e mandem o rapaz passear, divertir-se. Ou freqüentar uma universidade. Por que encerrá-lo em um caixote para exercer uma função inútil?
Fosse só esta a profissão inútil alimentada na terrinha... Não sei se o leitor sabe, mas os zeladores de carros já são reconhecidos por lei. Sob a ameaça de riscar ou depredar seu carro, uma malta organizada de vagabundos lhe extorque uma significativa propina cada vez que você estaciona em lugar público... e está criada a profissão. Os ofícios de antropólogo, psicanalista ou prostituta ainda não foram reconhecidos. Mas o de zelador de carros já foi.
Como também o de jornalista. Mais que reconhecido, regulamentado. Em todas as democracias do Ocidente, jornalista é aquele que tira do jornalismo a maior parte de seus proventos. Exceto neste país incrível, onde só pode exercer a profissão quem tem um papelucho de uma escola de jornalismo. A lei infame foi parida pela junta de generais que assumiu o poder em 1969. As esquerdas, em geral tão raivosas quando se trata de contestar os atos gestados pelo regime militar, fazem boquinha de siri ante o dispositivo corporativista.
Reservas de mercado só fortalecem a guilda. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. A regulamentação do jornalismo gera milhares de empregos na área acadêmica. Professores que muitas vezes jamais pisaram numa redação de jornal ensinam jornalismo, ganhando para isso muito mais que o jornalista e sem o risco de enfrentar os humores do mercado.
Isto sem falar nos juízes classistas, outra excrescência muito nossa, herança da era getulista. Sem qualquer habilitação profissional, sem curso nem concurso, um analfabeto qualquer pode exercer as funções de magistrado na Justiça do Trabalho, bastando para tanto ser indicado por um sindicato amigo. Se não há sindicato amigo ao alcance do analfabeto, este cria o sindicato e faz-se indicar. Recebe como juiz alfabetizado, formado em Direito e concursado e aposenta-se com proventos integrais, após cinco anos de exercício do cargo. (Para o juiz togado, são exigidos 35 anos para a aposentadoria, se homem, 30 anos se mulher). Após décadas de parasitismo incontestado, os classistas parecem ter seus dias contados. Mas permanecerão, como a jabuticaba, na crônica das coisas nossas.
Não bastassem os ascensoristas, flanelinhas e juízes classistas, uma vereadora paulistana apresentou projeto para mais uma especialização brasílica: por força de lei, todo restaurante seria obrigado a ter um funcionário de plantão nos toaletes. Garçom é dispensável, nenhuma lei o prevê. Mas um pateta de plantão junto aos sanitários, este sim é fundamental nos serviços de restauração da Paulicéia. Enquanto rola o projeto da vereadora nos corredores escusos da Câmara Municipal, uma outra ameaça ao bom senso ronda o país: está em tramitação na Câmara Federal projeto que regulamenta a profissão de escritor. A coisa nossa foi proposta do deputado Antônio Carlos Pannunzio, por sugestão de membros da Academia Sãoroquense de Letras, de São Roque, interior de São Paulo.
O projeto estabelece as normas para o exercício da profissão, nos mesmos moldes da de jornalista. Só não exige curso superior. Aprovada a lei, escritor não é mais quem escreve, e sim quem possui certificado de habilitação profissional, fornecido exclusivamente pelo sindicato ou por associações profissionais da categoria. Mais uma vez o Brasil se destaca, por sua criatividade, no concerto das nações.
O projeto do deputado é prato feito para articulistas, a crônica já vem pronta. João Ubaldo Ribeiro, da Academia Brasileira de Letras, não perdeu a vaza. Estóico, afirma que se lhe for exigida carteirinha de escritor para escrever, não escreve mais. Espanta-se que ainda não tenham promulgado uma Lei de Proteção da Literatura Nacional, obrigando todo mundo a gostar de tudo o que escritor brasileiro escreve.
Do alto de seu fardão, o acadêmico esquece que batalhou para obter sua carteirinha de imortal, sem sequer consultar os pósteros. A lei da qual julga escarnecer existe desde Machado e há muito o protege: é a própria Academia, são os currículos forçados dos cursos de Letras, os títulos obrigatórios nas listas de vestibular, os programas de leitura forjados em Brasília. A lei mafiosa infesta todo o ensino nacional e só serve para fazer os jovens detestar literatura.
E vivam as idiossincrasias nossas: quando se trata de carro ou vinho, bom mesmo é o importado. Quanto o assunto é literatura, enfia-se goela abaixo nos estudantes o produto nacional. Afinal, os escritores, como os flanelinhas e os juízes classistas, também são seres humanos e de algo precisam viver.
Esprit du Siècle
Estive certa vez em um restaurante em Verona, a mítica cidade italiana onde Shakespeare situou o meloso drama de Romeu e Julieta. O restaurante era simpático, sem maiores luxos. Mas oferecia um vinho de nada menos que onze mil dólares. Deixei por conta do folclore. Deve ser para que o turista possa dizer ao voltar: “estive em um restaurante com vinhos de até onze mil dólares” — pensei. E pedi algo mais compatível com meus parcos reais.
No entanto, a garrafa existia e ali estava, ao alcance de quem um dia quisesse gabar-se de tê-la degustado. Não tenho condições para entender — nem financeiras nem palatais — o que possa fazer um vinho valer o preço de, digamos, dez passagens de ida-e-volta a Paris. Teria talvez valor para um colecionador, se fosse obra de arte para ser vista. Mas sua estética consuma-se na ingestão. E ingerir onze mil dólares em uma refeição deve deixar, suponho, um amargo arrière-goût. O mesmo não pensarão milhares de pessoas que, ao sabor em si da coisa, preferem degustar seu valor de mercado.
Preparando-se para o mítico réveillon do ano 2.000, a Moët & Chandon está lançando um champanhe de luxo, significativamente batizado como Esprit du Siécle. Cada garrafa, de um lote de trinta, custará a bagatela de vinte mil dólares. Não me convidem para brindes. Tampouco meus dólares farão falta à nobre cave. Pelo que conheço do espírito deste século, não faltarão novos ricos para disputar a tapa as trinta garrafinhas. Sorverão cada gole como se sorvessem ouro. Claro que se o mesmo champanhe fosse servido ao preço de vinte dólares, não achariam graça alguma na bebida.
Dentro deste mesmo espírito do século, foi exibida em abril passado, no Grand Palais de Paris, a coleção de arte pessoal do médico Paul Gachet (1828-1909), amigo de artistas como Cézanne e Van Gogh. O "Retrato do Doutor Gachet", cuja primeira versão está nos EUA, foi comprada em 1990 por uma empresa de seguros japonesa por US$ 85 milhões. Em 1904, andou cotada a 400 dólares. Nos dias de Van Gogh, talvez não encontrasse comprador nem por vinte florins. A autenticidade de algumas obras desta coleção vem sendo questionada nos últimos meses. O Museu d'Orsay resolveu entregar 35 telas que estão sendo expostas no Grand Palais para análise no Laboratório de Investigações dos Museus da França. Se forem autênticas, valem milhões. Se não, não valem nada.
Não passa ano sem que algum quadro mofado, jogado às traças em um bric-à-brac qualquer, seja comprado por centavos por algum turista incauto, que o submete ao olhar de um perito. Se comprovada sua autoria por algum mestre (europeu, bem entendido), seu valor multiplica-se por milhões e o quadro some da vista dos mortais que, sem laudo algum, nele haviam encontrado alguma empatia. Seu valor não depende mais da fruição estética de quem o contempla, mas da palavra final do perito. Pintura é algo por demais importante para ser deixada à apreciação dos cultores da pintura.
Recentemente, foi encontrada na Tijuca uma escultura de bronze, jogada em um canto do Instituto Estadual de Educação, sem que ninguém lhe atribuísse maior valor. Pelo menos até o momento em que alguém viu uma assinatura, “Rodin”. Alvoroço nos meios artísticos: o bronze poderia valer milhões. Suspeita-se que se trate de uma reprodução em bronze de uma obra — em pedra — do escultor. Se assim for, não vale nada, por belo que seja: que volte à poeira onde jazia. Mas, por precaução, chamem os peritos do Museu Rodin, em Paris!
Ficções muito poderosas, nutridas durante séculos, regem este mercado. Sem participar de tais ficções, já perambulei como um fantasma pelos Prados e Louvres da vida. Se um quadro me agrada, uma reprodução barata, comprada na saída do museu, já me satisfaz para contemplação futura. Mas a profusão de coleções e pinturas e esculturas tornou os museus uma monótona sucessão de formas. Hoje, deles só quero distância. Viajar, para mim, é ver os museus por fora e os bares por dentro.
“A pintura afundar-se-á” — escreveu Fernando Pessoa, no início deste século, anunciando o espírito que o rondava. “A fotografia privou-a de muito de seu atrativo. A futileza da estupidez privou-a de quase todo o resto. O que restou tem sido levado em despojo pelos colecionadores americanos. Um grande quadro significa uma coisa que um americano rico quer comprar porque outras pessoas gostariam de comprá-lo, se pudessem. São assim os quadros postos em paralelo, não com poemas ou romances, mas com as primeiras edições de certos poemas e romances. O museu torna-se uma coisa paralela, não à biblioteca, mas à biblioteca do bibliófilo. A apreciação da pintura torna-se não um paralelo à apreciação da literatura, mas à apreciação de edições. A crítica de arte cai gradativamente para as mãos dos negociantes de antigüidades”.
Pessoa morreu cirrótico e desconhecido. Esta percepção deve tê-lo confirmado como insano ante seus contemporâneos. Suponho que aquele discreto lisboeta, que percorria o Chiado com seu fato surrado, leria no mínimo com simpatia esta notícia que nos chega de Amsterdã: uma tela de Picasso, “Femme nue devant le jardin”, foi rasgada com uma faca por um doente mental fugitivo de um hospital psiquiátrico. Autores de atentados a ícones sagrados da pintura são sempre tido como loucos. Loucura individual merece hospício. A coletiva vale 85 milhões de dólares.
Mas o espírito do século não perdoa nada nem ninguém. Mais algumas décadas e os manuscritos de Pessoa, este peripatético genial consumido pela lucidez e pelo álcool estarão assumindo preços de champanhe da Moët & Chandon.
Pá de Cal na Tumba do Santo Gaúcho
Como toda religião, o marxismo criou seus deuses e demônios, santos e mártires, bíblias e altares. Aventureiros deste século, que normalmente seriam relegados ao rol dos assassinos, foram transfigurados em heróis pela Guerra Fria. Stalin mereceu todas as devoções de um deus e facínoras maiores ou menores foram dispostos a seu redor: Mao, Pol Pot, Envers Hodja, Ceaucescu, Castro, Guevara. Neste hagiológio, não faltaram santos e beatos brasileiros, como São Luís, Santa Olga, São Lamarca, Santo Marighela,. Se o leitor imagina que estou fazendo humor, é bom lembrar que, na Bolívia, Che Guevara é cultuado como San Ernesto de la Higuera e as procissões ao local de martírio do novo santo já estão gerando um turismo incipiente.
Se este foi o século do comunismo, pelas mesmas razões foi o século do culto aos fracassados. Particularmente nesta América Latina, onde a figura do herói coincide com a dos derrotados pela História. Você quer um manual do fracasso? Leia qualquer uma das dezenas de biografias de Che Guevara. Fracassou em todos os países onde lutou. Só venceu uma batalha: a da instauração em Cuba da mais longa ditadura do continente e do mundo contemporâneo. Teve sorte: morreu em odor de santidade. E até hoje sua efígie — xerox contemporâneo de um Cristo armado — permanece como bandeira e cartilha do subdesenvolvimento.
Brasileiros, não poderíamos fugir ao espírito deste século — ou talvez desta América — em seu esforço para transformar o fracasso em vitória. Biografias, romances, filmes e até currículos escolares foram criados com o relato dos feitos destes senhores que morreram lutando bravamente pela volta às trevas. Distante do Brasil e do mundo, até mesmo o Rio Grande do Sul contribuiu com um mito para a teologia marxista, Luís Carlos Prestes. Encarregou-se do hagiológio um baiano deslumbrado, Jorge Amado, trabalho pelo qual mereceu o Prêmio Stalin da Paz.
“E então eu te prometi contar a história do Herói, aquele que nunca se vendeu, que nunca se dobrou, sobre quem a lama, a sujeira, a podridão, a baba nojenta da calúnia nunca deixaram rastro” — escrevia o baiano, em O Cavaleiro da Esperança. — “E como ele é o próprio povo sintetizado num homem, é certo que o povo não se vendeu nem se dobrou. Como ele o povo está preso e perseguido, ultrajado e ferido. Mas como ele o povo se levantará, uma, duas, mil vezes, e um dia as cadeias serão quebradas, a liberdade sairá mais forte de entre as grades. ‘Todas as noites têm uma aurora’, disse o Poeta do povo, amiga, em todas as noites, por mais sombrias, brilha uma estrela anunciadora da aurora, guiando os homens até o amanhecer. Assim também, negra, essa noite do Brasil tem sua estrela iluminando os homens, Luís Carlos Prestes. Um dia o veremos na manhã de liberdade e quando chegar o momento de construir no dia livre e belo, veremos que ele era a estrela que é o sol: luz na noite, esperança; calor no dia, certeza”.
O Cavaleiro da Esperança foi escrito em 1941, traduzido e publicado nas democracias ocidentais e nas ditaduras comunistas, como parte de uma campanha para libertar Prestes da prisão, após sua sangrenta tentativa, em 1935, de impor ao Brasil uma tirania no melhor estilo de seu guru, o Joseph Vissarionovitch Djugatchivili que, qualquer dia, se a gente se descuida, ainda acaba recebendo busto ou nome de rua em Porto Alegre. Mais tarde, apesar das denúncias contínuas na imprensa internacional dos massacres e assassinatos de Stalin, Amado prestará seu preito ao “Paisinho dos Povos”, no baboso e encomiástico O Mundo da Paz. Com o fervor de crente que recebeu uma dádiva de seu deus, escreve Os Subterrâneos da Liberdade, última pérola do zdanovismo, ainda encontradiço em qualquer livraria do país, para vergonha das letras nacionais.
Para completar o altar, Tarso Genro andou convocando o Niemeyer — outro stalinista ferrenho, personagem de Amado em Subterrâneos e autor deste horror arquitetônico chamado Brasília — para erigir em Porto Alegre um memorial ao santo gaúcho, que voltou de Moscou ao Brasil, não em uma manhã de liberdade, como imaginava o baiano deslumbrado, mas em meio às exéquias da tirania pela qual tanto lutou. Me consta que o memorial ainda não saiu do papel. Mas os comunossauros são teimosos e não admitem derrotas.
Prestes celebrizou-se antes mesmo de sua desvairada Coluna, que percorreu o Brasil a pata de cavalo, de 1924 a 1927, tentando sublevar o país contra o governo de Arthur Bernardes. Como com a morte do marxismo fica cada vez mais inviável defender o fanatismo de Prestes, sempre restava a aura desta empreitada que, segundo alguns, teria inspirado a Grande Marcha de Mao Tse Tung na China. O homem nem era comunista e já lutava pela redenção dos brasileiros, defendem-se as viúvas. A recente abertura do arquivo de um insuspeito membro da Coluna Prestes, Juarez Távora, põe uma pá de cal neste mito moribundo.
O arquivo de Távora — oito pastas contendo cartas, bilhetes e croquis do comando rebelde, além de material governista — mostra que o exército de heróis, tão cantado por historiadores como pela própria filha de Prestes, Anita Leocádia, deixou um rastro de miséria, saques, estupros, mortes de civis e mesmo destruição de vilarejos. A documentação faz parte do acervo do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro e só agora, após setenta anos de manutenção da mentira, está sendo divulgada ao público.
Mas os povos adoram mitos. Passarão ainda muitas décadas antes que nossos historiadores deixem de ver como uma marcha de heróis o que não passou de uma aventura de românticos bandoleiros.
Perfume de Romênia
Em alguma parte de sua obra, Kafka evoca a idéia de uma casa em que qualquer pessoa pode entrar a qualquer hora, ali permanecer ou sair quando bem entender. Absorto em angústias metafísicas pelas ruelas de Praga, o escritor talvez não tenha percebido que essas casas existem e constituem, a meu ver, um dos grandes achados culturais do Ocidente. São os cafés, estes lares sempre abertos ao solitário por vocação ou ao homem em busca de companhia. Neles buscamos desde isolamento ou confraternização até abrigo. Se você tirita sob menos 15 graus numa Estocolmo hibernal, a distância entre seu corpo congelado e um útero quentinho, cheio de vida, tem a espessura de uma porta. Se você derrete em uma Madri a 40 graus, o oásis está do outro lado da maçaneta. Para um aficionado nos cafés madrilenhos, como Luis Buñuel, bar era um lugar de recolhimento. Para Sartre, Simone ou Camus, local de lazer, discussão e trabalho.
No Brasil, pode parecer estranho ver-se alguém lendo ou escrevendo em tais ambientes. Mas em Viena, alguns oferecem mais de cem jornais diários aos clientes. Na Paris do século passado, eram refúgio de universitários que, por não possuírem calefação em seus studios, buscavam os cafés para estudar e pesquisar. Daí a tradição de sentar por longas horas, mediante o consumo de apenas um café ou copo de vinho. Nas imediações da Sorbonne, ainda hoje há cafés em que tendemos a não falar muito alto para não atrapalhar as pesquisas do vizinho. Hábito inimaginável em Nova York, onde, mal se pede uma consumação, a conta já vem junto.
Em minhas primeiras viagens à Europa, revirei museus e castelos, furunguei livrarias e bibliotecas, freqüentei cinemas e exposições. Cumpridas estas peregrinações compulsórias, hoje viajo com um propósito específico: refestelar-me nas casas de Kafka. Sempre abertas, elas me esperam desde há séculos e me acolhem com carinho e fidalguia. Posso estar sendo herético, mas se um dia as traças ou cupins exterminarem as livrarias ou museus do velho continente, eu não sentiria muita diferença, desde que permanecessem abertos os antigos cafés europeus. E por que europeus? Porque — temos de convir — no Brasil esta arte está em vias de extinção.
“Fora do bar não há salvação”, dizia o finado Herr Moser, do também finado Chalé da Praça XV, minha antiga sala de estar e de trabalho de meus dias de Porto Alegre. Nestes dias, voltei a meu passado. Chalé fechado, Dona Maria também, Pelotense idem, fui visitar as novas casas que estariam ressuscitando o centro da capital gaúcha. Comecei pelo foyer do Theatro São Pedro, onde teria uma elegante cafeteria. Teria, é bom salientar. Sob os lustres solenes e em meio a tapetes vermelhos, que lembram vagamente os cafés de Praga e Budapeste, deteriorados pelo socialismo, funcionava um abominável buffet.
Mas havia outra esperança na Praça da Matriz, o antigo solar dos Palmeiro da Fontoura, agora transformado em restaurante. Por fora, tudo parecia indicar um espaço suntuoso. Me dirigi primeiro à cafeteria. De novo, o maldito buffet, esta nova praga que contamina o país de sul a norte. Era cafeteria — me informou o garçom. Agora é só almoço, o bar é lá em cima. Subi uma escadinha, uma seta me indicava: bar e restaurante. Entrei. Uma moça com ar de aeromoça me recebeu na porta. Bar? Não, aqui não tem bar. Mas e aquela placa, moça? Ela indica um bar. Qual placa?
Fiz a moça descer a escadinha, mostrei a placa. Dizia, com todas as três letras: bar. Ah, sim! Era bar. Mas só abre com o restaurante. E onde é o restaurante? É aqui, mas agora está fechando. E não eram três horas da tarde. Lembrei então meus dias em países socialistas, onde os bares existiam, o problema era fazer-se atender. Entre minhas muitas peripécias, gosto de contar uma vivida em Mangália, cidade balneária romena às margens do mar Negro.
Dias da ditadura de Ceaucescu. Serão dez horas da manhã. Estou na praia, dois garçons começam a abrir um bar. Foi quando este ingênuo que vos escreve tentou beber qualquer coisa. Pedi uma cerveja.
Ah, cerveja não tem. Enfim, água mineral? Muito menos. Tentei outras hipóteses. Existe na Romênia uma cachaça feita á base de ameixa, o haidouc, aguardente típico do país. Também não tem. Estamos sob domínio soviético, pensei, quem sabe um vodca. Nem pensar. Parti então para a utopia: serve então um uísque, pode ser? Nem em sonhos. Por curiosidade, já que nem no deserto me ocorreria tal idéia, pedi uma Coca, Pepsi, ou um refrigerante qualquer. Negativo. Não há nada para beber, então? Nada. E para comer, o que é que tem? Nada.
Nada não entendia eu. Era aquilo um bar? Era, disse o garçom. Estava aberto? Claro que estava, o senhor não está vendo? Eu estava vendo. Mas não há nada para comer ou beber? Não. E por que não há? Porque o distribuidor não trouxe. Entendi então a enfermidade que corroía os regimes socialistas. Teorias outras são supérfluas.
Pois senti um cheiro de Romênia nestes novos cafés de Porto Alegre. Bar que recusa clientes só pode ser bar socialista. Não depende de clientela para subsistir. Em algum outro ponto da cadeia, aluguel, salários e demais custos já foram pagos. Pelo Estado ou por alguma coisa qualquer ligada ao Estado. Ocorre que Estado não paga nada de seu bolso. Quem paga aqueles funcionários que esnobam clientes é você, o contribuinte e cliente potencial.
Não sei quem subsidia os novos bares que pretendem ressuscitar o centro de Porto Alegre. Da mesma forma que o governo petista não gosta de investidores, eles não gostam de clientes. Não por acaso, estes dois ficam ao lado do Palácio do Governo. Deve ser a proximidade com o poder que os contamina.
Dr. Castro e o continente puñetero
Deus não joga mas fiscaliza. Quando Pinochet foi detido na Inglaterra, a pedido do promotor espanhol Baltasar Garzón, o primeiro-ministro José Maria Asnar recebia oficialmente na Espanha o último tirano do continente latino-americano, o Dr. Fidel Castro. O ditador cubano foi, na época, o único chefe de Estado a criticar a decisão dos ingleses. Demonstrando boa dose de intuição, Castro logo pôs as barbas de molho. O Muro havia caído, a União Soviética desmoronado, Honecker fora obrigado a fugir da Alemanha, os Ceaucescu haviam sido fuzilados. O fim de século revelou-se cheio de surpresas e sempre é bom precaver-se contra os ventos da História.
Talvez o leitor se surpreenda com o doutorado que conferi ao Líder Máximo. Não fui eu quem o conferiu. Se alguém ainda não sabe, Fidel Castro é Dr. Honoris Causa pela Universidade Federal de Santa Catarina.
Não transcorreu ainda um ano após a prisão de Pinochet e a tal de História resolveu pregar mais uma peça. Fernando Henrique Cardoso gerou uma onda de protestos ao nomear como diretor da Polícia Federal um delegado acusado da prática de tortura. Indignadas, as esquerdas ergueram-se contra a grave ofensa aos Direitos Humanos. Uma semana depois, seus líderes disputam, na Cimeira do Rio, o privilégio de posar ao lado do homem que, há quatro décadas, vem pisoteando impunemente os tais Direitos Humanos, tão prontamente empunhados contra quem quer que não seja de esquerda.
Os mesmos chefes de Estado europeus, que deram aval ao bárbaro ataque a uma Iugoslávia indefesa — e dele participaram — sob pretexto de afastar um ditador, aplaudiram nesta semana as arengas insuportáveis, ao ouvido e à lógica, do tiranete do Caribe. Ditadura no quintal da Europa? Crime de guerra, genocídio, limpeza étnica. Ditadura no dos cubanos? Deixa pra lá! A América Latina é um fértil laboratório de utopias.
Só mesmo neste “continente puñetero”, como o definiu Roa Bastos, puñetero e saudoso de utopias sanguinárias, o Dr. Castro ainda consegue reunir seus coroinhas. Dá-se inclusive ao luxo de trazer um púlpito próprio, extravagância que sequer ocorre ao vice-deus polaco em suas tournées místico-teatrais pelo Ocidente. A imprensa nacional, tão lépida em nomear como ditador aspirantes novatos como Milosevic, sempre se refere ao decano dos ditadores contemporâneos como Presidente, Chefe de Estado, líder cubano. Verdade que às vezes pode-se ler “ditador Fidel Castro”. Mas só em artigos assinados, em geral por dissidentes cubanos. A expressão, já corriqueira na imprensa européia, ainda constitui heresia para o jornalismo tupiniquim.
Imperasse o imperador apenas nos limites de seu império, nada mais teríamos a deplorar a não ser a sorte dos súditos. Mas a ditadura castrista ultrapassa o território cubano e oprime seus opositores no Brasil e América Latina. Quantos profissionais terão perdido trabalho e oportunidades por não ver em El Comandante um libertador? Jamais teremos as estatísticas deste macarthismo às avessas. De minha parte, posso afirmar que perdi dois empregos em função do Dr. Castro. O primeiro foi no início dos 80, em Florianópolis. O editor do “Diário Catarinense” pediu-me uma crônica para o número zero do jornal. Nela, eu sugeria às esquerdas rezarem pela saúde e longa estada no poder de Pinochet e Stroessner. Não que eu tivesse maiores simpatias por tais senhores. Ocorre que, uma vez alijados do poder, o decano dos ditadores latino-americanos seria Fidel Castro.
A crônica rolou pelos computadores da redação, para escândalo dos coleguinhas. Meu nome morreu na casca. Uma jornalista gaúcha, dedo em riste, vociferava em plena Beira-Mar Norte: “Cara, tu não podes escrever isto”. Mas não é verdade? — perguntei. “Até pode ser. Mas não podes escrever isto”. Enfim, perdi um emprego que ainda não havia ganho. Dez anos mais tarde, em função do mesmo senhor, fui chutado de um cargo que já ocupava. O dia era 24 de outubro de 1992.
Na França, Jorge Amado declarou a revista russa Literaturnaia Gazeta que Cuba era uma ditadura. Escândalo nas esquerdas internacionais. Reali Junior, o correspondente do Estadão em Paris, entrevistou o baiano stalinista, numa tentativa de desagravar os revolucionários perplexos do Terceiro Mundo. Amado desconversou e saiu pela tangente. Falou em ditadura mas salientou suas virtudes, os famosos avanços em matéria de saúde e educação, exigindo o apoio dos escritores brasileiros a Fidel. Redator de internacional, coube a mim titular a matéria. Tasquei:
Jorge Amado nega rompimento com Fidel
Maravilha viver às margens do Sena e exigir fidelidade ideológica dos patrícios que sofrem às margens do Tietê. Na linha fina, me permiti uma ligeira ironia:
“Um escritor brasileiro não pode se levantar contra Cuba e injuriar a Revolução”, diz o romancista em seu apartamento em Paris
Dia 25 eu estava na rua. Santa ingenuidade a minha, imaginar que podia tecer ironias ao comunossauro baiano que louvava o comunossauro cubano, em uma imprensa que trata o ditador como presidente. Ou, mais carinhosamente, por Tio Fidel, como o fez em crônica recente o último stalinista de Taubaté, o Luís Fernando Veríssimo.
Se chamar o ditador pelo nome provoca a demissão de um jornalista que vive em outro país, a milhares de quilômetros de Havana, imagine o leitor o que pode significar não adorar Castro para um coitado que escreva em Cuba. Há quem diga que a Guerra Fria terminou. Terminou no hemisfério norte. Neste continente puñetero, o clown sanguinário da Disneylândia das Esquerdas continua prestigiado por políticos e jornalistas que ainda carpem as exéquias da Santa Madre Rússia.
A Mula de Maomé e Outras Questões de Fé
Jerusalém, a capital eterna de Israel, permanecerá unificada e indivisível sob a soberania de Israel — diz a plataforma de governo do novo primeiro-ministro israelense, Ehud Barak, que tomou posse na terça-feira passada. A afirmação pode parecer tautológica para quem vive longe do Oriente Médio e seus conflitos, mas não para palestinos e muçulmanos. Como os judeus e cristãos, eles reivindicam Jerusalém como sua cidade santa. A ANP (Autoridade Nacional Palestina) quer a parte oriental de Jerusalém como capital, para quando ousar proclamar-se Estado.
A pretensão surpreende, já que Alá não é exatamente originário daquela geografia. Ocorre que Maomé viajou, em uma noite, de Meca a Jerusalém. Esta jornada é conhecida como al-Isra, a viagem noturna. Como em uma noite — se perguntará o infiel, se naquela época não existiam aviões? Pergunta típica de quem não tem fé. Maomé foi conduzido, por obra de Alá, em uma besta alada chamada al Buraq, menor que um burro e maior que uma mula. Segundos os mulás, esta espécie de mula teria cabeça de anjo e rabo de pavão.
O pomo da discórdia reside no Domo da Rocha, que fica justo atrás do Muro das Lamentações. O leitor pode visitá-lo clicando aqui. Sob aquela cúpula há uma rocha, junto à qual Maomé teria apeado do Burak. Da mesma rocha, subiu ao Sétimo Céu após sua jornada noturna, sempre montado no Burak e guiado pelo anjo Gabriel. Ocorre que, para os judeus, aquele rochedo é a Pedra da Fundação, sobre a qual o mundo teria sido criado. Na mesma rocha, Abraão teria oferecido seu filho Isaac em sacrifício a Jeová. Em reconhecimento à fé de Abraão, Jeová poupou Isaac. Mais tarde, o Cristo não escapou à sua sede de sangue, mas isto já é outra história. Volto à mula de Maomé.
Com tanta pedra no deserto, os árabes houveram por bem escolher a dos judeus para fundamentar suas crenças. Maomé, apesar de analfabeto, sabia jogar com a linguagem dos profetas. Se os judeus acreditam que Jeová abre mares e arrasa cidades, por que Alá não poderia transportar o profeta em uma besta alada até Jerusalém? Na crença na al-Isra, reside todo fundamento das pretensões palestinas a ter Jerusalém como capital de seu Estado. Ao defender uma Jerusalém una e indivisível, o primeiro-ministro israelense não está lutando contra Arafat, mas contra a besta alada do Islã. É uma luta de Ehud Barak contra al-Burak. Ou, se quisermos, de Alá contra Jeová. E fé não admite discussões.
Por tais razões, há muito deixei de discutir tanto a existência de Deus como o bem-estar dos cubanos, após quatro décadas de ditadura. Pois a questão cubana, como a palestina, tornou-se uma questão de fé. De nada adianta apresentar fatos para os devotos de Fidel, estes jamais arredarão pé de suas convicções. Mesmo viajar e ver com os próprios olhos de pouco serve. Cada viajante costuma ver não o que vê, mas o que quer ver. Gosto de repetir o caso de uma turista francesa, deslumbrada com o “socialismo tropical”. Ao ler em um ônibus a inscrição “PAREDÓN PARA LOS TERRORISTAS”, a francesinha interpretou a coisa segundo sua fé. “Pardon pour les terroristes? Oh, ils sont gentils, les Cubains!” Terroristas, é claro, é quem exige eleições livres, alternância de poder, pluripartidarismo, economia de mercado e liberdade de expressão.
Em correspondência interna deste jornal, afirmei que discutir o castrismo, dez anos após o Nove de Novembro, não passa de mais um sintoma do subdesenvolvimento intelectual do continente. Ney Gastal viu nisto uma contradição, pois discuti a vinda de Castro ao Rio na última coluna. E se pergunta: “Não é notável o que se pode fazer com as palavras?”
É realmente notável, meu caro Ney. Pode-se até mesmo ver incoerência onde nada existe de incoerente. Não discuti o castrismo na última coluna. Não discuto questões de fé. Comentei, isto sim, a subserviência da imprensa nacional à ditadura cubana. Falava não de castrismo, mas de nossos jornalistas, tão criativos a ponto de criar mitos e depois passar a adorá-los. Castro não pertence mais ao universo ideológico. Situa-se hoje naquela esfera mítica criada pela mídia, onde vivem tanto deslumbradas como Lady Di, oportunistas como Picasso ou Neruda, vigaristas como Madre Teresa de Calcutá ou Rigoberta Menchú. Esta mitosfera confunde-se hoje com o que antes se chamava história.
Nem mesmo o último stalinista de Taubaté conseguiria negar, nestes dias, o caráter ditatorial do regime cubano. Assim como as pretensões palestinas a Jerusalém se fundamentam no vôo do profeta montado no Buraq, a crença no socialismo cubano tem se resumido, nos últimos anos, aos níveis de saúde e alfabetização dos cubanos. Que tenham sido alfabetizados, nisto não vai maiores méritos. A Disneylândia das esquerdas é uma ilhota com dez milhões de habitantes. Só São Paulo tem 15 milhões. Mas de que adianta saber ler em país onde há um só jornal?
Quanto à boa saúde dos ilhéus, perdoem-me os crentes, mas me reservo o direito à incredulidade. Nem mesmo os mais entusiastas turistas negam o nível quase de fome em que vivem os cubanos. No dia em que eu conseguir acreditar em saúde sem boa alimentação, acreditarei também na viagem noturna de Maomé, na espantosa velocidade de cruzeiro do Buraq, na existência de Jeová, na virgindade de Maria e na transubstanciação da carne.
Infelizmente, sou ateu. Aos crentes, felicidades!
Ressuscitando Babel
Feliz de quem tem no coração uma província, disse alguém. Um dia destes fui revisitar a minha, na fronteira seca do Uruguai com o Brasil. Nasci em Livramento, mas me criei em Dom Pedrito. Lá, ainda no ginásio, tive uma educação que hoje não existe nem mesmo em cursos de Letras. Do Colégio Nossa Senhora do Patrocínio, saí arranhando um latim razoável, lendo um inglês com o qual enfrentei a Europa e falando um bom francês. Não entendia, na época, as razões de aprender tantas línguas naquela cidadezinha, então com treze mil habitantes. Mais tarde, quando ganhei a França, descobri o sentido daquele rumo aparentemente ao inútil. Nesta volta ao passado, revi, após mais de trinta anos de ausência, minha professora de francês, a sempre jovial Maria Veiga.
Abracei-a com cuidado, como quem segura um vaso de porcelana da dinastia Ming. Pois Maria, como os marxistas e o mico-leão-dourado, pertence a uma raça em extinção, os professores de francês. Ela fazia parte não apenas de meu passado, mas do passado propriamente dito. O francês, primeira opção de língua estrangeira para quem se sentia atraído por humanidades, há muito vem sendo abandonado pelas escolas, substituído por ferramenta mais pragmática, o inglês. Os gaúchos que o digam. Nesta semana, por falta de alunos, a Aliança Francesa vendeu sua sede de seis andares em Porto Alegre. Sinal dos tempos, o comprador da sede é o Yázigi.
Enquanto o francês fenece irremediavelmente nestes trópicos, matando mais uma alternativa à língua triunfante do império, os franceses parecem estar mais preocupados com línguas mortas do que com a própria. Em um documento assinado em Strasbourg em 1992, a Carta Européia das Línguas Regionais, os países europeus decidiram incentivar o ensino e a difusão das línguas regionais ou minoritárias em todo o continente, estimulando a criação de estações de rádio e televisão, escolas e jornais que divulguem tais línguas, a maioria em fase de extinção. Até aí, tudo muito lindo, digno e justo. Quando jovem e romântico, já andei escrevendo que a humanidade se torna mais pobre quando uma língua morre.
Ocorre que a França, não mais que de repente, lembrou-se que não é só a França metropolitana, mas também os DOM-TOM, isto é, os Departamentos e Territórios “d’Outre-mer”. Não bastassem o basco, o catalão, o flamengo, o corso, o ocitano, o alsaciano e o bretão, que por si só já fazem do país uma pequena Babel, é preciso levar-se em conta as línguas da Guiana e Polinésia, das Antilhas e de La Réunion, de Vallis ou Futuna. Sem falar nos idiomas falados pelos imigrantes em território francês. Somando todos, temos nada menos que 75 línguas, desde o berbere ao takiki. A propósito, sabia o leitor que o arawak é uma das mais antigas línguas da França? Claro que nem o franceses sabem disso. Mas os antropólogos e lingüistas sabem.
Pensar que a humanidade se torna mais pobre quando uma língua morre pode ser muito poético. Mas deixemos o romantismo de lado. Se um país não consegue se entender com uma só língua oficial, imagine-se o caos se passar a ter 75. Jacques Chirac, o presidente francês, considera que a carta européia das línguas regionais não pode ser ratificada sem uma revisão da Constituição. Não bastasse estarem divididos entre 400 queijos, os franceses mergulharam em uma nova querela, desta vez lingüistica, que os divide entre neogirondinos e neojacobinos. Enquanto se perguntam se o takiki e o arawak devem ser reconhecidos como língua oficial e ensinados como tal, o inglês vai comendo o francês pelas bordas em todos os países onde o francês ainda era cultivado como língua de cultura.
A antropologia já foi definida como a mauvaise conscience do Ocidente. Antropólogos e lingüistas, oriundos de culturas vitoriosas, que acabaram sufocando centenas de outras culturas ineptas ante a História, parecem querer redimir-se ressuscitando tribos e línguas mortas ou moribundas. Se se debruçassem sobre o passado sem pré-conceitos ideológicos, veriam que nenhuma língua se impõe como tal sem o apoio de um exército, uma marinha e uma força aérea. O resto são dialetos ou línguas com vocação para dialeto. O alemão expandiu-se com a ascensão de Hitler. Retraiu-se com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra. O russo avançou sobre o planeta durante a tirania comunista. Retrocede com o desmoronamento da URSS. Que mais não seja, aí está a língua de Bill Gates ocupando todos os espaços no planeta. Roma não nos deixa sofismar. Morto o império, morreu o latim.
Ressuscitar línguas mortas ou sem nenhum poder de barganha pode ser esporte intelectual muito prazeroso para europeus. Para o Terceiro Mundo, este deserdado do século XX, o mais urgente é ter acesso a línguas prestigiosas. O francês ainda é uma delas, apesar de alguns franceses parecerem desejar sua morte, ao lutar pela oficialização de línguas que não se impuseram culturalmente. Se a questão é ressuscitar culturas mortas, melhor se faria ressuscitando o latim, que pelo menos já nos deu as obras de um Virgílio ou Marco Aurélio, Tomás de Aquino ou Descartes.
A França terá bom senso e o debate sobre estas minorias lingüísticas ficará por conta do apreço dos gauleses por questões bizantinas. Mas os efeitos da nova polêmica certamente se farão sentir em Pindorama. Neste Brasil que ainda não conseguiu alfabetizar seus cidadãos em português, sociólogos, antropólogos e outros ólogos já andam falando em 160 línguas. Enquanto nossos professores de francês viram peças de museu, não faltarão ressentidos com o Ocidente para resgatar parlapatagens de bugres.
Como Fugir do Milênio
“Se elegemos viver entre bárbaros, devemos suportar os ruídos de suas bárbaras superstições. Mas o imbecil que se senta e espera até meia-noite para tocar um sino ou disparar um fuzil porque a terra chegou a um ponto determinado de sua órbita, deve ser considerado um inimigo da raça humana”. Me ocorrem estas reflexões de Ambrose Bierce nestes dias em que os marqueteiros se empenham em reduzi-lo à condição de excomungado, caso no próximo 31 de dezembro você não esteja em alguma capital ou ponto privilegiado do planeta.
As angústias vêm sendo cozinhadas lentamente desde há meses, preservadas em banho-maria e vendidas semanalmente na mídia. A intenção é que, na passagem para o ano 2000, você se sinta um verme, um leproso excluído da grande festa, caso não se encontre em Paris ou Roma, nalguma ilha do Pacífico ou nalgum cruzeiro em alto mar. Que esta passagem só ocorra de fato um ano depois, ou que dois terços do planeta estejam longe, atrás ou adiante do ano 2000, isto pouco importa. A humanidade adora números redondos.
Mas se você não reservou quarto de hotel ou camarote em transatlântico, não desespere. Ainda há vagas. Por 100 mil dólares — lembra a revista Veja — você pode passar com seu cônjuge três dias na suíte de luxo do hotel Ritz de Paris, com direito a um Jaguar com motorista, mordomo exclusivo 24 horas, champanhe Taittinger e taças de cristal Baccarat, álbum de fotos e limusine do aeroporto para o hotel, além de dois relógios de ouro Bulgari de presente. Outra opção é uma volta ao mundo no Concorde. A viagem começa na véspera do Natal em Nova York, custa 75 mil dólares por pessoa e inclui safári e passeio de balão na África, visita ao Taj Mahal, na Índia, e às pirâmides no Egito. Claro que tais luxos não estão ao alcance do comum dos mortais. Mas servem para reforçar a idéia de que, naquele dia, você terá de despender um preço exorbitante para hospedar-se mesmo numa praia mixuruca qualquer do litoral brasileiro. Isso, se você quiser sentir-se ainda membro da raça humana.
A indústria do lazer está tornando o lazer cada vez mais desconfortável. Buscar o verão, sem ir mais longe, já foi migração quase compulsória de quem gosta de praia, mar e sol. Hoje, se você quiser calma e conforto, melhor fugir do verão. De Estocolmo a Paris, de São Paulo a Porto Alegre, mal se iniciam as férias de verão, a manada toda dispara rumo ao sul, transportando para as praias todo seu desconforto urbano. Como emergir do verão sem a pele bronzeada é sinal indefectível da ausência de qualquer status, não falta quem se encerre em casa com bronzeadores artificiais para simular, lá por setembro ou março — conforme a geografia — sinais inequívocos de um feliz veraneio.
Neste sentido, os paulistanos encontraram uma solução paradoxal. Como a descida ao litoral e as próprias praias se tornam desconfortáveis durante o verão, a Cidade — assim com maiúscula, como grafam os jornais paulistanos — oferece a seus cidadãos refúgio em hotéis. Assim, para fugir da Cidade e evitar o desconforto da fuga, você paga os olhos da cara para esconder-se um fim-de-semana em um hotel... na Cidade. Mas pelo menos não fica em casa durante o fim-de-semana. Criatividade é o que não falta a esta brava gente.
Outra ilusão é o carnaval. Jornais e revistas destacam em primeira página a alegria de milhares, passando ao leitor a imagem de que o país está pulando em uníssono. Os milhões que fogem desesperados do batuque, estes não merecem mais que um texto-legenda nas páginas internas. Urbi et orbi, o Brasil passa por um país carnavalesco. Fosse feito um plebiscito, não seria de surpreender que o carnaval fosse visto, pela maioria dos brasileiros, como mais uma praga dos trópicos.
Mas falava do próximo réveillon. Roma espera três milhões de visitantes. A Praia de Copacabana vai receber dois milhões. Paris, outros tantos. Que novos ricos decidam pagar 100 mil dólares por três noites em Paris, isto não diz respeito nem a mim nem ao leitor. O pepino é que tais gestos deslancham angústias coletivas e ai do pobre mortal que quiser dar um modesto giro em fins de dezembro. Este final de 99 será não apenas a pior data para viajar nestes últimos dois mil anos. Será também a pior desde que aquele símio de Kubrick — o de “2001” — jogou um pedaço de osso ao espaço.
Sou suspeito para falar de multidões. Jamais entrei em um estádio de futebol, nunca participei de um carnaval. Em meio século de existência, até hoje não sei o que é um shopping center. Li outro dia, na Folha de São Paulo, a lista dos vinte filmes que mais atraíram gentes nos últimos dez anos. Não vi nenhum deles. Confesso até já ter feito algum esforço para comungar com as massas. Em um 14 de julho, em Paris, tentei aproximar-me do Arco do Triunfo. Quando a multidão começou a engrossar, tomado por um pânico incipiente, dei meia volta. Não é preciso conhecer a humanidade a fundo para intuirmos que qualquer evento reunindo milhares de pessoas não pode ser coisa que preste.
Gosto de viajar em janeiro, é minha fórmula para fugir do verão e visitar culturas de inverno. Desconfio que as neves deste janeiro não sentirão o peso de meus passos. Que os inimigos da raça humana — como diria Bierce — se espremam nos aviões e nas praças, disputem hotéis em moeda forte e champanhe aos tapas.
Neste réveillon, a meu ver, o melhor ponto de fuga do milênio será a própria casa. Ou a de amigos próximos. Na volta da carneirada, o viajante sensato bota o pé na estrada.
Swift e a Justiça Fiscal
Os EUA, que adoram exportar a própria discriminação racial, acabam de denunciar a mais recente das discriminações, a cibernética. Descobriram que os americanos de raça branca e asiática têm duas vezes mais acesso à Internet que negros e latinos. A pesquisa começa deixando claro que latino é uma raça e branco é outra, como se a totalidade dos latinos fosse negra, amarela ou azul, jamais branca. Mas isso é o de menos. A última preocupação do governo americano é o “gap digital”, a lacuna que separa os que têm dos que não têm acesso à tecnologia. Se bem conheço a subserviência latina às modas do norte, ao lado dos sem-terra e dos sem-teto muito em breve teremos os sem-bytes. Um dia alguém ainda acabará descobrindo o insólito: que os brancos e ricos têm mais loiras que os negros e pobres.
Como nenhuma pesquisa é gratuita, logo se soube ao que vinha. A ONU, para diminuir a distância entre os com e sem-bytes, propôs um imposto sobre a emissão de e-mails. A cada cem e-mails, o privilegiado proprietário de um PC pagaria um centavo de dólar, em prol dos sem-PC. Como se um computador servisse de algo para um negrinho em uma perdida aldeia na África ou para um mendigo nas ruas de Benares ou São Paulo. A brilhante idéia, oriunda de algum desocupado desse cobiçado cabide internacional de empregos que é a ONU, gorou tão logo nasceu.
Mas o humano engenho é infatigável. Nestes dias, está rolando na rede uma fórmula, não para propiciar computadores aos sem-PC, mas para minorar as injustiças do planeta. Agora você já pode salvar uma criança da morte clicando um botão, sem pagar absolutamente nada. Basta assestar seu mouse para o site de uma fundação internacional contra a fome, The Hunger Site. Logo na abertura, um mapa-múndi comovente. A cada 3,6 segundos, uma área escura no mapa indica que uma pessoa acaba de morrer de fome. 75% das mortes são de crianças com menos de cinco anos. Se você clicar o botão onde se lê DONATE FREE FOOD, aparece um box com o nome da empresa que vai pagar pela comida que você acaba de doar, sem pagar nada. A porção é meia xícara de grãos cozidos, como arroz, trigo ou milho, distribuída para entidades de combate à fome. Para evitar que almas excessivamente generosas sejam acometidas de tendinite, cada internauta só pode fazer uma doação por dia.
Os mails remetendo ao site da fome viraram praga na Internet e o Brasil é um dos países mais entusiasmados com o projeto. Até a semana passada, figurávamos em um honroso segundo lugar neste ranking da solidariedade, com 58.638 doações. Os EUA, mais ricos e desprendidos, nos venceram com 513.796 cliques. John Breen, o criador do site — e filho do empresário que lhe oferece um anti-ácido estomacal quando você clica no botão miraculoso — declarou sentir-se tocado com a generosidade da brava gente brasileira. Doar sem pagar nada é conosco mesmo. Um clique pela manhã e seu chope de fim de tarde lhe descerá melhor pela consciência. E ainda há quem pense em pegar em armas para endireitar os tortos do mundo...
Enfim, crentes é o que não falta neste final de milênio. Há quem creia em Deus, outros no almoço grátis. Não falta nem mesmo quem creia na excelente saúde dos cubanos sob a ditadura de Fidel. Daí a crer que um clique aqui no sul se transforme em calorias lá nas antípodas, a distância é curta. Mas a musa da simplicidade parece ter descido também entre nós, onde um senador baiano descobriu a solução definitiva para o problema da miséria em Pindorama: um imposto contra a pobreza. Que indigência mental a nossa! Estamos completando 500 anos de existência e ainda não havíamos pensado nisso.
Em sua Modesta Proposta para Impedir que os Filhos dos Pobres da Irlanda Pesem sobre os seus Pais ou sobre o País, Jonathan Swift sugere algo mais realista. Estes rebentos poderiam ser criados e engordados para o abate, já que “uma criança sadia e bem nutrida é, na idade de um ano, uma nutrição deliciosa, substancial e sã, assada ou cozida, ensopada ou no forno, e eu não duvido que não possa servir igualmente como fricassé ou como ragoût”.
Se a proposta de Swift até hoje provoca arrepios em leitores destituídos de senso de humor, menos conhecida é sua sugestão de reforma tributária, explanada pelos acadêmicos de Laputa, uma das ilhas visitadas por Gulliver em suas viagens. Um dos meios mais eficazes de levantar dinheiro sem oprimir os súditos seria taxar as qualidades do corpo e do espírito em virtude das quais se estimam os homens. Os tributos mais altos recairiam sobre aqueles mais apreciados pelo outro sexo, sendo o importe das contribuições calculado de acordo com os favores recebidos. Sobre o espírito, o valor e a cortesia incidiriam também taxas elevadas. As mulheres seriam tributadas de acordo com a beleza e a habilidade no trajar. Em ambos os casos, ficaria ao arbítrio dos contribuintes o total de impostos a pagar. No caso da mulheres, o azedo deão faz uma ressalva: a constância, a castidade, o bom senso e a bondade não seriam taxadas por não compensarem as despesas de arrecadação.
Deste imposto, os pobres não poderiam se queixar. Atormentados pelas carências do dia-a-dia, pouco tempo lhes sobra para o exercício da vaidade. Mas que festa para o fisco seriam as declarações de um Lula ou Fernando Henrique, Brizola ou ACM, dona Ruth ou dona Marta...
Lá onde Tudo é Lucro
In Italia seicento e quaranta,
In Almagna duecento e trentuna,
Cento in Francia, in Turchia novantuna,
Ma in Ispagna son già mille e tre.
O catálogo de Leporello, delle belle che amò il padron mio, é um dos mais belos momentos de Don Giovanni. As conquistas do personagem nos comovem, a tal ponto que Mozart teve de jogá-lo aos infernos, para não chocar a sociedade vienense da época. O infiel tinha de ser punido com um castigo exemplar. O que não nos impede de sucumbir a seu fascínio.
Este mito maior da literatura universal surge pela primeira vez no século XVII, em “El Burlador de Sevilla”, de Tirso de Molina. Arquétipo do libertino e do mulherengo, Don Juan Tenorio é um ente de ficção. Lorenzo da Ponte, o libretista da ópera de Mozart teve ocasião de encontrar sua encarnação no século XVIII, o aventureiro veneziano Giacomo Casanova de Seingault. A cavalo ou de carruagem, invadindo cortes e conventos, Casanova conquistou mulheres de Lisboa a Moscou. Suas “Memórias” hoje nos parecem cansativas, mas constituem documento ao qual recorre todo sociólogo ou historiador para investigar a Europa oitocentista.
Se Don Juan pertence ao território do mito, Casanova faz parte da história. Lenda ou realidade, ambos passaram a ser considerados gênios do amor. Com uma diferença: enquanto Don Juan conquista e vence as mulheres, deixando atrás de si um rastro de ódio e despeito, Casanova não quer humilhar ninguém. É uma festa para suas parceiras, que não hesitam em convidar filhas e irmãs para o bom folguedo.
Transfigurados pela arte e pelo tempo, Don Juan ou Casanova até hoje nos fascinam e muitas vezes atravessamos oceanos e pagamos caro para ouvir Leporello discriminando a “listina” do patrão, ou Zerlina tentando resistir à lábia de Don Giovanni. No universo da literatura ou da ópera, toda transgressão é linda. A infidelidade passa a ser virtude e o burlador se torna herói. Ai do pobre mortal que, entusiasmado com a magia de Mozart, quiser seguir a trajetória do personagem. Não precisa chegar à performance de Don Giovanni. Na segunda conquista, já vem processo e execração pública. Por muito menos de mille e tre”, o todo-poderoso presidente americano quase perdeu cargo e regalias.
Comentei em crônica passada um brilhante achado dos cientistas contemporâneos. Por meio de engenharia genética, estes senhores conseguiram produzir um rato que permanece fiel a seu parceiro, após receber genes do arganaz, um roedor conhecido por sua fidelidade. Segundo a pesquisa, a dedicação a um só parceiro seria devida à presença no cérebro de uma determinada química, que associa o amor ao hábito.
Hillary Clinton pensa um pouco diferente. Em entrevista à nova revista Talk, lançada na terça-feira passada, a primeira-dama do Império atribuiu as infidelidades do marido a maus tratos sofridos quando criança. O presidente, mal tinha quatro anos, viveu um "terrível conflito entre sua mãe e sua avó" e "foi marcado por maus tratos". Ah, bom! Então tudo se explica. Maldosos como somos, imaginávamos que Clinton fora acometido pelos prosaicos desejos comuns a todos os mortais.
Se para os antigos infidelidade era a celebração desbragada do amor, nossa época pretende reduzir o fascínio despertado pelos burladores de Sevilha ou Veneza a uma questão genética ou de maus tratos. As peregrinações pelos leitos da Europa, tanto do mítico Don Juan como do histórico Casanova, nada têm a ver com um talento ou vocação especial, como poderia pensar o leitor. São decorrências de algum gene safado ou, na melhor das hipóteses, de algumas palmadas maternas.
Mesmo as opções de um Sócrates, Cervantes ou Oscar Wilde tampouco seriam opções, já que o homossexualismo também seria genético, como pretendem alguns pesquisadores hodiernos. É curioso observar como se tenta responsabilizar os genes por comportamentos tidos, no universo cristão, como doença ou, no mínimo, desvios da normalidade. Mas jamais se busca nos mesmos genes a causa de uma virtude. Mal se pensa em isolar o gene da inteligência, o histérico lobby dos politicamente corretos acusa de racistas os defensores da hipótese.
Mas falava de Clinton, este simulacro de latin lover, entusiasta do fast food em matéria de sexo. Esta mania de absolver o agente de uma ação e atribuí-la a causas externas ao indivíduo pode parece moderna, mas vem de bem mais longe. Na Idade Média, nos bons tempos em que a Santa Madre Igreja mandava e não pedia, as esfregadelas apressadas no Salão Oval seriam atribuídas não aos genes ou maus tratos, mas ao Demônio.
Os tempos são outros. Com a morte de Deus, seu parceiro imemorial também entrou em declínio. O remédio foi deixar a teologia de lado e pedir socorro à ciência, à biologia ou à psicologia, enfim, a qualquer coisa que explique o que não exige maiores explicações. Tudo, menos responsabilizar o transgressor. A absolvição concedida por Hillary pode ser vista como uma tentativa malandra de salvar a cara, o casamento e uma cadeira no Senado. Mas tornou-se rotina nos tribunais do mundo todo, onde os advogados se sentem à vontade ao alegar traumas de infância para absolver grandes criminosos.
Maravilha viver na Corte. Onde mais uma felação fortaleceria matrimônios, renderia fama e fortuna a estagiárias gorduchas e votos à esposa ultrajada? Mesmo no grande império do Norte, infidelidade ainda é pecado. Mas lá nada se perde, tudo se transforma. Em dólares.
Miséria invade Cumbica
Uma amiga, em turismo pela Espanha, ficou perplexa com um episódio na Plaza Catalunha, em Barcelona. Quando um vagabundo fez menção de deitar-se em um banco, um guarda surgiu do nada e fê-lo sentar. Ela jamais vira algo igual. Era brasileira, é claro. Entre as diversas imagens que desfilam ante o olhar do turista, ela isolara aquela estreita fímbria que separa a urbe do caos, a civilização da barbárie. Pois quando um mendigo deita em uma praça pública ou em um banco de praça, a urbe deixa de existir.
A Espanha é um dos raros países europeus onde os jornais chamam os vagabundos de vagabundos. Na França, fala-se em exclus, excluídos. Se a miséria é fruto de distorções sociais das quais o miserável não tem culpa e apenas sofre as conseqüências, não se pode negar que nos países católicos do Ocidente pedir já virou profissão. Em Paris, os exclus, além de terem direito a uma renda mínima, dispõem de ônibus especiais, para levá-los dos abrigos aos pontos de mendicância.
Se você passar por lá em julho ou agosto, dificilmente os encontrará. Desceram todos para a Côte d’Azur, que ninguém é de ferro para enfrentar a canícula parisiense. Como o europeu médio não suporta a idéia de que um cãozinho possa passar fome, um destes animais sempre ajuda na tarefa de pedir. Seja porque comove, seja porque pode constituir coação, conforme o porte. Vagabundos com um senso germânico de organização viram neste método um excelente mercado para a venda de serviços. Como um cão exige manutenção, há alguns anos um grupo de alemães passou a alugar cães para os mendigos de Cannes ou Nice. Feita a féria do dia, os mendigos os devolviam no fim da tarde a uma kombi que os recolhia pela orla mediterrânea.
No Brasil ainda não chegamos a tais sofisticações em matéria de terceirização. Mas em São Paulo, estes novos profissionais, instruídos pelos padres e assistentes sociais, são conscientes de seus direitos de cidadão. Outro dia, um destes senhores dormia frente à calçada de meu prédio. Deitou-se como quem provoca, espichado entre uma tipuana e a parede, de modo que ninguém passasse pela rua. Cutuquei-o com o pé, pedindo passagem. Acordou raivoso: “Você conhece a Constituição? A Constituição me garante o direito de ir-e-vir”.
Mulambento, mas com noções de Direito Constitucional. Fui rápido e rasteiro: o direito de ir-e-vir, pode ser. Mas não o de deitar. Como a assistente social não deve tê-lo instruído para reagir a este tipo de resposta, ficou sem palavras e deixou-me passar.
Entre as muitas visões que se pode ter de uma cidade, duas são determinadas pelo modo como você se locomove. A cidade é uma para o pedestre, outra para o homem dentro de um carro. Pedestre inveterado, tropeço o dia todo em misérias e dramas pelas quais o ser urbano motorizado passa voando. Envolto pela placenta metálica de seu carro, o paulistano transita pelas suas ruas sem vê-las de perto.
Faz tempo. Voltando da Folha de São Paulo na madrugada, margeei o Largo Santa Cecília para não pisar — nem sentir o fedor — das centenas de mendigos que o haviam transformado em um pátio de milagres, não por acaso em torno à igrejinha do largo. Santa Cecília é um bairro católico e cheio de pedintes, que linda com Higienópolis, bairro judeu e hostil a miseráveis. Das sinagogas, os mendigos tomam distância. Ali não há comida fácil nem falsa piedade. Em torno às igrejas de Santa Cecília, eles fazem sua morada. Este amor dos cristãos pela miséria e pela imundície vem desde os tempos de Cristo e foi registrada pelo nobre romano Celso, cuja obra foi queimada pela Igreja. Ao longo dos séculos a Santa Madre cultuou santos e purpurados imundos que jamais tomavam banho. Se o corpo é desprezível, por ele não devemos ter cuidados.
Voltava da Folha, dizia. Ao lado da igreja, junto a uma banca de jornais, um amontoado informe se mexia. Debaixo de um monte de trapos, uma vozinha débil, não sei de menino ou menina, gemia: “Tira, tio. Tá doendo, tio. Tira”.
Mas ai de quem propuser limpar as ruas desta miséria humana. Por pressão de habitantes do bairro, há uns dois anos os mendigos sumiram da praça por algumas semanas. Protesto irado do jornalzinho da paróquia: “Quem expulsou nossos mendigos? Queremos nossos mendigos de volta”. Naquele mesmo largo, militantes dos direitos humanos já se jogaram ao chão, na frente das máquinas de limpeza da prefeitura, para impedir que seus jatos de água expulsassem das calçadas suas fontes de renda. Enquanto na Espanha um guarda impede um mendigo de deitar-se, nossos bravos humanistas deitam-se no chão para impedir que a limpeza pública os levante. Pois miséria é uma fabulosa fonte de lucros. Fotos ou filmes dos “povos da rua” comovem europeus e geram milhões de dólares para paróquias e ONGs no Terceiro Mundo.
O aeroporto de Cumbica era um dos raros locais públicos em São Paulo onde se podia caminhar sem tropeçar em pedintes. Por sua distância da capital e pelo preço pago para se chegar lá (de ônibus, 12 reais de ida, mais 12 de volta), estava a salvo destes farrapos humanos. Estava. Outro dia, lá os encontrei, estendendo a mão nas filas de compras ou nas mesas dos bares.
Num televisor, a propaganda oficial informava: “O Governo de São Paulo está retirando das ruas as crianças abandonadas”. Pelo jeito, está mesmo. Abriga-as agora no aeroporto mais importante da América Latina. E ainda há quem ache que este país tem solução.
O Mau Cheiro do Deus Morto
Maravilha ganhar um Nobel de Literatura. Basta alguém ser contemplado pela láurea da Real Academia Sueca para sair mundo afora dizendo bobagens. Não só impunemente, como ainda se beneficiando da aura de lúcido. Em declarações feitas no Rio, na semana passada, José Saramago, não pecou pela falta de generosidade em matéria de besteirol. Começou declarando que, depois do Nobel de Literatura, devia pleitear o de Economia. E avançou sua tese: “Acho que se reduzíssemos ou parássemos os avanços tecnológicos e científicos, bilhões de pessoas no mundo inteiro, hoje condenadas à miséria, seriam beneficiadas”.
Alguém ainda lembra do Unabomber, aquele cidadão que abominava a tecnologia e exigia a divulgação de seus delírios em jornais produzidos por computadores de última geração? O terrorista americano, que não teve a ventura de ser contemplado pelos suecos, foi tido como louco e hoje está no cárcere por seus atentados. Saramago, que fora os atentados à inteligência alheia ainda não cometeu outros mais graves, continua solto. Cegados pelo brilho do Nobel, não houve entre os seus interlocutores um só que ousasse perguntar ao velho comunossauro se ele preferia ter sua obra publicada em pergaminho e reproduzida por monges copistas, em vez de ser distribuída aos milhões graças ao avanço tecnológico das gráficas contemporâneas. Se em vez de ir voando a dez mil metros de altura até Estocolmo, preferiria ir a cavalo ou de carruagem para receber seu prêmio. Ou se se disporia a remar até Lanzarote para alcançar seu refúgio. Quando Jesus estiver chamando, seria interessante observarmos se Saramago chamará um xamã em vez de apelar à medicina de ponta.
Um prêmio de prestígio valoriza qualquer afirmação irresponsável. Estes senhores, que atravessam o Atlântico em um Boeing para evocar a felicidade do paleolítico, bem que poderiam aterrissar em território de bugres, que aqui não faltam, e asilar-se por lá mesmo, em vez de papaguear obscurantismos junto a intelectuais saudosos do bom selvagem rousseauniano. Darcy Ribeiro, outro ilustre comunossauro, gostava de declarar que o homem branco arrasa tudo por onde passa. Mas na hora de tratar seu câncer, em vez de apelar a pajelanças, recorria às bombas de cobalto criadas pelo abominável homem branco.
Não bastasse o neoludita luso renegar a tecnologia que o beneficia, declarou ainda que o mundo "está vivendo um momento terrível, com o fim da ética e da dignidade humana". Olho em torno e não vejo momento terrível algum, pelo menos não mais nem menos terrível que os demais momentos deste século. A bem da verdade, as tensões até que diminuíram no planetinha: o marxismo morreu como idéia, a Guerra Fria acabou e estamos mais afastados da hipótese de uma guerra nuclear do que há trinta anos.
Entendo as angústias de Saramago. Como todo comunista, julga ser o Partido proprietário e administrador exclusivo da ética e da dignidade humana. Morta a Idéia, morreram também estas duas virtudes. Coincidentemente, nesta mesma semana, Marilena Chauí declara em entrevista a Caros Amigos: “Se estamos na barbárie, é por causa da queda do Muro de Berlim — agora pode tudo”.
“Tranqüilo é o fundo do mar. Quem adivinharia que oculta monstros divertidos”, dizia Nietzsche em Assim Falava Zaratustra. A Guerra Fria pode ser vista como um grande lago que, ao secar, traz à tona os monstros que ocultava. Que Saramago ou Chauí chorem como carpideiras o desmoronamento da mais longa tirania do século, também se entende. Construíram suas carreiras montados no marxismo e não seria depois de velhos que jogariam ao lixo as convicções que lhes renderam cargos e galardões. O triste é ouvirmos barbaridades proferidas por pessoas que um dia admiramos.
Me refiro a Quino, o humorista argentino que nos encantou por mais de década com as histórias de Mafalda e sua turma. Pois nuestro vecino, de passagem pelo Brasil, contagiado talvez pelo luto da intelectuália tupiniquim, não perdeu a ocasião de contribuir com brilho para o bestialógico pós-comunista.
“O socialismo me atrai como sistema político” — disse o humorista argentino em entrevista à Folha de São Paulo -. “Que tenha fracassado depois de 70 anos, isso não é nada na história da humanidade. Imagine quanta gente se matou tentando voar. Se Leonardo da Vinci tivesse os tecidos, os materiais que existem hoje, o parapente, a asa-delta e tudo isso já existiriam desde 1400 e tanto. Ou seja, por haver matado gente durante três séculos não significa que a aeronáutica seja uma porcaria”.
O sofisma passa impune, sem a menor objeção do entrevistador. Se muita gente morreu tentando voar, a aeronáutica não matou ninguém. Morreram os visionários que voluntariamente ousaram desafiar a lei da gravidade. Morreram pilotos de provas e astronautas, que assumiram com orgulho profissões de alto risco. Outra coisa é matar 110 milhões de pessoas, em oito décadas, para ver se um tipo de organização social é viável. Nada menos que 1,3 milhão de cadáveres a cada ano. Um belo esforço, sem dúvida alguma.
Mas falava das viúvas. “A idéia era genial”, disse o argentino, referindo-se ao socialismo. Saramago proclama o fim da ética e da dignidade humana. Chauí atribui a barbárie à queda do Muro. As declarações destas carpideiras exalam mau odor. Habitantes deste final de século, somos testemunhas privilegiados da morte de uma grande religião. Nietzsche já nos advertia de como fede o cadáver de um deus morto. Haja narinas!
Aiatolá Gregori
Em 1989, oito criminosos (sete estrangeiros e um brasileiro) seqüestraram um empresário brasileiro, crime tipificado em nossa legislação como hediondo. Mantiveram a vítima em cárcere privado, exigiram um resgate milionário e compraram até mesmo um caixão para o caso de ter de matar o seqüestrado. Presos, foram julgados pelo Tribunal do Júri e condenados a penas que iam de 26 a 28 anos de prisão. Dois dos seqüestradores eram canadenses e uma colossal campanha de desinformação foi lançada no Canadá e Estados Unidos exigindo a libertação de ambos. Onze anos depois, graças às instâncias do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, do ministro da Justiça, Renan Calheiros, do secretário de Direitos Humanos, José Gregori, do cardeal Evaristo Arns e demais sedizentes defensores dos Direitos Humanos, acabaram sendo reenviados para o Canadá, após uma greve de fome.
A opinião pública internacional (leia-se a família de um dos canadenses) exigia a libertação dos criminosos. As mais altas autoridades de república jogaram no lixo a decisão dos jurados. De cambulhada, após acordos fictícios feitos com os respectivos países, foram libertados os demais seqüestradores, argentinos e chilenos. O brasileiro foi enviado de volta para o nordeste. Os canadenses estão livres como passarinhos e não se fala mais no assunto.
Em 88, no Acre, o sindicalista Chico Mendes, transfigurado em herói pela imprensa americana, foi assassinado pelo fazendeiro Darly Alves da Silva. Preso em 96 e condenado a 31 anos de prisão, em maio deste ano o criminoso passou a ter direito a cumprir o restante da pena em regime semi-aberto. O mesmo ministro da Justiça, Renan Calheiros, que tudo fez para libertar os seqüestradores canadenses e seus cúmplices, moveu mundos e fundos para impedir o acesso de Darly ao benefício adquirido. Que iria pensar a opinião pública internacional, se o matador do herói amazônico usufruísse de um benefício ao qual tinha direito? Darly continua em cárcere fechado.
Em maio de 1992, Paulinho Paiakan, o cacique caiapó, saudado pela imprensa americana como o "homem que pode salvar a humanidade", violentou uma menina de 18 anos com a cumplicidade de sua mulher, Irekran, e até hoje ambos permanecem livres em seus feudos. Os estupradores confessaram a jornalistas, sem nenhuma coação, ter inclusive enfiado — juntos — as mãos na vagina da vítima. Paiakan protegeu-se sob as saias de sua mulher e foi absolvido por um juiz acovardado, durante julgamento ao qual compareceu respaldado por centenas de caiapós armados de bordunas. O juiz alegou falta de provas e considerou Irekran como não integrada à cultura dos não-índios, sendo inimputável perante a lei. O salvador da humanidade não poderia ser mandado à prisão pela justiça de um paíseco do Terceiro Mundo. Que iria dizer a opinião pública internacional?
Em agosto de 96, um dentista e uma estudante foram fuzilados no bar Bodega, em Moema, São Paulo. Dada a repercussão do caso, a polícia apressou-se em encontrar os assassinos, três negros já com prontuários policiais. Nenhuma das testemunhas do assassinato reconheceu os criminosos apresentados pela polícia. Mas a opinião pública queria satisfação e os policiais não hesitaram em usar antigos porém eficazes métodos de interrogatório, tais como pau-de-arara, choques elétricos na língua e nos genitais, pedaços de pau no ânus.
Mais tarde foram encontrados os verdadeiros criminosos e os policiais foram indiciados por tortura. A denúncia foi rejeitada pelo Ministério Público por falta de provas. Os torturadores continuam livres e Gregori algum protestou contra a impunidade dos policiais. As vítimas estavam se divertindo numa casa noturna, logo alguma culpa teriam, por alguma dívida social deveriam ser responsáveis. Quanto aos torturados, eram negros e não pertenciam a nenhum grupo de guerrilha. Silêncio total sobre a impunidade dos torturadores.
Nestes dias, foram absolvidos em júri popular, no Pará, três oficiais responsáveis pelos soldados que mataram 19 sem-terra em um conflito em Eldorado de Carajás. A televisão tem repetido à exaustão as cenas do confronto. Dezenas de sem-terra, armados de porretes, facões e foices, arremetem contra um punhado de policiais militares. Os PMs recuam e a multidão avança. Os PMs disparam para o ar e a multidão continua a avançar. Acuados e amedrontados, os PMs desta vez atiram contra a turba e o mal está feito: 19 cadáveres, para alegria dos líderes do Movimento dos Sem Terra.
Mas os locutores insistem na “bárbara agressão dos PMs”, “o massacre dos sem-terra”. O espectador vê a multidão armada avançando e os policiais recuando com medo. Hipnotizado pela mídia, o espectador não vê o que vê. Vê o que o locutor diz que deve ser visto.
O corpo de jurados, aceito pela acusação e defesa, absolveu os três oficiais indiciados. Indignação do presidente Fernando Henrique Cardoso e do secretário de Direitos Humanos, José Gregori, os mesmos senhores que mandaram os seqüestradores de Abílio Diniz de volta para seus países. "Decisão judicial que não faz justiça não é para ser lamentada, é para ser anulada por um novo julgamento", afirmou Gregori.
Afinal, o que vai dizer a opinião pública internacional? O júri era de mentirinha. Os jurados só podiam condenar, jamais absolver. O aiatolá Khomeiny, de saudosa memória, resumiu melhor a posição do secretário de Direitos Humanos. Ao entrar em Teerã a ferro e fogo, aboliu qualquer julgamento: “Criminosos não devem ser julgados. Devem ser executados”.
E ainda há quem defenda o controle externo do judiciário. Ora, este controle já existe. E veio para ficar.
A Nova Moeda Argentina
“Existem problemas de violência com os negros” — disse um escritor deste continente —, “porque cometeu-se o erro de educá-los. Por exemplo, minha avó me dizia que os escravos negros que tinha não sabiam que seus avós haviam sido vendidos na praça do Retiro pela família Lavallol, porque o negro não tinha memória histórica. Se nos Estados Unidos não os tivessem educado, não saberiam que são descendentes de escravos. De certa forma, os negros são como crianças...”
Evidentemente, não era brasileiro. Se o fosse, estaria incurso na lei que pune crimes de racismo e arriscaria cinco anos de prisão. O escritor em questão é nosso vizinho Jorge Luis Borges. Estas declarações, que no Brasil não passariam sem escândalos, estão no livro Borges, el Palabrista, compilação de entrevistas recolhidas por Esteban Peicovich (Prodhufi, Madri, 1995).
Com sangue basco nas veias, não perdoa nem mesmo seus ancestrais:“Basco? Eu não entendo como alguém possa sentir-se orgulhoso de ser basco. Os bascos me parecem mais inservíveis que os negros, e olhe que os negros não serviram para outra coisa a não ser para escravos. Fala-se da vontade basca, da cabeça dura basca e, de que lhes serviu? De nada mais que para ser espanhóis e franceses. Fora isso, produziram alguns pintores execráveis e um escritor insuportável como Unamuno”.
Para quem andou por Buenos Aires nestes dias, parece que a Argentina tem um só escritor, Borges. Com a comemoração do centenário de seu nascimento, o escritor cego domina as páginas de jornais e revistas e agora imiscui-se até mesmo no bolso de cada cidadão: seu rosto hierático foi cunhado em uma moeda de um peso.
“Divertida justiça que um rio limita, erro aquém verdade além dos Pirineus”, dizem os franceses. O autor que deste lado do Prata seria considerado autor de crime hediondo, no lado de lá está sendo homenageado pelo país todo. O que não deixa de ser paradoxal. Por mais que se pesquise na história da literatura latino-americana, jamais encontraremos um escritor que tenha tratado a Argentina e tudo que é argentino com tanto desdém.
Para começar, Borges não confere a condição de obra de arte ao poema maior do continente, o Martín Fierro, a grande contribuição da Argentina à literatura universal. Por ser escrito em um espanhol estropiado, falado pelo homem da pampa, para Borges o poema de Hernández é uma obra inculta, louvada por críticos incultos por lei de afinidade. Não pode ser um poema nacional, pois o personagem é um delinqüente, um bárbaro eticamente inferior e a obra um romance versejado, infantil por seus monólogos ilimitados. Em suma, o relato vulgar de um desertor que logo degenera em bandido, o caso individual de um cuchillero de 1870.
Curiosamente, o punhal é um dos elementos recorrentes dos contos borgeanos. O escritor é obcecado por punhais, desde que empunhados por compadritos de arrabal. Mas não aceita o desertor da pampa, que abre com seu “cuchillo, el camino pa seguir”. Borges, o dandy educado na Suíça, escritor que sente náuseas ante tudo que seja autenticamente argentino, preferiria ver o indigesto e erudito Facundo, de Sarmiento, como o livro integrador da nação. O mesmo não pensa a nação.
O escritor cego da calle Maipu, como todo latino-americano, é mais um dos tantos intelectuais dilacerado pelo contato com o velho continente. Nos círculos europeus e no silêncio de suas leituras, contemplou o mundo das idéias puras. Mas optou por viver em Buenos Aires, mergulhado em um universo europeizado, é verdade, porém construído sobre um substrato criollo. Fierro é o bárbaro rude que invade a paz de seu mundo platônico. Abomina o negro e orgulha-se de ter como avô um matador de índios. Mas não perdoa Leopoldo Lugones, que viu no Martín Fierro — outro matador de índios, que mais não seja para defender seu pelego — um épico nacional. Daí talvez decorra seu desprezo a Unamuno, basco fascinado pelo poema de Hernández.
Escritor cerebral, seus personagens transitam em um mundo atemporal, são mais símbolos ou arquétipos que seres de carne e osso. Degustador apressado de idéias filosóficas, seus relatos são mais contos de fada eruditos para apreciação de acadêmicos. Ou, como escreveu Sábato: “literatura lúdica e bizantina que constitui o luxo (mas também a fraqueza) de uma grande literatura”.
Cego e bizantino, mas sem papas na língua. Entre os escritores contemporâneos de vulto, foi um dos raros, senão o único, a ter a coragem de afirmar: “Se triunfasse a República, hoje a Espanha seria outra Cuba. Franco foi positivo para a Espanha”. Em uma Argentina que cultua Evita como uma santa, não hesitou em classificá-la como prostituta. Via o jornalismo com distância. Os jornais deviam ter uma edição por século, costumava afirmar. Ou quando tivessem uma manchete importante. Por exemplo:
EL SEÑOR CRISTÓBAL COLÓN DESCUBRIÓ LA AMÉRICA.
Não professava filosofia alguma e usou sistemas teológicos e metafísicos para fins literários. Via a teologia como um exercício de literatura fantástica e nos deu, a meu ver, a mais arguta definição da Suma Teológica: livro de ficção científica, ou, na melhor das hipóteses, de ficção. Sua concepção de história da filosofia é demolidora: sucessão de teorias desconexas, na qual nenhuma tem mais valor que a outra.
Fama pode ser bom, mas não deixa de ter suas ironias. Com a efígie de Borges em uma moeda de um peso, não é difícil imaginar um portenho remexendo o bolso e perguntando a um livreiro: quantos Borges vale este Fierro?
O Analfabetismo Avança
Há um desejo histérico de igualdade em toda a mídia, uma espécie de revival da Revolução Francesa, com ênfase na egalité. A idéia pode ser linda, nobre, digna e justa. Pena que os revolucionários de Paris esqueceram de perguntar aos homens em geral se estes queriam de fato ser iguais. Houve época em que ter mais inteligência conferia status em relação aos demais. Hoje, ser inteligente está perto de ser transformado em crime. Pelo menos é o que se deduz do processo que o Instituto Nacional Contra a Discriminação na Argentina quer impetrar contra um novo site da Internet. A página funciona como uma agência de empregos para domésticas e classifica as candidatas por nacionalidade e inteligência, sendo esta medida por testes psicológicos.
Discriminação, bradou o Instituto. Onde se viu dar emprego ao candidato mais inteligente, em detrimento do intelectualmente menos dotado? No Brasil, recentemente, uma empresa foi processada por exigir, em um anúncio de emprego, candidatas de boa aparência. Horror nas hostes dos direitos humanos: que vai ser das molambentas?
Esta mania de igualar em direitos o pior e o melhor está se espalhando pelo Ocidente todo e sua versão mais perversa se traduz na afirmação de que não há culturas inferiores. Logo, tampouco há culturas superiores. Como se Ougadouga ou Tamanrasset pudessem produzir um Mozart ou Einstein. Enquanto a idéia fica suspensa no ar, pode passar por carolice típica de católicos e marxistas e não incomoda ninguém. O pepino é quando se institucionaliza e vira lei. Quando o aluno relapso tem direito ao mesmo diploma que o aluno interessado em aprender algo.
A Lei de Diretrizes e Bases facultou às escolas, em 96, a adoção do "Regime de Progressão Continuada", medida saudada como "histórica", "revolucionária" e "emocionante". Pelo novo regime, os alunos entram na escolas de ensino secundário e não podem mais ser reprovados. Ao final de sete anos, saem obrigatoriamente de diploma em punho. São Paulo disputou a honra do pioneirismo na aplicação do brilhante achado. Dados os altos índices de reprovação nas redes municipais, o dispositivo caía como uma luva para zerar estes índices. No ano passado, a progressão continuada tornou-se modelo estadual.
Os frutos da nova política não se fizeram esperar. Segundo recente levantamento feito em São José do Rio Preto, 5,8% dos alunos tinham problemas de alfabetização. Dos 13.180 alunos matriculados nas quatro primeiras séries, 362 não sabem ler nem escrever. Conforme o novo regime, não podem ser reprovados.
O problema assumiu traços caricaturais. Em Araçatuba, pais de três estudantes entraram com ações na Justiça, para que os filhos retornassem para séries anteriores, por não considerá-los aptos a cursar a atual. Ó tempos! Ainda há pouco, estudantes mais folgados apelavam à Justiça para serem aprovados. Hoje, pais têm de pedir à Justiça a reprovação dos filhos.
No dia seguinte ao desta insólita notícia, os jornais nos trouxeram outra ainda mais perturbadora O Senado nacional aprovou projeto de lei que reserva 50% das vagas das universidades públicas para os alunos da rede pública, precisamente estes que não podem ser reprovados a não ser através de ações judiciais. Pois a Constituição de 88, dita Cidadã, determina que deve haver igualdade de condições de acesso ao ensino superior.
A História é uma eterna luta entre alfabetizados e analfabetos, dizia Nestor de Hollanda, de saudosa memória. Segundo o autor, os analfabetos estavam avançando inexoravelmente em todas as áreas. Dito e feito. Agora planejam tomar os campi de assalto. Por obra dos legisladores nacionais, em breve um analfabeto de pai e mãe poderá ostentar em seu currículo um diploma de curso superior. O projeto ainda tem de passar pelo Congresso, onde tem boas chances de ser aprovado, afinal consciência de classe é o que não falta entre iletrados.
A reprovação, único instrumento eficaz de controle da qualidade de ensino, está virando coisa do passado. Se no secundário está se tornando proibida, nos cursos superiores é cada vez mais rara e mesmo inexistente. Conta-me um amigo, professor de universidade privada, que não pode reprovar nem mesmo alunos que jamais assistiram suas aulas. O ensino virou um teatro, onde o aluno finge que aprende e o professor finge que ensina — disto está consciente todo professor que costuma olhar-se no espelho antes de entrar em sala de aula.
Quando fiz meu ginásio, em D. Pedrito, reprovação era uma espada que pendia o ano todo — e todos os anos — sobre a cabeça do aluno. Repetir de classe era mais ou menos como virar leproso. Era angustiante, confesso. Destes dias de dureza, costumo evocar um de meus mestres, o professor Hugo Brenner de Macedo, que descontou dois pontos de uma dissertação, porque o aluno havia escrito feichão em vez feijão. Na universidade, se descontasse dois pontos por cada erro de grafia, raros seriam meus alunos aprovados. Conheci várias universidades e profissionais delas oriundas nos últimos anos. Posso afirmar tranqüilamente que, no ginásio daquela cidadezinha, então com 13 mil habitantes, recebi uma educação que hoje não se ministra nem em cursos de Letras.
Comemorou-se, quarta-feira passada, o Dia Internacional da Alfabetização. O Brasil, país soberano e independente, não se rende a injunções alienígenas, oriundas da arrogância do Primeiro Mundo. Abaixo o pensamento único, viva a diversidade. O analfabetismo é nosso. Se analfabeto tem direito a voto, tem também o sagrado direito de permanecer analfabeto. Amém!
Um Bom Dia para Comprar
Madri, vésperas de Natal. Já não lembro o ano. De repente, tomo consciência de algo trágico: não tenho uma mísera garrafa de vinho no hotel. Desci com a pressa que a situação exigia e tomei o rumo da Puerta del Sol, questão de encontrar uma casa qualquer onde suprir-me.
Melhor ficasse no quarto. Os madrilenhos têm fama de callejeros. Não são pessoas de ficar em casa assistindo televisão e este é um dos encantos de Madri. Mas em certas datas exageram. As ruas estavam tomadas por uma multidão ávida de consumo, lutando ombro a ombro para entrar nas lojas e comprar o que vissem pela frente, fossem perus ou champanhes, queijos ou presuntos, livros ou CDs, enfim, qualquer coisa que estivesse ao alcance da mão e do bolso. É Natal, Cristo nasceu, é preciso comprar.
O consumo nas capitais européias não é coisa de Natal, mas de todos os dias. Havia no entanto uma gula, quase uma histeria, no comportamento dos madrilenhos, que não recordo ter observado em nenhuma outra cidade ou data. Como se o fim dos tempos fosse amanhã e o melhor a fazer fosse desfrutar o hoje. Amarrotado pela multidão, eu remava como podia para ver se salvava meu modesto vinho de cada dia.
À força de braços e empurrões, consegui salvá-lo. Confesso que tais histerias não me fascinam. Não costumo dar presentes no Natal e tampouco os recebo. Ateu, não tenho razão nenhuma para celebrar o nascimento de nenhum deus. E se as tivesse, não seria comprando que o celebraria. Sempre me mantive afastado desta corrida desesperada às lojas em um dia que se deveria reverenciar a pobreza e o desprendimento. Aliás, não gosto de datas. Alegria, a meu ver, não pode ser evento marcado em agenda.
Mas o pior estava por vir. Ao emergir da multidão desvairada, com meu humilde Rioja debaixo do braço, me deparei na rua com uns dez ou doze gatos pingados católicos, empunhando faixas e cartazes berrando frases agressivas contra a fúria consumista dos madrilenhos. Ora, se o que era festa religiosa virou orgia pagã, isto é uma decisão tomada, consciente ou inconscientemente, por cidadãos de um estado laico. Que mais não seja, ao correr dos séculos, a Igreja cobriu com celebrações católicas o que era ritual pagão. Se padres ou fiéis querem celebrar o nascimento de seu deus com frugalidade e recolhimento, que o façam. Disto ninguém os impede. Mas para que estragar a festa de quem sente prazer em consumir?
Quem lê estas linhas e não me conhece, já deve estar concluindo, que além de consumista ferrenho, sou defensor fanático do consumismo. Longe disso. Vivo com muito pouco, guardo distância dos templos de consumo e, até hoje, com mais de meio século de jornada, jamais entrei em um shopping center. Mas que consumo é salutar, isto não se pode negar. Aqueles espanhóis quase brigando a tapas pelo supérfluo, com sua fome desmesurada de comprar, estavam garantindo emprego a operários e camponeses nos mais longínquos rincões do país e do continente.
Um peru ou um presunto, dez garrafas de vinho ou vinte de champanhe, certamente não representarão nada no padrão de vida do trabalhador espanhol ou europeu. Mas quando a histeria natalina multiplica essa demanda por dez, vinte, cem mil ou um milhão, isto faz uma senhora diferença na economia de um país. Minha singela garrafinha terá rendido centavos de peseta — se tanto — a cada um dos muitos operários que mourejaram para extrair o vinho da terra e fazê-lo chegar a meu pálato. Mas o furor dos madrilenhos multiplicava esses centavos por milhões. O consumo muda então de figura e transforma-se em elemento constitutivo de bem-estar. Os papa-hóstias que condenavam a alegria dos madriles com seus cartazes inquisitoriais, estavam em verdade lutando contra centenas de milhares de horas de trabalho e por maiores índices de desemprego na Espanha.
Por estas e por outras, vejo com profunda desconfiança a proposta com a qual venho sendo bombardeado via e-mail, a do Buy Nothing Day / No Shop Day. Ou seja, um dia de protesto contra o consumo compulsivo e a desigual distribuição de riquezas no Ocidente, a ser celebrado em fins de novembro na Europa, Estados Unidos, Canadá e Austrália. A iniciativa é de um cidadão canadense, Ted Dave, profissional do ramo da publicidade. O suficiente é suficiente — este é o slogan da campanha. Cansado de comprar e induzir pessoas a comprar o supérfluo todos os dias do ano, ao que tudo indica o publicitário quer fazer penitência e convida o planeta todo a partilhar de seu dia de abstenção. Justifica seu convite empunhando o Human Development Report, segundo o qual 86% das compras para consumo pessoal são feitas por 20% da população. Para o publicitário penitente, soa como pecado que estes 20%, com seus padrões de compra, gerem emprego para milhões de pessoas que garantem este consumo.
Será suficiente o suficiente? Pode ser, mas quem gera riqueza é o supérfluo. Vinho ou champanhe, trufas ou foie gras não constituem exatamente necessidades. No entanto, no dia em que o Ocidente decidir boicotar estes supérfluos, o que vai faltar na mesa de milhões de europeus será o necessário. O socialismo, filho dileto do cristianismo, nasceu desta repulsa católica ao dinheiro e à riqueza. O regime gerou a miséria infamante dos países onde foi implantado, onde nem mesmo o necessário estava ao alcance de todos.
Para mim, que celebro o Buy Nothing Day quase todos os dias do ano, a idéia poderia até soar como simpática. Mas não soa. Mauvaise conscience de publicitário de Primeiro Mundo não me comove. Em todo caso, se vingar o dia de nada comprar, será uma ótima ocasião para comprar algo, sem o atropelo dos consumidores compulsivos.
Nós, os Pedófilos
"O menino era de uma beleza tão perfeita que ele ficou perturbado. A palidez, a graça severa de seu rosto enquadrado por cachos louros como o mel, seu nariz reto, uma boca amorável, uma gravidade expressiva e quase divina, tudo isso fazia sonhar à estatuária da época áurea, e apesar de seu classicismo seus traços tinham um charme tão pessoal, tão único, que ele não se lembrava de ter visto, nem na natureza nem nos museus, um êxito tão perfeito".
Trechos do diário de algum pedófilo? Não. O estilo não é o de um mortal qualquer. Se trocarmos a palavra "menino" por Tadzio, e "ele" por Gustav Aschenbach, temos Morte em Veneza, uma pequena obra-prima do início deste século, assinada por Thomas Mann. A novela foi filmada por Luchino Visconti. O cinquentão Aschenbach é interpretado por Dirk Bogarde e o sedutor adolescente pelo sueco Bjorn Andresen.
Tadzio tem quatorze anos. Livro e filme arrancaram aplausos unânimes no mundo todo e a ninguém ocorreu acusar o escritor alemão ou seu personagem de pedofilia. Transfigurado em arte, todo instinto se enobrece. Na época, pedofilia não era o crime da moda. Um dos autores clássicos da literatura infantil, que nos legou Alice no País das Maravilhas, era fissurado em ninfetas. Mas em Lewis Carrol, matemático, escritor e fotógrafo bissexto, a preferência por meninas impúberes é um adorno em sua biografia. As fotos de suas pupilas pertencem à história da literatura.
Isso sem falar em Lolita, romance de Vladimir Nabokov, publicado em 1955 e filmado por Stanley Kubrick em 1962. Humbert Humbert é um intelectual europeu de 37 anos que se apaixona pela americana Lolita, de treze. Se o livro foi proibido na Inglaterra e apreendido na França, o filme foi celebrado com entusiasmo pela crítica e público. Ano passado, Adrian Lyne refilmou Nabokov. Para escândalo do neo-moralismo anglo-saxão, que não poupou esforços para tentar censurar a nova versão, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Bastou três décadas para que o Ocidente voltasse às trevas. O que antes era arte passou a ser imoralidade.
Com a mania de emulação da imprensa tupiniquim, a nova moda foi importada para este país tropical, onde os adolescentes chegam à puberdade mais cedo e onde uma menina de quatorze anos, não raro, tem mais experiência sexual que todos seus avós juntos. Grande entre os grandes, o Brasil também precisa de um autêntico pedófilo verde-amarelo. Os jornais de São Paulo tentaram encontrá-lo em um bancário paulistano, Paulo Sérgio do Espírito Santo, que teria abusado de mais de duzentos menores.
Ora, abusar de duzentos menores é tarefa para um Gilles de Rais, marechal de França e companheiro de armas de Joana d’Arc, não para um mísero assalariado brasileiro. Os jornalistas não conseguiram manter a peteca no ar, a affaire morreu na casca e o Brasil ficou sem um pedófilo digno de ser ostentado no concerto das nações. O suposto pecado de Espírito Santo, que multiplicava por cem ou mais o impulso de Aschenbach, foi ter nascido no Brasil e ser bancário. Tivesse nascido em Lubcek, como Thomas Mann, em seio de família rica, poderia ter uma promissora carreira literária pela frente.
Mas a mídia não fora saciada. Faltava-nos um Judas para malhar. Na falta de Judas, vai juiz mesmo. O papel sobrou para o ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), cujo voto acabou absolvendo, em 96, um encanador acusado de estupro de uma menina de doze anos, em Minas Gerais. A menina afirmou em depoimento ter consentido com a relação sexual. “Pintou vontade” — disse. Uma legislação vetusta, que considera estupro toda relação — consentida ou não — com menores de quatorze anos, havia encerrado no cárcere o infeliz que aceitou a oferta.
Quem lê jornais há décadas, deve ter notado que na última se multiplicaram por mil palavras como racismo ou pedofilia. Não por acaso, há dez anos caía o Muro de Berlim e se iniciava o processo de desmoronamento da URSS e do comunismo. A militância precisava de novas bandeiras. Atitudes comportamentais nada recentes, como racismo, turismo sexual e atração por adolescentes, do dia para a noite viraram crimes hediondos.
Na ocasião, o ministro Marco Aurélio foi visto como um inimigo da família e da moralidade pátria. Nosso Código Penal é defasado — disse o ministro — e os adolescentes de hoje são diferentes. Sugeriu um limite de doze anos para a aplicação da sentença de violência presumida. "Quando esse limite caiu de dezesseis para quatorze, na década de 40, a sociedade também escandalizou-se", afirmou.
Enquanto o legislador dormia, os tempos mudaram. A catolicíssima Espanha há muito se tornou realista: a partir dos doze anos, todo adolescente pode fazer qualquer opção sexual sem cometer crime. Serão os espanhóis todos pedófilos?
Parece que nem só eles. Segundo recente estudo feito pelo Ministério da Saúde, o ministro Marco Aurélio de Mello estava cheio de razão. Quase metade da população masculina brasileira está começando a vida sexual antes dos quinze. Segundo a pesquisa, 47% dos homens e 32% das mulheres disseram ter se iniciado sexualmente antes dessa idade.
Ou as leis caducaram ante uma realidade nova ou constituímos uma nação de pedófilos.
Com o leitor, a conclusão.
O Sonho de Lobato
Enquanto governadores brasileiros trocam farpas e acirram uma verdadeira guerra fiscal para atrair indústrias automobilísticas européias, os europeus estão começando a se perguntar se o automóvel terá sido uma boa idéia. Na semana passada, 66 cidades na França organizaram um dia sem automóveis. Paris foi tomada pelas bicicletas, patins e pandorgas. Em pleno setembro, mês da rentrée, assumiu ares dos primeiros dias de agosto, quando até os mendigos abandonam a cidade e tomam o rumo do sol.
A idéia está longe de ser nova. Há trinta anos, mais precisamente no dia 24 agosto de 1969, o movimento Alternativ Stad — Cidade Alternativa — de Estocolmo organizava um dia sem automóveis, empunhando uma bandeira insólita para a época: Stockholm ska vara bilfri. Ou seja, Estocolmo deve ser livre de automóveis. Para quem não conhece esta cidade cheia de charme, é bom lembrar que a capital sueca está disposta sobre quatorze ilhas e oferece oitenta metros quadrados de área verde a cada habitante. Milhares de radicais enamorados pela utopia saíram pelas ruas para gozar o silêncio e a pureza do ar do arquipélago, pedindo 365 dias por ano sem automóveis. Carros ou homens — era a opção proposta por seus cartazes.
Se há três décadas este protesto soava como uma extravagância de nórdicos, hoje é visto com simpatia pelos grandes aglomerados urbanos. Dominique Voynet, ministro francês do Meio Ambiente, entusiasmou-se tanto com a idéia a ponto de propor, para o próximo 22 de setembro, um dia sem automóveis para toda a Europa. A idéia é apoiada até mesmo por ecologistas, estes senhores com auras de Messias que, crucificando-se pela salvação da mãe Gaia, saem das cidades para invadir banhados, soltando gases pelos campos com suas carroças sobre quatro rodas. Estranha lógica: todos os carros poluem o meio ambiente, exceto o meu.
Por muitos lados pode ser definido o século que finda. Não está errado quem disser que foi o século do marxismo. Mas tampouco se equivoca quem defini-lo como sendo o do automóvel. Tanto um fenômeno como o outro tiveram um trágico ponto em comum, o massacre de milhões. O automóvel, pelo menos, tem seus atenuantes. Se a praga gerada por Marx hoje ainda é carpida pelas viúvas da finada URSS, ninguém seria insano a ponto de negar a necessidade do legado de Ford. A perversão reside no carro particular, que desde seus primórdios deixou de ser meio de transporte para constituir atestado de status.
Os publicitários venderam o carro inclusive como símbolo de potência sexual. À força de repetição, o que era símbolo fálico virou fato. Ainda há pouco, em um jornal de São Paulo, uma moça declarava que quanto mais caro é o carro, mais tesão ela experimenta pelo proprietário. Ora, otário para acreditar em tudo que está escrito é o que não falta neste planetinha. Daí ao infeliz leitor sentir-se impotente se não possui um automóvel, a distância é curta.
"As ruas tornaram-se amáveis, limpas e muito mansas de tráfego — escreveu um jornalista -. "Por elas deslizavam ainda veículos, mas raros, como outrora nas velhas cidades provincianas de pouca vida comercial. O homem tomou gosto no andar a pé e perdeu os seus hábitos antigos de pressa. Verificou que a pressa é índice apenas de uma organização defeituosa e antinatural. A natureza não criou a pressa. Tudo nela é sossegado."
O jornalista citado não é nenhum articulista do Monde descrevendo a Paris da semana passada ou algum revolucionário de bistrô sonhando com uma Europa sem carros no século que nasce. Trata-se de um visionário nosso, Monteiro Lobato, e data de 1926. O texto transcrito está em O Presidente Negro, livro há muito esgotado e com reedição prometida desde o ano passado.
Lobato via o transporte como um dos grandes problemas da humanidade. Preocupavam-no o desperdício de energia e os milhões de veículos atravancadores de espaço necessários para o deslocamento do homem até o trabalho ou lazer. A salvação estaria na descoberta das ondas hertzianas e afins, que trazem o trabalho, o teatro, o concerto ao encontro do homem. O mundo se transforma quando a maior parte das tarefas industriais e comerciais começam a ser feitas de longe pelo que Lobato chama de rádio-transporte.
Hoje diríamos Internet. Segundo o sonhador taubateano, a roda terá seu fim e o homem voltará a andar a pé. “O rádio-transporte tornará inútil o corre-corre atual. Em vez de ir todos os dias o empregado para o escritório e voltar pendurado num bonde que desliza sobre barulhentas rodas de aço, fará ele o seu serviço em casa e o radiará para o escritório. Em suma: trabalhar-se-á à distância".
O teletrabalho é um fenômeno em expansão, que já ocupa mais de 30 milhões de pessoas no mundo todo. Se esta concepção soava como delírio a nossos avós, nestes dias de Web está invadindo o mundo do trabalho e do lazer. Enquanto os escritores liderados por Oswald de Andrade louvavam os cavalos-vapor e editavam uma revista chamada Klaxon (buzina), o homem que via longe era ostracisado pelos sedizentes modernistas de São Paulo.
Quase um século depois, continuamos tão deslumbrados com as latarias quanto Oswald. Enquanto a Europa tenta desvencilhar-se do automóvel, ou pelo menos de suas seqüelas, nossos políticos disputam com unhas e dentes a instalação de suas fábricas de carroças. O automóvel está matando mais do que a Aids. Mas deixa pra lá, afinal automóvel não é doença.
Avança, Brasil — assim se chama o último programa de salvação nacional do Príncipe dos Sociólogos.
Sobre ratos e queijos
Entrevistas sobre o fim dos tempos é uma bela reflexão sobre os diversos calendários das culturas ocidental e oriental, feita por estudiosos como Umberto Eco, Jean Delumeau, Stephen Jay Gould e Jean-Claude Carrière. Este último, roteirista de Buñuel e especialista em religiões orientais, ao ser interrogado sobre o fim dos tempos, nos dá uma idéia do desastre:
— A primeira coisa que me vem ao espírito, é que assistimos ao fim de certos tempos gramaticais. Onde se meteu o futuro anterior? O que houve com o perfeito simples? Só muito raramente utilizamos o imperfeito do subjuntivo. Que significa essa simplificação? Que são os tempos gramaticais senão uma tentativa minuciosa de nossos espíritos precisos, meticulosos, de considerar todas as formas possíveis, todas as relações que mantemos com o tempo no interior mesmo de nossa ação, de nosso pensamento?
E eu que imaginava que este desastre fosse coisa nossa! Se alguém se deu ao trabalho de ler as conversas grampeadas de deputados e ministros dos últimos meses, terá notado que o analfabetismo há muito tomou posse do Planalto. “Quando eu pôr”, “quando eu ir”, “quando eu ter”, são moeda corrente na linguagem de nossos políticos. O pronome reflexivo, este então há muito foi pras cucuias. “Fulana divorciou”, “eles separaram”, “trens chocaram em Londres” e outras que tais, são formas que já fazem parte de nossa imprensa diária. O “se”, coitado, às vezes inventa de ressurgir onde não é chamado: “ele se consultou”, por consultar um médico.
Erros crassos estão se tornando vernáculo padrão. Já pensei em fundar uma Associação de Amigos e Defensores do Pronome Reflexivo, mas desisti. Seria visto como um irremediável reacionário e direitista que se insurge contra o sentido da História.
Mas o fim dos tempos não inquieta o deputado Aldo Rebelo (PC do B). Sua preocupação é com a invasão de palavras inglesas no cotidiano nacional. O deputado alagoano considera descaracterização da língua portuguesa a invasão de palavras como "holding", "recall", "franchise", "coffee-break", "self-service" e aportuguesamentos como "startar", "printar", "bidar", "atachar", "database". Para regulamentar o bom uso do vernáculo, submeteu ao Congresso Nacional projeto de lei que considera lesivo ao patrimônio cultural brasileiro todo e qualquer uso de palavra ou expressão em língua estrangeira, ressalvados os casos previstos em seu projeto.
Luiza Erundina, nordestina como Rebelo, também não gostava de palavras estranhas ao idioma. Quando prefeita de São Paulo, quis proibi-las nos cardápios dos restaurantes, obrigando o eventual devoto da culinária francesa a comer um prosaico pato com laranja, em vez de degustar um autêntico canard à l’orange. Mas como traduziríamos filé? Ou menu? Ou garçom? A prefeita nada disse sobre o assunto.
O não cumprimento da lei sujeitaria o infrator a multas de quatro mil a treze mil UFIRs (hoje, de dois mil a 6.500 dólares). O valor da multa dobraria a cada incidência. Não tivesse seu projeto sido apresentado antes de o STF julgar inconstitucional a tunga pretendida por Fernando Henrique nos bolsos dos funcionários públicos e inativos, poder-se-ia pensar que o deputado está tentando cobrir, com a arrecadação das multas, o rombo bilionário da Previdência Social.
A luta contra os anglicismos preocupa todos os países não-anglófonos. Nos anos 70, Etiemble já denunciava em Paris a invasão da França pelo que chamou de franglais. Legislação semelhante à proposta por Rebelo foi adotada na França. Ocorre que vivemos dias de Internet. Os franceses podem dizer ordinateur em vez de computer, logiciel em vez de software, souris em vez de mouse. Mas o mar de palavras do campo da informática que invade a praia dos franceses a cada ano, os submerge antes que possam ser traduzidas. Internet, computadores, Windows ou browsers são coisas de ianques. Melhor relaxar e gozar.
O deputado Rebelo, em aguda crise de anti-americanismo infantil, assesta suas baterias contra os anglicismos e aportuguesamentos. No entanto, desde que o homem saiu a trotar mundos — e isso já faz alguns séculos — nenhuma língua mais é pura. Um brasileiro pode ser analfabeto, mas fala latim, francês, árabe ou grego, com fluência e todos os dias. Ao perguntar por um ônibus, você fala latim. Ao chamar o garçom ou pedir um filé, ao entrar na garagem ou carregar a bagagem, você está falando um excelente francês. Ao comprar alface ou ir a um alfaiate, você falou árabe. Palavras como táxi ou telefone são grego puro, sem mistura. Estas palavras importadas, constantes do acervo de qualquer língua, são centenas. Seria insano pretender bani-las do vernáculo.
Quanto a aportuguesamentos, os usuários da língua são pródigos em soluções. Se hot dog ou cheeseburger são demonstrações de imperialismo aos olhos do comunista alagoano, em São Paulo os vendedores de cachorro quente encontraram algo abominável para designar a profissão, mas que soa a vernáculo: são dogueiros. Não pretenderá o deputado que se chamem cachorreiros. No Brasil, cheese virou xis. Que acabou tornando-se sinônimo de sanduíche, aliás outro anglicismo. Em Florianópolis, eu li esta pérola do gênio ilhéu, uma barraca anunciando — juro que li! — xis com queijo.
Os portugueses, mais zelosos, não falam em menu, mas ementa. Não chamam o garçom, mas o camareiro. Não usam prêt-à-porter, mas pronto-a-vestir. Monitor não é monitor, mas tubo visor. Mouse é rato. É uma opção. Mas o deputado que me desculpe: prefiro clicar o mouse a premer o camundongo. De minha parte, continuo preocupado com esta espécie em extinção, o pronome reflexivo.
O Conto do Sobrevivente
Em plena era informática, visitamos em segundos cidades e bibliotecas do planetinha. Se há um século a escassez de informações era um problema, nosso drama é o excesso de dados. Esta velocidade da informação deveria possibilitar a denúncia das grandes vigarices, antes que estas se tornassem monumentos ou símbolos da grandeza humana.
Deveria. No início deste ano, comentei o caso da guatemalteca Rigoberta Menchú, Nobel da Paz de 1992, porta-voz e símbolo dos direitos dos povos indígenas, premiada em boa parte por sua biografia, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la Conciencia. Este livro, que narra a infância miserável de uma índia sem instrução, comoveu a Europa toda e particularmente os noruegueses, responsáveis pela outorga do Nobel da Paz. Quando descobriu-se que a biografia da bugra era uma farsa, já era tarde: Menchú estava consagrada como campeã dos Direitos Humanos. Nossa velocidade fantástica de informação não nos protegeu do embuste. Uma vez Nobel, sempre Nobel.
Um outro destes espécimes, que podem pecar por muitas coisas, menos pela falta de audácia, está hoje em todas as vitrines das livrarias do Ocidente. Refiro-me ao escritor judeu letão nascido em Riga, Binjamin Wilkomirski, autor de Fragmentos, memórias da infância passada em campos de concentração nazista.
"Eu abro a boca para gritar, mas nada me sai da garganta." Esta é uma frase que reaparece regularmente, do começo ao fim desses Fragmentos, narrados com discrição admirável — nem aos gritos, nem só com silêncios — pelo escritor letão Binjamin Wilkomirski. Ela define, de pronto, a natureza traumática desses pedaços de infância, que retornam, transfigurados pela memória e pela escrita, ao narrador em busca de si”.
Este texto compungido, sintomático destes dias em que infância sofrida está virando gênero literário, foi publicado na Folha de São Paulo, no ano passado. É assinado pelo professor Arthur Nestrovski, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem como título MEMÓRIAS DO HORROR. Não resisto e transcrevo mais um pouco:
“Uma infância nos campos de concentração de Majdanek e Auschwitz não é exatamente um parque de diversões, como o menino logo aprende, contrariando a imagem prometida pela oficial da SS que o leva para lá. (...) Em 1945, depois da liberação de Auschwitz, o narrador, com quatro ou cinco anos, acaba num orfanato da Basiléia, sem nome, sem família e sem a menor noção do que seja um mundo fora dos campos”.
Nestrovski transcreve depoimentos dramáticos do menino. Para demonstrar seu cabedal de leituras, chama intelectuais ilustres para melhor acentuar sua indignação:
“O irrepresentável existe, como escreveu Lyotard ("La Condition Postmoderne", Paris, Minuit, 1979); e a arte oblíqua de escritores como Primo Levi e Paul Celan ou de cineastas como Lanzmann e Resnais já nos ensinou a ler, em seus próprios termos, os retratos de ocorrências que não se deixam pacificar pelo conhecimento. Mas o que dizer da experiência reportada agora, em primeira pessoa, de uma criança jogada num campo de concentração? Uma criança que "não sente nada", para ser capaz de sobreviver em meio à sujeira, à fome e à sede, à ausência quase total de afeto, às pilhas de mortos ao seu redor e à rotineira execução, por esporte, de outras crianças?”
O livro, publicado há quatro anos na Alemanha e logo traduzido a mais de dez idiomas, foi editado no Brasil pela Companhia de Letras. Bestseller internacional, foi saudado pelo New York Times e The Guardian como um dos expoentes do cânone do holocausto. Em 96, logo após sua publicação em inglês, recebeu em Nova York o National Jewish Book Award e, em Paris, o Prêmio da Memória da Shoah. De lá para cá, o autor tem se dedicado a viajar e fazer conferências sobre sua infância sofrida e os horrores do holocausto. O autor foi comparado, pela imprensa internacional, a nomes como Homero, Cervantes, Shakespeare.
Pena que Binjamin Wilkomirski nunca foi judeu, nem letão, nem nasceu em Riga e tampouco se chama Binjamin Wilkomirski. Se esteve em algum campo de concentração, foi quando adulto e como turista. Estudiosos do holocausto logo desconfiaram das memórias do “sobrevivente”. Em Auschwitz, campo de trabalhos forçados, jamais estiveram crianças. Um pesquisador suíço revirou cartórios e descobriu que o suposto Binjamin nasceu em Biel, na Suíça como Bruno Grosjean, filho de mãe solteira. Adotado por um casal protestante, passou a chamar-se Bruno Doesseker. Binjamin, apesar de negar sua identidade como Bruno, apressou-se em receber a herança que sua mãe legítima deixou para Bruno Grosjean.
São uns estraga-prazeres, os historiadores. Binjamin já ensaiava com arte a mesma farsa que levou Rigoberta Menchú ao Nobel e surgem estes chatos a cortar-lhe a carreira. Não contentes em denunciá-lo como embusteiro, desmoralizam argutos intelectuais, tanto do New York Times como da Folha de São Paulo, cuja pena está sempre pronta para escrever sobre questões judias, embora desconheçam este fato elementar: não havia crianças em Auschwitz.
Ainda há pouco, ao descobrir um defeito em suas garrafas fabricadas na Europa, a Anheuser-Busch, a maior fabricante de cervejas do mundo, após receber reclamações de dez consumidores, recolheu 5,8 milhões de embalagens. O mesmo fazem os laboratórios quando é descoberta alguma falha em seus medicamentos. A fraude do vigarista suíço foi denunciada em novembro do ano passado. Mas o livro de Binjamin — ou Bruno, como quisermos — continua exposto nas livrarias, um ano depois, sem que os editores se preocupem em recolhê-lo. Ou, pelo menos, em alertar o eventual comprador com uma tarja: “Isto é uma fraude”.
Sobre Carros e Shoppings
Tentei outro dia responder a um destes tantos testes com que os jornais pretendem nos definir. Se atingisse 50 pontos, poderia me considerar já um paulistano. Pois não consegui chegar nem a cinco. Fui zerado em não poucas questões, particularmente naquelas relativas ao automóvel. Quantas vezes estacionei em lugar proibido? Jamais em minha vida. Costumo avançar sinais? Nem pensar. Quantas multas pago por ano por excesso de velocidade? Nem uminha. Os engarrafamentos me irritam? De jeito nenhum. Entro em pânico ao parar em um sinal vermelho na madrugada? Negativo. Em suma, não reuni as condições mínimas para considerar-me paulistano honorário. Não que eu seja um motorista cauteloso, temente a Deus e respeitador das leis, nada disso. Acontece que não tenho carro. Nunca tive e jamais senti falta de um.
Li mais tarde outra enquete, que daria minha idade real. Não a cronológica, mas a física, descontados os desgastes das horas de bar e minha ojeriza ao que os anunciantes de xaropes ianques chamam de vida saudável. Não pude avançar nos quesitos. Os especialistas em idade não deixavam uma mísera chance ao pedestre inveterado. Nenhum item me perguntava se eu tinha ou não carro. O teste partia do pressuposto de que não existe ser humano sem carro e queriam saber como eu o utilizava. Decididamente, não sou um homem de minha época.
Nasci em um universo rural, cercado de vacas e cavalos, onde automóvel, quando surgia, era motivo de pasmo e admiração. Abandonei um dia meus pagos e virei bicho de cidade. Sei lá por que razões, sempre fui impermeável à publicidade em torno ao carro. Longe de mim negar sua necessidade. Mas não me adapto àquelas engrenagens. Já tentei inclusive aprender a dirigir. Pareceu-me complicado demais e até hoje não sei distinguir o breque da debreagem. Minha erudição em torno a carros se reduz a dois modelitos, o Fusca e a Kombi. Estes, eu os reconheço de longe. Quanto aos demais, não adianta me perguntar. Não vejo maiores diferenças entre um e outro. Ah! Consigo também identificar um Mercedes, desde que veja o logotipo. O resto, profundo mistério.
Daí meu fascínio por geografias onde o carro é desnecessário. Aquelas cidades americanas, onde o cidadão é um aleijado se não tem automóvel, jamais me atraíram. Mas adoro bater pernas por Praga, Viena, Amsterdã, Veneza, Toledo. Madri, apesar de não ser uma cidade concebida exatamente para pedestres, tem seu charme: não é preciso ser campeão de maratona para se bater ponto, em uma só jornada, em boa parte de seus cafés e restaurantes mais prestigiosos. Todos estão reunidos em um quadrilátero relativamente pequeno, o que possibilita essa prática tão madrilenha de jamais ficar em uma só tasca, mas ir degustando cañas e tapas em cada uma delas. E aí reside outro dos motivos pelos quais jamais tive carro. Pelo preço de um deles, posso refestelar-me alguns meses nessas cidades concebidas para a flânerie.
Morei quatro anos em Paris e não lembro de algum dia ter tomado um táxi. Certa vez, indiquei a uma brasileira, colega de magistério, uma taberna na Île Saint Louis, o Sergent Recruteur. Ela estava hospedada na rue Cujas, em frente à Sorbonne. Perguntei se não lhe fora difícil achar o restaurante e sua resposta me fez deplorar o tipo de ser humano que ela representava: “Foi fácil, tomei um táxi”. Para um dos mais belos percursos de uma das mais lindas cidades do mundo, que se faz a pé em vinte minutos, ela chamara um táxi! Décadas atrás, andei escrevendo que a todo ser humano deveria ser garantido o direito a Paris. Retiro o que disse. É próprio do jovem escrever bobagens.
Entre outras instituições da época que jamais me fizeram falta, e nas quais jamais entrei, estão os shoppings. Não me sinto bem nesses grandes espaços, para onde multidões são empurradas como ovelhas para um brete. Sem falar que os shoppings, de modo geral, estão distantes do centro das cidades. Como procuro morar no centro para não depender de carro, os shoppings sempre permaneceram fora de meu ecúmeno.
Foi inaugurado em São Paulo, segunda-feira passada, o Pátio Higienópolis, situado a umas quatro quadras de onde moro. Nunca é tarde para se conhecer coisas novas, pensei. Pela primeira vez, em mais de meio século de existência, entrei em um desses modernos templos de consumo.
Já na entrada, uma livraria clean, toda colorida, talvez para atrair crianças e eventuais clientes mais refratários ao livro. Bestsellers vistosos nas prateleiras, desses que os telespectadores compram por ter ouvido falar em algum programa de TV. Não para ler, mas para enfeitar paredes ou presentear amigos no Natal. Depois da livraria, o deserto: uma sucessão de lojas sem graça, design medíocre e mercadoria alguma que pudesse me interessar. Passei a buscar então algo mais compatível com minha idiossincrasia, esse fantástico legado do Ocidente, os bares. Onde estavam essas salas públicas de leitura, paquera, confraternização e debate, tão escassas em meu bairro?
Encontrei-as no terceiro andar. O plural é meramente retórico, pois havia uma única cervejaria. Simpática, é verdade, mas com filas para sentar. Passo o olhar pelos arredores. Um café, desses de balcão, e mais outra perversão ianque, um McDonald.
Dei meia volta. Um fracasso, minha primeira visita a um shopping. Para não dizer que nada consumi, passei pela livraria e comprei um jornal. Gastei um real e vinte centavos. No que depender de mim, a economia capitalista não tem muito futuro.
O Ministro e o Carma Nosso
Não lhe acontece às vezes quando você está vendo esses documentários televisivos sobre as grandes cidades do mundo? Você contempla os cafés de Paris ou Viena, as ruas de Copenhague ou Estocolmo, estações de inverno nos Alpes, praias acolhedoras no Mediterrâneo. Senhoras elegantes, envoltas em peles, tomando o metrô sem qualquer afetação, crianças risonhas brincando em parques com a despreocupação de quem tem um futuro rosa pela frente. Troca de canal e mudam as cores da tela. O noticiário local lhe joga no rosto miséria, favelas, presídios, rebeliões, crianças matando crianças, adultos matando adultos, crianças matando adultos e adultos matando crianças. Você tende então a se perguntar: “Que crimes terei cometido em vidas pregressas para carregar o carma de ter nascido neste país?”
Mas homem algum é dono de seu passado e migrar não está mais a seu alcance. Você é cosmopolita e tem perfeita consciência de que no planetinha nem tudo existe como naquelas cidades esplendorosas do Ocidente. Para manutenção de seu equilíbrio psíquico, a mídia apressa-se a confortá-lo com imagens da Somália ou da Bósnia, Angola ou Moçambique, Paquistão ou Chechênia. Humano sendo, você se agarra a esses magros consolos, mas consolos. Somo pobres, é verdade. Mas nossas mulheres ainda têm clitóris, beber não constitui crime, nossas cidades e campos não estão minados, não estamos em guerra e, pelo menos por enquanto, nem o Clinton nem o Ieltsin estão bombardeando nossas cidades. Sem falar que não temos vulcões nem terremotos.
Que você, cidadão comum, se pendure nessas muletas que a mídia oferece para alimentar aquele mínimo de auto-estima sem o qual é doloroso olhar-se ao espelho todas as manhãs, entende-se, afinal a mídia é o novo ópio do povo. Duro é ver o ministro da Fazenda fazer coro com seu mísero consolo: “a situação não é tão trágica quanto na Índia ou na África”. Pois foi o que disse Pedro Malan, afirmando, de cambulhada, que o problema da pobreza no Brasil pode ser resolvido em dez anos.
Segundo o discurso oficial do governo, nos últimos anos o país abandonou a retaguarda dos emergentes e passou à condição de oitava potência industrial do mundo. No discurso do ministro deste mesmo governo, continuamos por baixo do rabo do cachorro. Rejubilai-vos, pobre gente sofrida. Em Ougadouga, Benares ou Calcutá deve ser pior. A situação da oitava potência industrial do mundo não é tão trágica quanto lá. Sem falar que, daqui a uma década, não teremos mais favelas nem mendigos nem meninos de rua nem multidões de sem-terra ou sem-teto. Os comunistas, empunhando aquelas bobagens de Marx, jogaram um século inteiro na famosa lata de lixo da História. Graças ao pensamento mágico imperante no Planalto, em 2010 já teremos chegado à sociedade ideal. Negativista profissional, eu achava que tal ventura a meus olhos não seria dado ver!
O que me lembra os transportes de uma poetisa carioca, ao visitar Passo Fundo. Entusiasmada com a promoção de seu poetar em um encontro literário na cidade gaúcha, sentiu-se na obrigação de contestar aquele grego maluco que pretendia expulsar os poetas de sua República. “Pobre Platão, que não conheceu Passo Fundo”, disse. (Juro que disse. Está escrito). Parafraseando a carioquinha deslumbrada, eu diria: “Pobre Marx, que não conheceu Malan”.
Consolo pode ser bom, mas não serve como estímulo. A miséria alheia sempre serve de equilíbrio às angústias nacionais, mas não alimentamos nostalgia alguma do Terceiro Mundo. As rotas de turismo ou migração que o digam. A grande massa de brasileiros que entra em um avião não vai buscar trabalho ou lazer, futuro ou consumo, na África ou Índia. Se alguns gatos pingados enfarados de Paris ou Nova York vão buscar o primitivo em alguma aldeia em meio ao deserto, as multidões lotam os vôos rumo ao Norte. O país pode ser pobre. Mas se você pretender voar para Paris ou Orlando neste dezembro, prepare-se para enfrentar lista de espera.
Já para os destinos que servem como parâmetro ao ministro, dá para comprar o bilhete no aeroporto. Se você quer ter uma idéia mais precisa desta preferência nacional, dê uma passadinha de olhos nas colunas de meteorologia dos jornais. Diariamente, temos o clima tanto de Oslo como de Moscou, Toronto ou Melbourne. Isto interessa ao leitor brasileiro, ou os jornais não dariam meia página a notícias sobre o tempo. De todo o continente africano, só Johannesburgo e olhe lá! Não por acaso, a capital do país mais rico e europeizado de toda África. Do resto, não queremos saber nem a temperatura. O imaginário tupiniquim está voltado para o Norte e é bom que assim seja. De miséria, já basta a nossa.
Em continuidade à sua luta para nos levar ao bem-estar social dentro de dez anos, Pedro Malan fez palestra, terça-feira passada, na sede da Conferência Nacional de Bispos do Brasil, logo a entidade que congrega estes senhores cujo palavrório só tem sentido junto aos pobres, já que em país decente são vistos como ridículos fantasmas do passado. O ministro considerou a gravidez de adolescentes como uma das causas da miséria do país, como se gravidez de adultos só gerasse rebentos fortes e bem nutridos. Na saída, foi saudado pelo presidente da CNBB, que aproveitou o ensejo para recomendá-lo a rezar o Pai Nosso quando estivesse para tomar decisões. Que o ministro sempre se detenha naquele trechinho: “o pão nosso de cada dia nos daí hoje”.
Um ministro que nos consola: ainda não somos a África. Um prelado que enrola: reze o Pai Nosso. E insista no pão nosso. Mas o Pai, há séculos vem se demonstrando inadimplente. No que dele depender, temos mais mil anos de miséria pela frente.
A Megamissa e a Ralé
Se a idéia de uma danação ou salvação eterna foi um dos instrumentos de dominação encontrados pelos padres para manter seu poder temporal, bem cedo a Igreja percebeu não ser muito inteligente esta pastoral do medo. Morto o crente, sua alma ia para o céu ou para o inferno, sem apelação. Sendo eterna a pena, de nada adiantava orar por quem estava irremediavelmente condenado. Muito menos por quem já estava salvo. E a basílica de São Pedro, além de custar uma fortuna, estava longe de ser concluída. Urgia encontrar uma nova fonte de arrecadação. Surgiu assim o purgatório, uma espécie de Febem celestial, onde o pecador que não tivesse ido para o inferno purgaria suas penas em fogo lento, até merecer a bem-aventurança divina.
Embora os santos da Igreja divirjam sobre a natureza do instituto, mesmo sua acepção mais branda não é das salubres. Diz Agostinho: “este fogo purgatório é mais duro que todas as penas que se possa ver, sentir e imaginar aqui embaixo”. Para Santa Catarina de Gênova, “lá os tormentos são iguais aos do inferno”. Mas como esta etapa é uma sala de espera do paraíso, a santa consola: “não acredito que possa existir uma alegria comparável à de uma alma do purgatório, exceção feita da dos santos no paraíso”.
Urgia encontrar uma nova fonte de arrecadação, dizia, para concluir e manter a casa de Pedro. Para abreviar os tormentos dos defuntos — ou para prevenir a própria queimação póstuma — o católico poderia amortizar suas dívidas com Jeová, comprando indulgências. Estas constituíam uma remissão, diante de Deus, da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Eram concedidas aos fiéis dispostos a lucrá-la. Poderiam ser parciais, se libertavam apenas em parte da pena temporal; plenárias, se libertavam de vez o infeliz do purgatório. Só a Igreja, dispensadora da redenção, pode distribuir e aplicar, através do Papa, o tesouro das satisfações de Cristo e dos Santos.
Tudo isto pode nos soar hoje como ridicularias de um passado distante. Mas na época era assunto dos mais graves. Martinho Lutero, indignado com a comercialização do bem-estar dos defuntos pelo Vaticano, pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, suas 95 teses, o que gerou um cisma, o luteranismo. Mal procedem os sacerdotes que reservam aos moribundos penas canônicas no purgatório, dizia o teólogo alemão em uma de suas teses. Os moribundos são absolvidos de todas as suas culpas pela morte. Mera doutrina humana predicam aqueles que asseveram que tão pronto tilinte a moeda jogada na caixa, a alma saia voando. Por que o Papa, cuja fortuna é hoje mais abundante que a dos mais opulentos ricos, não constrói sozinho uma basílica de São Pedro com seu próprio dinheiro, em lugar de fazê-lo com o dos pobres crentes?
Como as invectivas de Lutero estavam ameaçando a arrecadação de moeda sonante entre os crentes tementes às chamas, em 1563 o Concílio de Trento apressou-se a ratificar a existência do purgatório. Que até hoje existe, como também as indulgências. As plenárias, aquelas que dispensam o fiel de qualquer chamuscada post-mortem, são concedidas tradicionalmente em apenas quatro catedrais de Roma — São Pedro, Santa Maria Maior, São João de Latrão e São Paulo Extramuros. Mostrando seu particular apreço ao Brasil, Sua Santidade autorizou que fossem concedidas indulgências plenárias na recente missa de Finados, em Santo Amaro, São Paulo, que contou com o patrocínio da rede Globo de Televisão e a participação de 600 mil fiéis.
Além do padre Marcelo Rossi, participaram do evento os cantores Roberto Carlos, Agnaldo Raiol e Sérgio Reis, além das duplas Chitãozinho e Xororó e Sandy e Júnior. A cerimônia religiosa, este diálogo do crente com seu Deus, teve o apoio logístico de três UTI móveis do Bradesco Saúde, mais três outras da Unimed e um ambulatório com 60 médicos. Aos pais, recomendou-se colocar um crachá nas crianças, com dados identificatórios, para que não se perdessem durante a celebração do santo ofício. Reproduzo o programa da missa:
8h — abertura, com o padre Marcelo Rossi
9h40 — Roberto Carlos se apresenta, cantando mensagens e orações
10h — Marcelo Rossi e Julio Lancellotti falam sobre a violência
10h15 — Agnaldo Rayol canta
10h35 — padre Marcelo Rossi se apresenta
11h15 — Chitãozinho e Xororó, Sandy e JúniorNo insólito ritual canibalístico foram distribuídos 70 mil nacos da carne de Cristo. A megamissa, como já está sendo chamada, foi transmitida ao vivo pela Rede Globo, registrou média de 27 pontos de audiência, com picos de 33 pontos. O ambulatório atendeu 700 pessoas, mas os médicos estimam que pelo menos mil tenham passado mal.
O que um dia foi missa virou show. Temos então a Rede Globo preocupada com a danação futura dos telespectadores. E viva este país fantástico onde nada se conserva e tudo se transforma. Se o cristianismo, em sua trajetória européia, gerou uma arte refinada, os padres de Pindorama agora apelam ao grotesco para fazer número. No tronco da árvore genealógica da ópera estão os mistérios acompanhados de música, o canto gregoriano, a missa e o cantochão. Esta tendência gerou um Verdi ou Vivaldi, um Mozart ou Puccini. No Brasil, faute de mieux, vai Roberto Carlos mesmo, mais Agnaldo Rayol, Chitãozinho e Chororó.
Se os bugres quiserem escapar das chamas do purgatório, que sofram os astros da Rede Globo — assim pensa Roma. Padre Marcelo quer reunir, em uma próxima missa, um milhão de fiéis. No Brasil, o cristianismo está voltando à sua vocação primitiva, o culto da ralé.
Conversando com Maria
Sexta-feira passada, desci para apanhar a Folha de São Paulo na banca da esquina. Esgotada. Estadão também. Só na terceira banca consegui encontrar um último exemplar da Folha. Com um ar enauseado, meu fornecedor de notícias comentou: “Crime vende”.
Sexta-feira é o dia em que Maria, minha assessora de assuntos domésticos, faz a faxina de meu apartamento. Ela mora em Jardim Ângela, um dos bairros mais violentos de São Paulo, que sempre aparece em vermelho intenso nos mapas da criminalidade. É geografia onde chacinas constituem rotina e a vida vale pouco ou quase nada. Pergunto a Maria se não tem medo de morar lá.
— Não. Eles matam só as pessoas certas. Dívidas de droga.
Maria já viu alguém matar alguém?
— Matar, não. Mas nos domingos, quando a gente vai a missa, sempre passa por dois ou três cadáveres na rua.
Peço mais detalhes. Eles chegam sem mais nem menos e começam a atirar?
— Não é bem assim. Em geral eles avisam quem vão matar, uns quinze dias antes. Quem vai morrer tem uma chance. Pode fugir. Mas não pode voltar. Se voltar, morre.
Maria conhece eles?
— Todo mundo conhece. Até a polícia conhece. A gente dá bom dia, boa tarde, quando cruza por eles. Sempre olhando pra baixo. Não se deve olhar eles na cara.
Maria não sente medo?
— Nem um pouquinho. Não devo nada. Se a gente respeita eles, eles respeitam a gente.
Mas os crimes que vendem jornais, dos quais falava o rapaz do quiosque, não são os que “eles” cometem. Estes merecem apenas uma notinha de nove linhas, nas páginas internas, em geral às terças-feiras. Os cadáveres de Jardim Ângela ficam discretamente enterrados nas estatísticas, entre os cinqüenta ou sessenta que morrem todos os fins-de-semana na periferia de São Paulo. É mortandade maior que a do Kosovo, em plena guerra civil. Esta meia centena de cadáveres semanais se repete, com sinistra monotonia, desde há uns três ou quatro anos, quando a imprensa decidiu recenseá-los. Quando a média baixa dos cinqüenta, é exceção. Um ano tem 52 semanas. Se ficarmos com a média, temos — por baixo — 2.600 cadáveres ao ano. Fora os dos dias úteis, bem entendido.
Estes não esgotam jornais. Destes cadáveres não sabemos suas trajetórias, seus projetos, sonhos, ambições. Muito menos a biografia dos assassinos. São cadáveres periféricos, de quinta categoria. Cinqüenta cadáveres é rotina. Tragédia é quando morrem dois ou três, especialmente se pertencem à classe média. Mais tragédia quando o crime ocorre nessas ilhas artificiais que a cidade cria para fugir de sua realidade hedionda, os shoppings. A tragédia ainda é maior quando, entre as vítimas, há uma menina, preferentemente jovem e bonita, cheia de sonhos e de futuro.
O crime que esgotou jornais em Santa Cecília teve como autor um dos moradores do bairro. O moço, sextoanista de Medicina, é meu vizinho e morava em frente a um de meus botecos. Empunhando uma submetralhadora, matou três pessoas e feriu outras cinco em um cinema de um shopping no Morumbi. Desta vez os assassinos não foram os impessoais e distantes “eles”. Mesmo tendo por critério chamar de chacina toda matança com pelo menos três cadáveres, desta vez a imprensa não falou de chacina. Chacina é coisa de bairro pobre.
Gente fina é outra coisa. Para explicar as mortes do Jardim Ângela, os jornalistas chamam sociólogos. Para explicar o crime do shopping, foram entrevistados psicólogos. E a palavra medo voltou à primeira página dos jornais. O episódio rendeu cadernos especiais e capas de revistas. O assassino é daqueles que os jornalistas gostam. Sua primeira idéia — declarou aos repórteres — era usar uma granada. Mas concluiu que uma metralhadora provocaria mais impacto na mídia. Entre as vítimas, havia a jovem bonita, 25 anos, cheia de sonhos e futuro. Queria inclusive vender seu Pajero, pois temia a violência das ruas. E pretendia continuar seus estudos em Paris. Um futuro cortado pela raiz.
Em verdade, seria impossível aos jornais investigar as biografias, projetos e sonhos das milhares de pessoas assassinadas a cada ano na periferia. Sem falar que biografia de pé rapado não interessa aos leitores. Mas tudo é diferente quando se metralha a sensível classe média, que berra como porco degolado quando é atingida. O mesmo ocorreu com a tortura. A polícia brasileira torturou desde quando existe polícia, tortura sempre foi seu método preferido para extrair confissões, tanto de assassinos como de ladrões de galinha. A partir dos anos 60, os policiais começaram a receber um novo tipo de cliente, os meninos oriundos da classe média. Financiados por Moscou, treinados em Cuba e países do Leste, queriam instalar no Brasil mais uma republiqueta socialista. Os filhinhos de papai conheceram então instrumentos familiares às classes baixas, a maricota, o pau-de-arara, a porrada.
Escândalo na imprensa. Que horror, no Brasil se tortura! Socorro Anistia Internacional, SOS ONU, acudam-nos Estados Unidos. Recebe, Europa, nossos filhos mutilados. A ditadura acabou, os meninos de Moscou hoje ostentam barbas brancas e recebem pensões milionárias, em paga pelos desserviços que prestaram ao país. Nos porões das delegacias, pobres diabos continuam sendo torturados. Mas não são filhos da classe média.
Vontade de perguntar à Maria o que ela pensa do assassino de meu bairro. Mas Maria está de férias. Teve filho e dedica-se a lamber a cria. Nos bares de Santa Cecília — e no país todo — repete-se a dramática pergunta de capa da Veja: por quê? No Jardim Ângela, sem perguntar-se por quê, a vida continua nascendo, em meio aos cadáveres dos quais Maria se desvia aos domingos, quando vai à missa. Estes não rendem manchetes.
Queda do Muro chega ao Brasil
Faz dez anos. Era inverno e fui bronzear-me em Berlim. Afinal, como dizia um jornalista francês, o sol da liberdade também bronzeia. O Muro começava a ser derrubado e eu não poderia furtar-me ao gesto simbólico de quebrá-lo com minhas próprias mãos. Os comunistas alemães construíram uma obra para desafiar os séculos. Mais fácil demolir pirâmides. Meu martelo voltava com força a cada golpe e quase rebentei os dedos para conseguir dois míseros caquinhos. A solidez do concreto dava-lhe um caráter de eternidade e contaminou as mentes: escritor algum ousou antecipar em suas ficções ou ensaios a derrubada do Muro. Não devem ter lido Marx com atenção. Já no Manifesto, o profeta irado anunciava: tudo que é sólido se desmancha no ar.
De lá para cá, enquanto velhas palavras sumiram das páginas dos jornais, outras novas começaram a freqüentá-las. Reacionário e pequeno burguês são hoje palavrões ideológicos fora de moda. Quando as viúvas de Marx querem insultar o adversário, chamam-no agora de racista ou neoliberal. Outra palavra nova é globalização, eufemismo para dizer que o socialismo morreu e a Weltanschaaung capitalista — queiramos ou não queiramos — venceu em toda linha.
Quando o Muro caiu, o mundo socialista vivia no limite da penúria. O caráter ditatorial do regime já fora denunciado a partir dos anos 30, por homens como Panaïti Istrati, André Gide, Albert Camus, Arthur Koestler, George Orwell, Ernesto Sábato. Em 49, com a affaire Kravchenko, ficou definitivamente comprovada a existência dos gulags. Para alguém nascido nos anos 50, não era mais permissível acreditar no comunismo. Exceto neste incrível continente nosso, onde as notícias demoram décadas para chegar e onde safadeza intelectual é sinônimo de vanguarda do pensamento.
No Brasil, foi preciso esperar ainda dez anos depois da queda do Muro para que as esquerdas descobrissem o óbvio. “Não acredito mais no socialismo científico, como modelo econômico e político a ser implantado” — disse o deputado petista José Genoíno, antecipando sua tese para o 2º Congresso do PT, a ser realizado na próxima semana em Belo Horizonte. "Para mim o marxismo acabou", disse outro líder petista, o ex-governador Cristovam Buarque, do Distrito Federal. Homens de visão, levaram nada menos que meio século para descobrir o óbvio.
Luís Inácio Loser da Silva, o eterno candidato à presidência, líder feito a martelo pela Igreja Católica e esquerdas uspianas, também apressou-se a pôr as barbas brancas de molho. “Não acredito em socialismo com partido único, com falta de liberdade de organização sindical e também não acredito em modelo político em que o Estado seja tutor da sociedade”, afirmou, tomando a precaução de não citar o amigo Fidel Castro, último ditador da América Latina e último ícone vivo do altar das esquerdas tupiniquins, no qual se roça, nestes dias, Fernando Henrique Cardoso.
As eleições de 2002 estão aí e ninguém mais engole o discurso socialista. Temendo o mesmo futuro do mico-leão-dourado, Lula começa a ver virtudes no Grande Satã. Será possível melhorar o capitalismo? Na mesma semana em que Genoíno e Buarque jogam na famosa lata de lixo da História um dos dogmas mais caros ao PT, o ex-operário e candidato profissional declara: “Eu acho que é. Você há de convir que o capitalismo sueco e o dinamarquês são muito diferentes do nosso, brasileiro, e do da América do Sul”.
Quer dizer então que a Suécia e a Dinamarca eram países capitalistas? Ora, ainda há uma década as esquerdas juravam de mãos juntas que eram democracias socialistas. Lula pode ter fama e currículo de analfabeto, mas a militância ensinou-lhe muito bem a arte de manipular conceitos conforme a direção de onde o vento sopra. Como já disse alguém, a mais importante conseqüência da queda da Muro não foi a reunificação das Alemanhas, mas a reunificação do discurso.
Socialismo não rende mais votos. Mas o mal já está feito. Os cursos de ciências humanas produziram fornadas de jovens com trejeitos marxistas. Os livros destinados ao ensino secundário continuam contaminados pela idéia da luta de classes. O cadáver do deus morto continua fedendo. A militância embaralhou conceitos e misturou religião com filosofia barata, a ponto de um governador de Estado declarar-se católico marxista, sem que ninguém o vaiasse.
Costumo afirmar, para espanto de interlocutores europeus, que o Brasil é o último país comunista do mundo. Enquanto a China abandona os preceitos de Mao e Moscou implora a invasão do capital estrangeiro (leia-se europeu e americano), a burritsia tupiniquim ainda defende reservas de mercado e economia controlada pelo Estado. Há muito os países da finada URSS derrubaram as estátuas colossais de Stalin e Lênin. Entre nós, a guerrilha católica conduzida pelos filhotes de padre que lideram o MST desfralda as efígies de Che Guevara e Mao Tse Tung. O fundo do ar é vermelho — diziam os meninos entediados às margens do Sena... em 1968. Trinta anos depois, no Brasil ainda continua vermelho.
Durante todo o decorrer do século, os intelectuais de esquerda teceram absurdas acrobacias mentais para provar o que não pode ser provado, que o mundo socialista era um paraíso. Ai de quem objetasse: mas que paraíso é esse de onde é proibido sair? E de onde quem sai não quer mais voltar? Perguntas como estas eram consideradas infantis. E eram mesmo. Somente a uma criança, ainda não contaminada por ideologias, ocorreria pergunta tão singela. Nos albores do Terceiro Milênio, os líderes do PT conseguiram chegar à idade infantil.
Longa é a jornada de um petista até o entendimento.
Dormindo com Big Brother
Em meus dias de universidade, mesmo na cidade grande, a vida não era fácil para o solteiro. A sociedade toda e suas normas pareciam estar direcionadas para dificultar-lhe — e se possível, impedir-lhe — a vida sexual. Ainda nos anos 70, o regimento interno de um condomínio em Porto Alegre determinava que todo inquilino (a) solteiro (a) não poderia, em hipótese alguma, receber visitas do sexo oposto. Escrevi crônica indignada na época e titulei com gosto: “ESTADO CIVIL: SUSPEITO”. Pois bastava alguém ter mais de vinte anos e não estar casado, já era visto como um elemento hostil aos bons costumes.
Na época, me parecia ser um sumo atentado à privacidade do cidadão exigir documentos na entrada de um edifício. Pior ainda, querer saber a qual apartamento eu ia. Ninguém, nos céus ou na terra, tinha direito a bisbilhotar quem ia visitar-me ou quem eu ia visitar. Tal invasão brutal da privacidade me soava como instituição de regimes comunistas, onde o Estado insistia em seguir os passos de todo cidadão.
Os tempos mudam. E os fatos derrubam quaisquer princípios. O que há duas ou três décadas era intrusão na vida íntima dos condôminos, hoje é exigência de segurança. Já não basta pedir o RG de quem entra em um edifício. Câmeras, ao melhor estilo orwelliano, vigiam e filmam quem entra ou sai de um prédio. Em meu televisor, um canal exclusivo me mostra quem me procura na portaria. Em verdade, não chego a usar esse dispositivo de segurança. Mas já não me queixo de tais controles.
O suspeito, hoje, não é mais o solteiro. Suspeitos são todos. Não está mais em jogo a sexualidade de cada um, mas a própria vida. É deplorável, mas conseguimos chegar lá. Não bastassem os olhos eletrônicos que nos vigiam nos prédios particulares, do alto das ruas centenas de câmeras nos contemplam. Ao habitante das metrópoles brasileiras, esta vigilância pode parecer insólita. O mesmo não diria um nórdico.
Meu primeiro contato com estes olhos que registram nossos menores gestos foi em Estocolmo, há três décadas. Do alto dos prédios da Hötorget ou Kungsgatan, discretos aparelhos seguiam os passos de todo transeunte. Ao descer para o metrô em T-Centralen, a vigilância era ostensiva, a câmera quase nos batia no rosto. Foi uma de minhas primeiras decepções com a sociedade que, em minha ingenuidade dos vinte anos, eu julgava perfeita: o preço do paraíso era a eterna vigilância. Ao mesmo tempo, me perguntava por que uma cidade tão tranqüila precisava ser tão controlada.
Em meu encantamento com o paraíso social-democrata, não percebia que a resposta estava embutida na própria pergunta. Ao receber alguma visita de brasileiros ou latinos, me apressava em mostrar-lhes as câmeras que tanto espanto me causavam. Hoje, são os brasileiros que pedem esta vigilância, sob protesto dos sedizentes humanistas que brandem a ameaça do Big Brother de George Orwell. Esquecendo, propositadamente esquecendo, que Orwell alertava, em 1984, para o perigo de uma sociedade totalitária em que os donos do Estado, para manter eternamente seu poder, buscavam controlar até a mente de cada cidadão.
O exemplo mais acabado do Big Brother não são exatamente olhos eletrônicos, mas a Stasi, serviço de segurança da defunta Alemanha Oriental. O perfeccionismo dos comunistas alemães era tal que até os odores dos cidadãos eram coletados, com panos úmidos, e preservados em recipientes de vidro nos corredores kafkianos da instituição. Mas para os marxistas, Big Brother eram as ingênuas câmeras de Estocolmo.
Enquanto as esquerdas chiam contra os aparelhos que começam a ser instalados nas ruas de São Paulo, em Nova York, ao longo de 70 quarteirões, há 2.400 câmeras de vigilância, instaladas por empresas privadas, em edifícios residenciais e prédios públicos. É o que nos conta Renan Antunes de Oliveira, em sua correspondência para o Estado de São Paulo. “Mais: há câmeras escondidas nos postes de iluminação de Washington Square, a praça da Universidade de Nova York, onde os estudantes fumam maconha durante o dia — um deles foi preso setenta vezes, até descobrir de que maneira estava sendo denunciado”. No Brasil, tal medida encontraria forte resistência dos universitários: os campi constituem hoje os lugares mais tranqüilos para o consumo de drogas.
Uma ONG americana, preocupada com a perda do anonimato, quer mudar a legislação, antes que Nova York acabe como Londres, campeã mundial da vigilância eletrônica, onde um pedestre passa por cerca de trezentas câmeras por dia.
Confesso que em nada fere minha privacidade saber que trezentos ou mais olhos me vigiem quando saio à rua. Rua não é espaço privado. Ao botar o pé em uma delas, minha privacidade some e torno-me um ser público. Minha vida íntima, eu a exerço entre quatro paredes. Quem ameaça invadir este meu espaço personalíssimo, não são as câmeras penduradas nos prédios, mas a maquineta onde batuco estas linhas. Bancos de dados, que não tenho a mínima idéia onde estão, já sabem mais a meu respeito do que eu mesmo. Cookies se infiltram em meu PC e enviam perfis de minhas preferências para empresas que me sugerem mercadorias que eu certamente adoro mas ainda nem sabia que já existem. Você pode até esquivar-se das câmeras suspensas das cidades. Da Internet, já não é tão óbvio. Se as câmeras registram gestos e itinerários, os chips coletam desejos, taras, angústias, leituras, pensamentos.
Condenar as câmeras é falta de visão de ongueiros irritados com o Ocidente. Big Brother é mais sutil. Já invadiu nossas residências e veio para ficar. E se entra em pane por alguns minutos, nos deixa desamparados.
Em Defesa de um Dogma
O cineasta americano Kevin Smith está em dívida com a Virgem. Ou melhor, com a Tradição, Família e Propriedade, mais conhecida como TFP. Y a las pruebas me remito, como dizem os espanhóis.
Um amigo me perguntava outro dia quais seriam os três mitos predominantes do Ocidente. Sem ser um especialista do assunto, tentei uma resposta. A meu ver seriam, pela ordem de importância, a mãe-virgem, o amor e o deus único. Deus, embora continue cheio de poderes, anda um tanto desprestigiado, depois que virou garoto-propaganda de shoppings em fim de ano. Mas se você for ateu, isto já não dá fogueira. Pode até renegá-lo em público. Desde que não seja candidato à Presidência da República, bem entendido.
Amor também vende bem e continua tendo seus apelos. Hollywood que o diga. Se você assina TV paga, já deve ter notado que a cada mês há pelo menos uns vinte títulos de filme com a vulgarizada palavrinha. O mito, como o do deus único, é anterior à era cristã e continua forte e saudável. Mas se você ama ou não ama, isto é problema seu e não vai ser por deixar de amar que irá tornar-se um transgressor de qualquer lei.
A transgressão começa quando você inventa de falar de Maria. Quem não lembra do soporífero Je vous salue, Marie, do mais soporífero dos cineastas suíços, Jean-Luc Godard? O filme nada tinha demais, apenas situava Maria como atendente de um posto de gasolina. Foi o que bastou para que a Igreja Católica, mais governo brasileiro, se mobilizasse em santa cruzada, para proibir a obra que poderia abalar os fundamentos da nação. Melhor divulgação não poderia esperar o chato Godard. Seu filme foi exibido até mesmo em cópias piratas e houve quem viajasse quilômetros para assistir à solene bobagem.
Sem ser uma Jerusalém, meu bairro é disputado por milenares forças espirituais. Vivo na fronteira entre Higienópolis e Santa Cecília. O primeiro, pontilhado de sinagogas, é por alguns chamado de Hidischienópolis. Aos sábados, as ruas são tomadas por senhores com quipás, mulheres carecas com perucas e meninos com terno e gravata, mesmo sob um sol escaldante. Tampouco faltam os ortodoxos, com suas levitas e barbichas encaracoladas balançando ao sabor dos ventos.
Santa Cecília tem mais igrejas católicas. E mendigos. Padres adoram mendigos. Nem os serviços de limpeza conseguem levantá-los da rua. Certa ocasião, militantes dos tais de Direitos Humanos deitaram-se no chão, no largo Santa Cecília, para impedir o trabalho das máquinas de varrição: estavam atrapalhando o repouso dos abençoados pelo Salvador.
Em Santa Cecília está também o quartel-general da TFP, baluarte do culto mariano. Um dos botecos que freqüento fica colado à famosa imagem de Maria, aquela que foi maculada por uma bomba, em junho de 69. Ao fundo do nicho, sempre cheio de flores e espinhos, lê-se uma mensagem que pede ao passante uma prece, em desagravo ao atentado e pelo fim do comunismo no Brasil. A dois passos de bebedores de longo curso, circunspectos senhores engravatados rezam, ajoelhados ante a santinha. Entre dois archotes acesos, repetem ad nauseam todas as ave-marias e pai-nossos de um rosário, mais jaculatórias e salve-rainhas. Na frente do bar, está a editora Ave Maria, especializada em literatura religiosa. No lado direito, instalou-se uma igreja evangélica, fechando o cerco aos pecadores. Fora o rumo do banheiro, a salvação cerca os bebuns por todos os lados. Só não se redimem os empedernidos.
O boteco é um paradigma de democracia. Enquanto uns pecam, outros rezam, quem sabe até mesmo pela salvação dos pecadores. Enfim, beber lado a lado de alguns crentes absortos em humilde preito a Maria, isto passa. O problema é beber frente a uma multidão de filhos de Maria, engalanados com suas capas e estandartes medievais, bradando slogans furiosos contra alguma ofensa à Virgem Mãe.
Aconteceu há duas semanas. Ao dirigir-me ao boteco, deparei com a rua interditada e tomada por uma maré vermelha. Os filhos diletos de Maria cercavam meu bar. Fui abrindo caminho entre as capas cor de sangue e as pontas de lanças dos estandartes e preferi trocar de bebedouro.
O ato era de protesto contra Dogma, filme de Kevin Smith, no qual Deus é mostrado como mulher, antiga reivindicação das feministas americanas. No filme, Maria tem outros filhos depois de Jesus, no que não vai nenhuma novidade, já está nos evangelhos. Uma de suas descendentes trabalha numa clínica de abortos e Moisés é chamado de bêbado por um anjo. Smith pretende apenas fazer o público rir. “Tudo começou com dúvidas sobre minha própria fé, mas ninguém deve pensar que defendo alguma tese", disse o diretor. Não vi o filme e talvez nada soubesse dele, não fossem duas centenas de fanáticos virem anunciá-lo aos gritos frente a meu bar.
A TFP produziu um documento intitulado "Não para a blasfêmia!", endereçado ao ministro da Justiça, José Carlos Dias. Pedem "providências imediatas para proibir a importação e exibição do filme em todo o território brasileiro!" Cerca de 150 mil petições assinadas já foram reunidas e serão enviadas ao ministério nos próximos dias. Isto é, 150 mil pessoas que provavelmente nada soubessem sobre o filme, agora sabem. Ora, São Paulo é tambor que reboa pelo país todo. Jornais de circulação nacional estão abrindo páginas para Kevin Smith, que não precisou gastar um só cent por toda essa colossal publicidade.
Pela primeira vez em minha vida, me sinto impelido a defender um dogma. Mas minha defesa é supérflua. Os filhos de Maria estão divulgando, com suma competência, as ofensas à própria mãe.
A Lenda Avança
Correio eletrônico é um dos grandes luxos deste final de século. Nos libera das filas, de lamber selos, da demora e da incerteza da chegada ou não da correspondência. Mas nossa caixa postal é pública e não é fácil protegê-la do lixo eletrônico. Fora as correntes milionárias e os convites para visitar sites eróticos, minha caixa recebeu não poucas vezes graves alertas sobre os perigos que correm minhas vísceras.
A última veio da Argentina, em espanhol. Fala de um cidadão de Buenos Aires, que foi a uma boate, bebeu, dançou e acordou nu em uma banheira. A seu lado, um telefone e um bilhete: “você está sem rins e corre risco de vida. Telefone para o nº tal.” O leitor já deve ter recebido dezenas destas mensagens. Antes vinham em inglês e a vítima fora roubada de seus órgãos ora em Nova York, ora em Sidney. Estas histórias constituem uma espécie de subgênero literário, ao qual se convencionou chamar de lendas urbanas. Se o leitor quiser conhecer uma vasta coletâneas delas, é só clicar aqui [NE: disponível no site original].
Para mim, o alerta chegou tarde. Ano passado, acordei em uma UTI, com um rim a menos. Sem bilhete nem telefone por perto, mas cercado por homens e mulheres de branco. Não bastasse a desfaçatez de me privarem de meu rim querido, me cobraram ainda cerca de doze mil dólares. No Brasil, a Máfia de branco tem mais audácia que as congêneres internacionais: retira o órgão e apresenta a conta.
Cá entre nós, eu mesmo solicitara a extração do rim. Por necessidade, pois ninguém faz isso por prazer. Piada à parte, só quem passou por tal cirurgia tem a idéia do caráter grotesco do boato. Extrair um órgão exige um pouco mais de know-how que bater uma carteira ou puxar um carro. Mas basta sentarmos numa mesa de bar e nela não faltará um cidadão “mais informado”, para nos confidenciar, com ar de mistério, que andam roubando rins nas cidades brasileiras e exportando-os para a Europa.
Mas extrair órgãos de adultos que vão a boates não chega a comover. Para certas mentalidades religiosas, pode soar até mesmo como justo castigo. Se estava numa boate é porque pecava. O escândalo surge quando as vítimas são indefesas criancinhas, particularmente se são criancinhas do Terceiro Mundo, que têm seus órgãos roubados para salvar os robustos meninos da Europa e Estados Unidos. Como em Buenos Aires, Nova York ou Sidney não se vê crianças famintas soltas pelas ruas, a acusação sobrou para nós.
O boato corre solto, com foros e detalhes de verdade. Não falta dia em que até mesmo pessoas a quem creditamos um mínimo de perspicácia venham nos dizer que sabem, de fonte segura, que em tal cidade desapareceram crianças vítimas do tráfego. A fonte segura é em geral uma tia ou vizinha, que por sua vez teve a notícia de outra fonte segura, um parente ou vizinho, é claro. Cadáver que comprove o crime, que é bom, estes nunca foram encontrados. Como foi o caso daquele famoso massacre de ianomâmis em 1993, que jamais ocorreu mas nos valeu a fama de genocidas em todo o planeta. Mas falava das criancinhas.
Enquanto o boato corre na boca de vizinhas e tias, podemos creditá-lo àquela necessidade de drama e mistério de pessoas que vivem uma vida monótona e sem grandes vôos. O problema surge quando o boato invade os meios de comunicação, onde pessoas que conversam com deus ou com anjos são entrevistados com a mesma seriedade conferida a uma autoridade pública ou pesquisador universitário. Pior ainda, quando passa para obras de ficção, que acabam tendo mais permanência no tempo que as edições de um jornal. Foi o que ocorreu no início deste ano, quando a auto-estima tupiniquim andou eriçada, pois Central do Brasil concorria ao Oscar. O filme, cuja fugaz distribuição internacional tanto excitou os ufanistas tupiniquins, mais que de orgulho devia encher-nos de vergonha. Entre um fotograma e outro, nos exibia ao mundo desenvolvido como um país onde quadrilhas de traficantes apanham, nas grandes estações de trens, crianças abandonadas para extrair-lhes fígado e rins.
Se nas capitais européias já éramos vistos como um país que praticava o tráfico de órgãos humanos, o que antes era suspeita virou certeza. A acusação data, aliás, do mesmo ano em a imprensa internacional toda divulgou o massacre que não houve, o dos ianomâmis. Em setembro de 1993, o eurodeputado Leon Schwartzenberg denunciou no Parlamento de Estrasburgo o tráfico clandestino de órgãos entre América Latina e Itália. É o que nos conta o jornalista Furio Colombo, em seu excelente Ùltimas Notícias sobre el Periodismo. O deputado apontou explicitamente o Brasil como lugar de origem das pequenas vítimas e a Itália como o mercado ou lugar de passagem dos órgãos dos meninos, sob a direção da Máfia e da Camorra.
Que Leon Schwartzenberg, médico francês, nos atribua tal pecha, isto faz parte da normalidade dos fatos. Para o francês médio, o Brasil é um país negro, dominado por uma minoria branca, e jibóias e índios passeiam pelas ruas de suas metrópoles. O que me espantou foi ler em Antes del Fin, livro-testamento de Ernesto Sábato, a reprodução da lenda. Nesta espécie de autobiografia resumida e depressiva, diz o grande escritor argentino:
“Um exemplo da desumanização à qual este sistema está nos levando é o Brasil: enquanto quarenta milhões de famintos povoam o nordeste, em São Paulo há quase um milhão de criancinhas sem lar, que roubam pelas ruas para poder comer alguma coisa, forçados a prostituir-se em sua infância, rematados por cem ou duzentos dólares, assassinados por comandos especializados, seqüestrados e mortos para vender seus órgãos aos laboratórios do mundo”.
Se até mesmo um escritor lúcido como Sábato, nosso vizinho, engoliu o boato, o leitor pode imaginar como anda nossa fama nos Estados Unidos e Europa.
Faltou Pinel na Terra Santa
Nascido e educado em um ambiente católico, acreditei em Deus em meus primeiros anos. Ocorre que o Deus que me foi vendido não era dos mais confortáveis. Pra começar, interferia em minha vida sexual e me proibia o prazer, sob ameaças de castigos eternos. Fui buscar na Bíblia onde estavam essas proibições e no Velho Testamento encontrei incesto, poligamia, haréns, concubinas. Tudo sob o olhar complacente de Jeová. No Novo, surge um deus que não resiste a duas hipóteses: ou é castrado ou é homossexual. Sem falar que uma leitura atenta da Bíblia destrói qualquer fé. Joguei fora aquele deus chato e fui tratar de minha vida. Ateu, conheço no entanto a psicologia dos crentes. Já fui um deles.
Comentei outro dia enigma que por anos me intrigou, as pretensões árabes a Jerusalém como cidade santa. Que tinha a ver Maomé com Israel? Ocorre que Maomé viajou, em uma noite, de Meca a Jerusalém, montado em uma besta alada chamada al Buraq, menor que um burro e maior que uma mula. Segundos os mulás, esta espécie de mula teria cabeça de anjo e rabo de pavão.
Até aí nada demais. Se o Deus de Israel arrasa cidades a ferro e fogo, abre mares e provoca dilúvios, por que o Deus dos árabes não poderia delegar uma de suas mulas aladas para levar, em velocidade de Boeing, seu profeta em rápido turismo a Jerusalém? Quem com Jeová fere, com Alá será ferido. O pepino é que Maomé decidiu apear da besta justo ao lado do Domo da Rocha, atrás do Muro das Lamentações. E dela subiu ao Sétimo Céu, sempre montado no Burak e guiado pelo anjo Gabriel.
Melhor escolhesse outra rocha para bolear a perna. Pois aquela, para os judeus, é a Pedra da Fundação, sobre a qual o mundo teria sido criado. Na mesma rocha, Abraão teria oferecido seu filho Isaac em sacrifício a Jeová. Com tanto deserto no Oriente Médio, dois deuses — e dos mais ciosos da própria deidade — inventaram de escolher o mesmo rochedo para suas demonstrações circenses de poder.
Ao ouvir dizer que os deuses gregos haviam morrido, Nietzsche emendou: morreram de tanto rir, ao saber que no Ocidente havia surgido um que se pretendia único. O pior é que a moda do deus único vingou, e os árabes quiseram um outro para si. Não bastasse um segundo deus exclusivo, o primeiro resolveu assumir consistência humana e foi escolher a já conturbada Israel para encarnar. O Filho de Deus nasce em Nazaré e vai morrer logo em Jerusalém, o que faz da cidade uma encruzilhada das três religiões monoteístas dominantes do século.
Não bastasse a disputa entre judeus e árabes pela geografia divina, Jerusalém criou agora um novo conflito, desta vez com os cristãos. Mês passado, os palestinos decidiram erguer uma mesquita em Nazaré, sobre o túmulo de Shehab el-Din, sobrinho de Saladino, o grande conquistador árabe. Ocorre que o túmulo do sobrinho fica justo frente à Basílica da Anunciação, onde Gabriel — o mesmo anjo que conduziu Maomé aos braços de Alá — anunciou à Virgem Maria, a las seis en punto de la tarde, que ela seria a mãe do filho de Jeová. Jerusalém autorizou a construção da mesquita. Roma reage. Não quer frente a seu templo nada que recorde o conquistador, grande matador de cristãos durante as Cruzadas. E seus sacerdotes em Israel entraram em greve, fechando as portas de seus templos.
Decididamente, os gregos conseguiam conviver melhor com seus deuses. Em terra tão eivada de sobrenatural, onde anjos anunciam partos e transportam profetas aos céus, não é de espantar que até os turistas sintam-se de repente transfigurados. Ainda mais com a mística que envolve a chegada do ano 2.000. O Centro de Saúde Mental Givat Shaul, a maior clínica psiquiátrica de Jerusalém, vem manifestando sua preocupação com o distúrbio conhecido com a Síndrome de Jerusalém. Ao se verem em lugares descritos no Velho Testamento e nos Evangelhos, muitos peregrinos passam a achar que são personagens bíblicos.
Segundo os psiquiatras, a síndrome se manifesta de três maneiras. Algumas pessoas, já mentalmente perturbadas, ao chegar a Jerusalém se convencem de que são personagens bíblicos. Outras têm visões do fim do mundo. Um terceiro tipo de paciente chega são à cidade, mas logo se sente compelido a vestir túnicas brancas e a fazer pregações. Em falta de túnica, vai lençol de hotel mesmo.
A clínica trata de cerca de 150 casos de Síndrome de Jerusalém por ano, dos quais 40 exigem internação. A desordem emocional é mais comum entre protestantes e judeus vindos dos EUA e da Europa. Dos estrangeiros internados, 60% são americanos e 35%, europeus. O restante vem da Ásia e da América Latina. É o que contam as agências de notícias.
Ex-crente, entendo esta síndrome. Que em Israel estes visionários brotem como cogumelos após a chuva, é normal. Se Deus já falou com os homens há mais de dois milênios, por que não o faria com os homens deste século? Ainda mais quando os que o procuram perambulam por sua geografia ancestral.
Quando Cristo anunciou-se como o filho de Deus, muitos outros contemporâneos seus nutriam pretensões semelhantes. Um destes iluminados portava inclusive o mesmo nome do Cristo: era Jesus, filho de Baruch. Mas o filho de Maria teve mais sorte: foi crucificado. Paulo empunhou seu cadáver e erigiu o cristianismo. Pela primeira vez na história, surgia uma religião que ostentava como logotipo um instrumento de tortura. E a cruz invadiu o Ocidente, atravessou mares e hoje polui até a baía da Guanabara. Por esses milagres que só a propaganda consegue, o logotipo sangrento tornou-se símbolo de salvação.
O Givat Shaul chegou tarde. A síndrome foi identificada em 1982. Se há dois mil anos os rabinos tivessem clínicas para receber os turistas mais exaltados, este final de dezembro seria, sem dúvida alguma, menos conturbado.
O Fim dos Tempos
Esta passagem dará a nós, cronistas e escritores em geral, pelo menos uma fugaz impressão de permanência. Nunca em minha vida tive tanta certeza de estar escrevendo para os leitores do próximo milênio. Em compensação, nós que escrevemos hoje, amanhã mesmo já seremos escritores do século passado. Ou pior, do milênio passado. Mesmo a mais modesta adega adquirirá, de repente, todo um bolor de prestígio. Aquele Pinot 99 da Miolo, por exemplo, que comprei no mês passado, amanhã mesmo terá um travo secular.
Com esta obsessão infame que tem o ser humano por números redondos, o ano todo foi pródigo em previsões apocalípticas para o 2.000. Que na verdade nem é fim de milênio, pois este só acaba ano que vem. Fim de milênio ou não, a data vem marcada pelo cristocentrismo. O ano 2.000, nestes dias, só existe para o Ocidente cristão. Judeus, chineses, árabes devem olhar com um ar no mínimo céptico para todo esse alaús em torno aos festejos da data.
O suposto apocalipse a realizar-se daqui a algumas horas tem um charme tecnológico adicional. A grande ameaça não viria mais da brutalidade arrasadora de bombas atômicas ou de hidrogênio, mas de um minúsculo detalhe na construção da rede informática que nos ampara, o bug do milênio. Distraçãozinha de nada, coisa de dois zerinhos na programação dos softwares. Os americanos, não sei se por místicos, não sei se por paranóicos, estão estocando víveres. Segundo alguns mais prudentes, o recomendável seria enfrentar a data com suficientes provisões de ouro, armas e cereais. Outros, mais sensatos, desdenhando os alertas dos profetas do pior, desde a metade do ano vêm se aprovisionando de champanhes.
A imprensa tupiniquim chegou a dar suplementos especiais sobre o bug. Alguns chegaram ao detalhismo de nos confortar, assegurando que as torradeiras e fornos não entraram em pane, como se alguém estivesse preocupado com torradas em meio aos festejos. No fundo desta preocupação brasileira com o bug há uma mal disfarçada manifestação de ufanismo: nós somos pobres e remendados, mas também temos problemas de Primeiro Mundo.
Não poucos espíritos débeis ou mais indefesos ante a publicidade chegaram a preparar-se para o fim do mundo. Pura balela. Apocalipses sempre são precedidos por sinais. Fique atento. Se você...
• começa a não lembrar mais onde guardou pequenos objetos
• vai sair e não acha a chave da porta
• vai cortar as unhas e nota que os pés, nos últimos anos, estão ficando cada vez mais longe
• monta numa bicicleta e tem saudades daquelas antigas, muito mais leves
• vai nadar numa piscina e descobre que as águas hoje são mais pesadas que as águas do rio de sua infância. (Deve ser o cloro, não é?)
• ainda lambe selos para mandar notícias a um amigo distante
• não tem e-mail no cartão de visitas
• nem tem amigos que tenham e-mail
• aliás, não tem a mínima idéia do que seja um e-mail
• acha que Winchester é bom para matar índios
• descobre-se repetindo cada vez mais: “estou com a palavra na ponta da língua”
• prefere um happy hour com amigos de bar a um jantar íntimo com aquela colega de trabalho
• pára o carro no semáforo e esquece para onde ia
• lembra da propaganda do Rhum Creosotado nos bondes
• lembra dos bondes
• acha que a Marlene Dietrich tem voz de cama
• suspira quando ouve falar da Greta
• acha que cinema, hoje, é coisa de jovens
• e literatura é perda de tempo
• passa a descobrir insuspeitas virtudes em óperas
• acha que os libretistas insistem demais em mulheres e vinho
• julga humor barato piadinhas sobre o Viagra
• conhece mais interiores de hospitais que de motéis
• tem vontade de mandar flores para aquelas meninas gentis dos laboratórios
• tem tratamento VIP na farmácia da esquina
• vai a uma feira de antigüidades e se surpreende ao encontrar objetos de sua adolescência
• olha com nostalgia para aqueles exemplares de O Cruzeiro e do Reader’s Digest
• teve sonhos eróticos com a Brigitte Bardot
• lembra da Brigitte
• chama Sua Santidade de “aquele rapaz”Se você se enquadra neste perfil, beba e embriague-se, caríssimo. Antes que seja tarde. Desta vez não é sensacionalismo da mídia. O fim dos tempos está de fato próximo.
***
eBooksBrasil
www.eBooksBrasil.org
Junho — 2000
© 2000-2006 Janer Cristaldo
cristal@altavista.net
Proibido todo e qualquer uso comercial.
Se você pagou por esse livro
VOCÊ FOI ROUBADO!
Você tem este e muitos outros títulos
GRÁTIS
direto na fonte:
eBooksBrasil.org
Edições em pdf e eBookLibris
eBooksBrasil.org
__________________
Abril 2006
eBookLibris
© 2006 eBooksBrasil.org